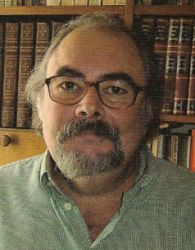|
||||||
REVISTA TRIPLOV
|
||||||
|
Capítulo 1
Le Havre: um
porto de névoa,
No Parque Mont Souris o jardineiro explicou a Lucien que o marronnier é originário do Cáucaso. Generosamente a árvore projetava seus galhos sobre o passeio, galhos repletos de folhas e flores alvas com um desenvolvido pistilo. Secundavaa um freixo seco, ainda imerso em sua existência invernal. |
||||||
| DIREÇÃO | ||||||
| Maria Estela Guedes | ||||||
| Índice de Autores | ||||||
| Série Anterior | ||||||
| Nova Série | Página Principal | ||||||
| SÍTIOS ALIADOS | ||||||
| TriploII - Blog do TriploV | ||||||
| TriploV | ||||||
| Agulha Hispânica | ||||||
| Arditura | ||||||
| Bule, O | ||||||
| Contrário do Tempo, O | ||||||
| Domador de Sonhos | ||||||
| Jornal de Poesia | ||||||
|
||||||
|
Vislumbrou através da copa do castanheiro o prédio da Maison des ÉtatsUnis, do outro lado do Boulevard Jourdan, que formava um u que se dissolvia e tornava a reaparecer por entre os galhos. Abaixando a vista, Lucien deparava o alambrado da Cité Universitaire que se interrompia para dar lugar às escadarias sob o pórtico da entrada principal do campus. Lucien procurou novamente a presença do jardineiro, mas não o encontrou mais. Deu as costas para a avenida e tomou uma aleia lateral do parque. Pensou nas estações interiores de cada espécie e observou como cada uma reagia de modo diverso ao fim do inverno; como os plátanos, quase nus, sua seiva acordando lentamente do letargo. Deixou a aleia e cortou o parque em diagonal, na direção da Rue de L’Amiral Mouchez. No meio do caminho, encontrou dois exemplares de cerejeira japonesa, já carregados com suas enormes flores rosicler, num esbanjamento de vida e de alegria que contrastava com a severidade dos olmos que, próximos ao pequeno e quase delicado coreto do parque, espreitavam seu telhado em forma de cone. Castanheiros, freixos, plátanos, cerejeiras japonesas, olmos. Cinco diversas manifestações sobre a passagem do tempo. Lucien contornou o lago, onde galinhas d’água e patos incursionavam pela lâmina de água tecendo rastros prateados e retornou na direção do Boulevard Jourdan. Chegou novamente ao pé do castanheiro. Postandose abaixo da copa, podia agora perceber que uma intensa luminosidade se projetava sobre a árvore, que decompunha, afiava e direcionava os raios de sol; era como se suas folhas estivessem mergulhadas em uma borbulhante substância leitosa com tons amarelos e vermelhos, formando espirais, redemoinhos e crispações alaranjadas que pareciam saltar na direção de seus olhos. Tomou a direção da porta de saída mais próxima e alcançou a calçada, dandose conta, agora sim, de que dera uma longa volta ao redor do parque, e que voltara àquele mesmo ponto de partida como se estivesse fadado a cumprir alguma espécie de ritual inadiável que nem sequer figurava em seu consciente. À sua frente, outra vez, o prédio da Maison des ÉtatsUnis, formando um u, agora nítido, que abrigava bicicletas, um pequeno pátio e as escadarias frontais. Mais acima, os arcos da entrada principal do campus internacional, que deixavam entrever, ao fundo, erguendo‑se do piso de cerâmica, canteiros de buchinhos talhados a pique. Assemelhavam‑se a ziguezagueantes muralhas anãs, quando vistos a uma certa distância. Como se precisasse ganhar tempo para se decidir, Lucien retirou do bolso um caderno de notas, no interior do qual encontrou uma folha solta, dobrada, quadriculada, que dizia: dia 15 de abril: 10h30 – Paris/Lisieux; chegada às 12h36. 12h46 – Lisieux/Deauville, chegada às 13h13; dia seguinte, 16 de abril: 8h24 – Deauville/Lisieux, chegada às 8h49. 8h57 – Lisieux/Paris, chegada às 10h50. 12h34, saída de Paris a Le Havre, chegada às 14h40. A princípio, esse roteiro parecia mais seguro que o outro, que aventara, e que passaria por Deauville/Lisieux; Lisieux/Rouen e finalmente Rouen/Le Havre. É que este último, embora não o obrigasse a voltar a Paris, fazendo‑o se desviar apenas até Rouen, forçaria Lucien a correr para alcançar sua última conexão. Além do mais, Lucien nunca estivera na Estação de Rouen, e agastava‑o ter de correr por uma gare que não conhecia. De todas as alternativas de que dispunha, e já que Lucien pretendia de qualquer maneira permanecer algumas horas que fosse em Deauville, o mais confortável e inteligente roteiro era mesmo seguir para lá por Lisieux, no dia 15 de abril, continuando o trajeto, no dia seguinte, a partir dali, de ônibus até Le Havre, passando por Honfleur. Além da comodidade, o percurso de ônibus pelas estradas vicinais entre Deauville e o porto Le Havre era mais convidativo do que o trajeto pela via férrea – e Lucien não teria que voltar a Paris, nem mesmo retroceder até Rouen. Mais tarde, Lucien descobriria que estavam corretas suas suposições – e quando passasse por Honfleur, com suas pequenas casas e albergues sólidos e convidativos, à beira dos penhascos, sentir‑se‑ia ao mesmo tempo enternecido e exultante, lembrando‑se de que aquele vilarejo, com sua orla construída a pique e entalhada pela força persistente do vento, abrigara os pincéis de Monet, Pissarro, Seurat. Lucien dobrou novamente o papel quadriculado, fazendo a folha deslizar para o interior do caderno de notas. Seus dedos finos e sua palma da mão esbranquiçada se fecharam sobre o pequeno caderno, que desapareceu no bolso externo do paletó. Atravessou o Boulevard Jourdan, sentindo nas narinas um odor pesado de gases que furgões, camionetas e automóveis despejavam no ar. Caminhou em direção ao edifício de convivência internacional, entrou pela porta lateral direita, que leva aos refeitórios, e tomou um lugar na fila que leva ao guichê. À sua frente, a volumosa cabeça de um marroquino fincada sobre uns ombros caídos. Impaciente, o jovem estudante vibrava o tacão da bota sobre o piso. O ruído percutia nos ouvidos de Lucien, que girou o corpo para a esquerda, procurando, na distância em que se encontrava, decifrar o cardápio do dia, pregado à direita e à esquerda dos refeitórios contíguos. Subitamente o marroquino encara Lucien nos olhos e para de repicar o chão. – Tem cigarro? – ele pergunta com viva naturalidade. A atitude do estudante interrompeu a concentração de Lucien, que buscava refazer uma antiga sintonia com aquele lugar, o qual frequentara anos atrás. A franca espontaneidade do marroquino pareceu‑lhe uma espécie de variante do comportamento agressivo demonstrado instantes atrás ao repinicar o chão do hall. Uma infantil necessidade de reafirmação social, ao lado de uma até certo ponto ingênua imprevidência, refletiu Lucien, poderiam sem dúvida explicar aquele gesto do marroquino. Ele pensou ainda muitas outras coisas, ocupando sua mente de modo a evitar que a pergunta do jovem provocasse nele uma atitude explosiva. Não obstante, o jovem voltou à carga, falando um francês que sem grande sucesso parecia querer perseguir o sotaque parisiense e o dialeto de sua faixa etária, e recolocou a pergunta, lamentando que se esquecera de comprar cigarros quando passou pela cafeteria. – Não, não tenho nenhum – Lucien respondeu, sem tirar os olhos do cardápio. Às suas costas, dois alemães conversavam com os ombros colados um ao outro, as mãos esquecidas nos bolsos. A fila alongava‑se e engrossava rapidamente, Lucien sentiu‑se comprimido e estrangeiro em meio a tipos aparentemente desempregados, vadios, estudantes e gente da própria Cité Universitaire. Havia uma enorme distância entre eles e Lucien, a começar pela idade, e a terminar pela higiene pessoal, que em Lucien era uma marca quase obsessiva desde os tempos em que, também estudante, trabalhara por alguns meses naquele imundo bistrot da Rue Mabillon. E, embora se sentisse atraído pelo viver sem compromissos ou horários, acreditava que não seria capaz de abandonar inteiramente a rotina. A fila avançava e Lucien ainda não conseguira decifrar o menu. O vulto policialesco e agigantado da mulher que vendia os vales do refeitório crescia atrás das barras douradas do guichê, com seu ar desconfiado e rude, e Lucien ainda não se decidira se almoçaria no refeitório da esquerda ou da direita. Seria, provavelmente, a última vez em que comprava uma refeição ali, já que tudo o que o fizera visitar o campus com regularidade outrora já não estava mais lá. Toda aquela manhã luminosa, de fato, não passara de um nostálgico e dolorido estratagema de visita ao passado através da recuperação de velhos hábitos, muito embora Lucien facilmente percebesse que de nada lhe adiantavam os antigos lugares quando um enorme fosso se havia formado entre sua vida de agora e aquela dos tempos de Su Ian. Lucien recebeu o bilhete passager, modalidade utilizada por
frequentadores não residentes no campus universitário. A mulher do
guichê entregou‑lhe o troco como se Lucien tivesse acabado de assaltá‑la
e aquele fosse o último dinheiro de que ela dispunha. Com o troco e o
bilhete entre os dedos, Lucien se afastou da fila, dirigindo‑se para o
local onde estava exposto o cardápio dos refeitórios. O outro salão, cujas janelas davam para o jardim dos arcos, oferecia uma miserável salade de concombre de entrada, e a escolher: thon sauce américaine ou pavé de rumsteack avec de ris, finalizando com um medíocre ananas melba, que poderia ser inteligentemente preterido, imediatamente pensou Lucien, em nome de uma cascate au citron. Era enorme o risco de provar um pato enjoativo e passado demais, mas Lucien resolveu arriscar, assim optando pelo refeitório que descortinava o verde gramado do campus. Deslizou a bandeja ao longo do balcão de serviço. Com afetado pudor alcançou com a ponta dos dedos o prato de canard e afetadamente, ainda, impediu que a servente despejasse sobre a temível escolha uma nova colherada de um purê moribundamente alvar. Serviu‑se de uma pequena porção de salada verde e se decidiu francamente por uma generosa fatia de Pont L’Evêque, queijo que lhe pareceu uma miragem gastronômica uma vez que não constava do cardápio fixado à entrada. Arrematou sem pestanejar uma garrafa de Gamais, haja vista que as outras duas alternativas: um Gaillac e um Côte du Rhône ordinário – não o seduziam de modo algum, o primeiro por sua evidente impropriedade; o segundo por sua áspera palatabilidade. Sob tais condições, o rótulo daquela bebida ligeira, esportiva e descompromissada chegava a ser quase atraente. Lucien pagou a garrafa de Gamais e alçou a bandeja, dirigindo‑se até onde sarcofagicamente se amontavam, em cestas de vime, pães cortados em pedaços desiguais. A pesquisa arqueológica próxima da superfície era lamentável e Lucien somente encontrou pães com o miolo cinzento, a casca ressecada e sem o saudável brilho do pão fresco. Enfiou o antebraço até o fundo do cesto, revirando seu conteúdo, até que a metade de uma bisnaga é finalmente desenterrada. Escolheu um lugar em uma das mesas, próximo à janela, sentou‑se e alçou até a altura dos olhos o arqueológico pedaço de pão, examinando‑o com semblante desabonador. Em seguida serviu‑se de vinho, prelibando o inocente toque de veludo do Gamais; sorveu o primeiro gole e notou seu aroma quase inconsistente e seu retrogosto juvenil. Observa agora o copo e através da mortiça refração da luminosidade que perpassa o vidro percebe uma coloração indefinida, levemente arroxeada, que ganha brilho e uma profundidade ligeiramente alucinatória quando Lucien inclina a borda do copo em sua direção, de modo a examinar a textura e o corpo da bebida, sem a interferência do recipiente. Lucien enche novamente seu copo, dando agora uma forte tragada no líquido, em busca de uma resposta mais ativa da bebida. Com falsa segurança, deixa o copo de vinho sobre a bandeja e gira a cabeça em movimento panorâmico. Dezenas de rostos ao seu redor crispam‑se à medida que braços nervosos executam a tarefa de levar a comida do prato à boca. Manoplas atacam os bocados de pão; facas, garfos e copos orquestram magistralmente uma espécie de ópera de desterrados comensais. Enquanto tangem, retinem e esgrimam com metais e vidros, com variado nível de impetuosidade e destreza, Lucien passeia os olhos pelo salão. Depara rostos, esgares, olhos tristes, imobilizados por longínqua memória, por longínquos e saudosos afagos familiares. Não o agrada o que pressente no ar, muito menos o que vê. Paris assoma quase impiedosa com seus estrangeiros mais modestos. Nisso ela mudou muito pouco, pensa Lucien. A cidade do gosto, do fausto e da beleza mostra sua impaciência de mundana. Para os desprivilegiados, o céu da cidade é mais baixo, as vitrines ardem nos olhos, ofuscam, intimidam. Ele deixa tais considerações de lado, e pela primeira vez analisa a composição de formas e cores que tem sobre a bandeja. O contraste entre o panorâmico e o detalhe sempre o entusiasmou, e Lucien se sente por vezes como um cineasta sem sua câmera, andando pelas ruas, em busca de atores e cenários ao acaso; filtrando e capturando aqui e ali um enquadramento, uma surpresa da luz. Nesse sentido, a bandeja inebria‑o. Antes de experimentar o pato, porém, Lucien se ergue e se encaminha até a mesa de temperos. Apoia o prato sobre o tampo e se serve de mostarda. Um campo dourado e perfumado brota de sua memória. De uma janela de um trem imaginário descortina os campos floridos de mostarda de Dijon. Os pequenos capítulos das flores vibram sob os revérberos da luz, enlouquecem à passagem do trem, como se a locomotiva abrisse à força um caminho por entre os pedúnculos delicados da mostarda. Suas hastes infletem para trás e para frente, para trás e para frente, sob o deslocamento da massa de ar. Já de volta a seu posto, Lucien come sem pressa, examina o grande
gramado interno, àquela hora vazio. O lugar lembra a Lucien um campo de
golfe inglês, não o peripatético reduto de suas incursões no debate
filosófico e político que ali tiveram lugar outrora. Mirando esse
panorama imóvel, Lucien não consegue nem mesmo extrair sua solitária
figura sob a neve daquele Natal em que Su Ian estivera ausente. Estala a língua e sorri, deslizando a seguir a polpa áspera superior da língua entre as gengivas e o lábio inferior. Ergue depois a ponta avermelhada da língua, deslizando‑a pelo céu da boca, como se buscasse aspirar algum recôndito sabor mal‑explorado. Na parte superior da boca repete a operação que realizara na arcada inferior. Volta a passar uma generosa porção de mostarda sobre o bocado de pão, segurando‑o com a extremidade dos dedos de modo que o miolo embebido de mostarda toque de leve a superfície castanho‑clara do molho do canard. Laivos de mostarda marcam agora a cremosa e brilhante gelatina que se forma ao redor da ilha de purê. Lucien leva o pão tingido de castanho e ouro à boca, alcança a faca com a mão direita e retém com o garfo inclinado e pressionado pelo indicador esquerdo uma fatia de carne, abordando‑a pelo flanco com a faca serrilhada. Separa o pedaço cortado com o garfo, acomodando entre o naco e o cabo uma parede de purê. Cuidadosamente o garfo ascende até sua boca, enquanto o antebraço e o pulso de Lucien fazem o garfo girar 45 graus, e encontrar os lábios semiabertos. Enquanto mastiga demoradamente o alimento, Lucien examina o purê que restara sobre o prato. Paisagem lunar movente, estranho Mont‑Blanc em trágico degelo, dissolvendo‑se em planura lacustre alaranjada e castanha, como um iceberg plantado sobre lavas fumegantes. A carne do pato sugere areias de uma praia, tendo à frente um mar de sargaços e óleo densos. Lucien traga mais um gole do Gamais e seus olhos mergulham na inconsciência súbita daquela paisagem gastronômica que se formou em seu prato, e que invadiu sua imaginação. A paisagem evoca cores outonais solapando volumes glaciais antes estáticos e eternos, estimulando em Lucien um incômodo e opressivo sentimento de solitude. Ele ataca mais uma porção da praia de acastanhada mousse, em que se transformou o canard. Incontinenti reduz o volume glacial da paisagem sobre a bandeja, cavando com a ponta do garfo uma pequena cova no purê, que logo é escamoteada quando então a estrutura finalmente parece querer ceder, afundar e se fundir ao magma que cerca o iceberg. Lucien tira os olhos de seu exercício cenográfico e se apercebe de que à frente se encontra uma jovem oriental, provavelmente coreana, sentada ao lado do que parece ser seu companheiro, que por seu turno gesticula muito. A jovem tem a cabeça apoiada de leve sobre o ombro esquerdo do rapaz, de forma que a cada impetuosa contração de seu expressivo bíceps sua cabeça feminina perde por instantes o ponto de apoio. Sem se incomodar aparentemente com os modos do rapaz, a coreana mantém o pescoço dobrado, a cabeça inclinada, aguardando até que um novo espasmo muscular do namorado viesse favorecer o contato entre o ombro dele e o queixo e o meio‑rosto dela. Tal fato não ocorreu, e a vibrante gesticulação do coreano, contrastada com a ilimitada solicitude de sua companheira, ou ambas as coisas em separado, acabaram por exasperar Lucien. Era inevitável que a jovem coreana sentada à frente, no amplo restaurante universitário, lembrasse a Lucien, de pronto, o rosto oval e neutro de Su Ian. Era também inevitável que a paisagem gastronômica em seu prato, que há pouco o fizera recordar‑se do Mont‑Blanc, evocasse agora aqueles dias em St. Gervais‑les‑Bains, estação de esqui plantada numa das faldas do maciço do qual o Mont‑Blanc se projeta em seus majestosos 4.807 metros de imensos paredões de neve. Ali, dois anos atrás, o etéreo branco da neve da Savoie recortara o
rosto marmóreo e impassível de Su, um pouco encoberto por um capuz
forrado de lã, por sinal castanha, que formava uma crespa moldura
penugenta e adolescente ao redor do esfíngico rosto de olhos rasgados e
incisivos, de narinas minúsculas e pomos salientes, estupendamente
harmonizados com a linha da testa, do nariz e do queixo. E, para além
daquele rosto, um pescoço afilado e despudoradamente alvo, plantado
ereto como um aspargo, envolto por uma gola alta e de cor vulcânica. E
para além dele o corpo delgado de Su Ian, envolto em lãs e depositado no
branco leito de um patamar em Le Betex; e, para além de tudo aquilo, o
bovino e desarmado olhar de Lucien. E para além de Lucien, e de sua
bovina felicidade, novamente a montanha de neve, franqueando sua mais
íngreme escarpa gelada ao olhar do francês. E mais adiante, ainda, para
além da notável engenharia dos Alpes, novamente Su Ian, planta pronta
para ser tocada entre flocos de neve, agora com seus braços abertos: E ao fundo, e em todos os lugares, o Mont‑Blanc, e dentro e fora e em todos os lugares, Su Ian. Su Ian e a coreana à frente, o purê e o Mont‑Blanc, o refeitório e suas colunas e suas janelas até o alto, paredões íngremes, por onde entra a luz. A coreana acompanhada do namorado se levanta e com os braços arqueados empunha a bandeja para fora da mesa. O purê no prato de Lucien funde‑se ao molho, a neve desaparece, toma seu lugar um sopro de vozes, um tilintar de copos, uma orquestração de metais, enquanto vapores da cozinha espiralam e um cheiro de repolho, creolina e um ranço de ave e de carnes cozidas toma conta do ar, impregnando tudo, infiltrando‑se corrosivamente na memória, sob as mesas e nas passagens. Lucien solta o garfo na bandeja e a seguir move lentamente a base do copo, girando‑a como se buscasse a sintonia de uma emissora de rádio. Afunda o polegar da mão esquerda no miolo de um bocado de pão, e a seguir comprime fortemente a casca enrijecida do pedaço de baguette com o indicador, segurando com a outra mão o restante da fatia, em busca de apoio. Um movimento horizontal do pulso esquerdo completa a tarefa. Depois, corta com a mão direita uma fatia de Pont L’Evêque. E com o auxílio do polegar e da lâmina transporta o pedaço de queijo por sobre a bandeja, em um movimento atento e firme como o de uma grua deslizando, acomodando‑o em seguida sobre o pedaço de pão que sustinha na ponta dos dedos da outra mão. Após se servir da sobremesa, Lucien dispara seu ataque na direção do Gamais, que neutraliza a textura emoliente e pouco refinada do queijo. Gira a cabeça na direção dos janelões do refeitório e encontra o gramado vazio como antes. Pronuncia o nome de Su Ian com o sotaque que lhe pareceu apropriado para fazer com que aquele nome, dito em voz alta, tivesse o poder evocativo que Lucien buscava. A luz mortiça sobre o gramado, recalcitrante realidade de agora, resiste à evocação de Su Ian. Ela continua deitada sobre a neve, em um patamar do Le Betex, pedindo a Lucien que a abrace. Contudo agora, suas feições não são nítidas, e a voz de Su Ian vibra não mais colada aos ouvidos de Lucien, mas teatralmente distante. Ele fixa o olhar sobre o pano verde do campus, e finalmente consegue plantar sobre o gramado a figura da oriental em uma tarde ensolarada, quando se despediram um do outro, aparentemente como sempre o faziam. Algo sucedera, no entanto, que tornava aquela despedida especial. O que teria havido ali, que não se repetiria mais? Lucien não sabia, pois em seu convívio com Su Ian era frequente a impressão, ao se despedirem, de que o liame que os unia se esgarçara e se fendera. Sente agora dificuldade de abandonar a geografia da Cité Universitaire e alcançar novamente o inverno nos Alpes, rever o rosto de Su Ian, ouvir bem de perto sua voz. O verde do gramado é uma cortina que esconde o passado e o futuro, e que caprichosamente consente em revelar a Lucien imagens pouco significativas ou confusas, que Lucien preferiria ver substituídas por outras que desafiassem sua sensibilidade. Lucien se serve de mais uma fatia de queijo e sorve nova golada de vinho. Definitivamente não se sente capaz de erguer o tapete verde que recobre tudo, e extrair da memória, debaixo das raízes da grama pujante, a razão secreta que movia Su Ian, sempre, para fora do eixo de sua vida, e que naquela vez quase se manifestara por intermédio de palavras. Estudantes atravessam o gramado, em busca de seus alojamentos. Apesar da primavera, algumas folhas cruzam o ar, vítimas de uma nevasca tardia de abril. Abaixando o tronco, Lucien consegue ver, através do requadro da janela, uma nesga de céu pérola. Ao descer os olhos, subitamente Lucien vislumbra Su Ian, sentada sobre o parapeito da janela, as pernas cruzadas contra os seios. Um novo esforço de Lucien e a pérola de céu é a pérola da neve ao redor da face de Su, que pede a ele que a abrace, mas para tanto Lucien deve deixar de ser um mero espectador. Deve sair de si, projetar‑se sobre a miragem da neve, debruçar‑se sobre aquele corpo oriental, colocar seus braços ao redor. Lucien no entanto se mantém onde está e o corpo de Su Ian, com os braços abertos, deitado sobre o campo de neve, está estático e imóvel, quase artificial como em uma fotografia. Novamente Lucien vê sobre o céu pérola um retábulo de janela e nele, sentada, pernas recolhidas contra o seio, Su Ian, e ao fundo, ainda, o Mont‑Blanc. Pérola. Abaixo o vilarejo de St. Gervais‑les‑Bains, e em um ponto dele o balcão da taberna do barbudo Wolf e da linfática Adèle e sobre o balcão uma flute de vin pétillant e, ao redor da taberna de Wolf e Adèle, casas e lojas e ruas com marcas castanho‑escuras, como o molho que restou sobre o prato de canard, e ao longe pinheiros, castanheiros, faux ébéniers, e sobre a vila o platô de Le Betex, e um pequeno hotel com janelas para o Mont‑Blanc, e um retábulo da janela do hotel de poucos quartos. Sobre o parapeito, Su Ian se encontra enquistada no silêncio, suas mãos cruzadas sobre os joelhos, os joelhos cruzados contra o peito, os cabelos atirados para o lado de fora da janela, de modo que seu rosto se constrói na mente de Lucien ampliado e próximo. Um rosto maior que o maciço do Mont‑Blanc e seu majestoso cenário. E ela não encara a montanha, tampouco Lucien. Seu olhar é um projétil que não ultrapassa o enquadramento da diminuta janela em que se alojou. Lança‑se contra os batentes, vai e vem, estanca neutralmente sobre a película gasta da madeira do velho hotel, estiola no mistério. Su Ian está sentada sobre a borda da janela no pequeno hotel em Le Betex, suas pernas recolhidas contra o peito, tamborilando com as unhas pintadas de vermelho o vidro da janela‑guilhotina. Lucien recorda‑se de que os pés de Su Ian eram feios, moldados à pressa por um pasteleiro aprendiz e desengonçado, que depreciava a aparência, embora valorizasse o sabor e a consistência da massa. A carne do corpo inteiro de Su Ian, a exemplo de seus pés, cedia à pressão dos dedos até um passo aquém da flacidez. Uma tensão convidativa se impunha ao dedo invasor, estabelecendo uma alquímica correlação entre a suavidade da pele, a compressão dos dedos e a resposta física; agentes magnéticos entravam em ação para que todo o corpo, inclusive o olhar de Su Ian, se mantivesse sobre a linha divisória entre o estranhamento frígido e inabalável e o acolhimento dócil e demoníaco; uma espécie de inércia de combatente, que sabe explorar o ímpeto do opositor e transformar o impulso do atacante em arma de defesa. Logo em seguida, eles estavam abraçados na neve, no Mont Joli, e Su Ian acolhera Lucien em seu burnous branco, de modo que os dois quase que desapareciam, confundidos com o branco da neve ao redor. – É o final dos tempos – lembra Lucien de haver ouvido Su Ian dizer‑lhe; e desta vez ela sorria sem um enigma. – Você acha possível que tudo isto em volta de nós possa acabar de uma hora para outra? – recordara Lucien de haver objetado em tom teatral. Sua pergunta ecoara no espaço desabitado em volta. Lucien segurara as abas do burnous de Su Ian, sacudindo‑a, como se tivesse tomado de pânico. Depois, ainda experimentando o frágil script que imaginara, Lucien se lembra de haver acrescentado: – Veja, Su, os pinheiros imóveis e o fumo que sai das chaminés das casas ao longe, ouça o ruído das águas lavando o cascalho e as pedras dos rios. Como é concebível agora, neste exato momento, admitir que tudo o que aqui se encontra termine? Não parece que tudo está em seu mais exato lugar? Lucien abrira os braços, num gesto que açambarcava tudo e Su Ian sorrira sem conviccão. A seguir, recolheu os braços. Lucien repetiu a indagação que fizera, agora mais diretamente, o dedo em riste sob a luva: – Como você pode crer que tudo isso termine, Su? É preciso estar repleto de pessimismo. O corpo esguio de Su então se ergueu sobre os cotovelos. Su Ian deteve o olhar na ponteira de suas botas. Depois, displicentemente, sem se preocupar com aquela débil arma apontada contra ela como salvação de um argumento, voltou‑se na direção de um grande galpão de madeira com freixos e pinheiros ao redor, com aparência de absoluto abandono. Depois, ainda, moveu o queixo para a esquerda, até deparar um telhado avermelhado, de onde subia uma fumaça branca. Lucien retraiu o dedo e o antebraço, percebendo que Su Ian não estava mais no jogo, e que seu teatral dedo em riste apontava para o vazio. Lucien cedeu o corpo, atirou‑se de costas sobre a neve, colocou as mãos atrás da nuca, fechou os olhos e ouviu nitidamente o gorgolejo de água que detectara há pouco. Transcorreu algum tempo até que Lucien se pusesse de pé. Su Ian cruzara as abas do casaco sobre o ventre, permanecendo imóvel sobre a cobertura de neve. Adiante de Su Ian, algumas dezenas de metros encosta abaixo, pinheiros volteavam uma tulha agregada a uma cocheira. Um filete de água escura abrira uma canaleta na espessa neve e escavava o gelo pela borda, correndo celeremente sobre o leito. As águas, pensara Lucien, pareciam ser o único elemento vivo na estação hibernal. Lembra‑se também de que baixou os olhos na direção de Su Ian, e os olhos dela não estavam voltados para o mundo imediato. Encontrou a bandeja de comida, o último bocado de queijo, a garrafa quase no fim. O imenso salão do refeitório estava praticamente vazio. Da cozinha e da copa vinham frases incompreensíveis, bater de bandejas, ruído de pratos; uma serviçal erguia as cadeiras sobre o tampo das mesas, avançando metodicamente na direção de Lucien. Concentrou sua mente naquele quadrilátero de madeira no qual o corpo inteiro de Su Ian se desenhara. À frente, o Mont‑Blanc. A leste o túnel do Grand Saint‑Bernard. Ao sul, Curmayeur, mas antes dele, Entrèves. A oeste, Saint‑Gervais e, mais adiante, Megève. A sudoeste, Notre‑Dame de Bellecombe, Beaufort; Albertville e Chambéry; e, subindo sempre, Annecy, Genève e o lago Léman. Ele via agora, implantado sobre o quadrilátero de madeira da janela do pequeno hotel de Le Betex, um mapa regional que, no entanto, não encobria o vulto de Su Ian com os olhos fixos nos batentes da janela. Assim é que os olhos de Su Ian estavam à altura do lago Léman; seus ombros à altura de Megève; seus quadris plantavam‑se em Grenoble, de modo que suas longas pernas cruzavam Albertville e os joelhos infletiam em Beaufort. As canelas de Su Ian passavam pelo burgo de St. Maurice, Val D’Isère e o monte Cenis – e seus calcanhares em algum ponto antes de alcançar Almese, talvez no caminho de Viù. Su Ian volta‑se para Lucien e diz: – Está próximo. O Japão será a nova Atlântida. Você e eu seremos pássaros, voando sobre os Alpes, será o encontro entre Ocidente e Oriente, você e eu. O Japão mergulhará sob as águas. Veremos as ondas enormes que se formarão quando estivermos voando bem alto. Um filete dourado saía da ponta dos dedos de Su Ian, executava uma
parábola sobre o cume de um plátano e desaparecia atrás daqueles galhos
de nudez absoluta. Lucien fecha os olhos no canto da mesa do restaurante universitário, e
os olhos de Lucien se fecham no quarto do pequeno hotel em Le Betex. Su
Ian está dizendo algo com aquela esfera luminosa, mas ele não consegue
entender. Agora está ouvindo a voz de Su Ian, uma voz moldada de acordo
com o compasso ditado pela esfera colorida: vermelho, ao sol; azul, sob
o sonho; branco, amanhã; ouro, viagem. Lucien vê o rosto de Lucien comprimido entre os cotovelos. As mãos se escondem atrás da nuca. Lucien tem as pernas esticadas e calça uma botina de couro preta, de cujo salto desponta uma estalactite cinzenta. Encostando o queixo no peito semiencoberto por um cachecol castanho e vermelho, Lucien pode ver os pés, a biqueira de couro das botas. Mas não se dá conta da estalactite cinzenta. – Estou com fome – diz Su Ian, ainda sentada sobre o parapeito da janela, agora com um cálice de Calvados entre os dedos. – Nada de Atlântida, Su. Nada de bancarmos os pássaros – diz Lucien em sua cadeira no refeitório agora inteiramente vazio. Interpondo‑se à sua voz de agora, Lucien rememora sua própria voz com a empostação de dois anos atrás: – Vamos telefonar para Andrés e dizer que não vamos encontrá‑lo na Suíça – dizia a voz de Lucien como um eco na cabeça de Lucien. O companheiro de Su Ian, depois de haver pronunciado a frase, inclinara sua cabeça para o lado esquerdo, na direção do pequeno lavabo do quarto. Recorda‑se ainda de que antes de formular o desejo de não mais ir ao encontro de Andrés, preferindo a solidão do albergue em Le Betex, entremeada por uma ou outra eventual descida até Saint‑Gervais para um brandy com Wolf e Adèle, Lucien experimentara como era penoso, muitas vezes, o ter de ingerir o discurso frio de Su, com seu verbo escasso e pouco elucidativo, em meio ao contraste da embriaguez branca e lunar daquela região. Após alguns instantes em que a ideia de uma catástrofe a oriente chegou a minar seu ocasional envolvimento com as coisas da natureza, Lucien voltou‑se para Su, com o objetivo de encerrar o assunto: – Nada de mortes, Su, nada de Atlântidas, de pássaros apocalípticos, ou sei lá mais o quê. É a humanidade que imola seu futuro, não um destino impermeável à ação humana. Se quisermos, todos, evitar a catástrofe, evitaremos. Lucien havia gostado da frase que construíra, até porque conseguira imitar quase perfeitamente um oriental falando, lentamente, inexpressivamente, quase como se tudo fosse sucumbir sob um lento borbulhar de sílabas, e isso desconcertava Su Ian. Depois então, e já que Su fizera um grande esforço para fingir que não escutara absolutamente nada do que Lucien dissera, ele emendou, ainda fazendo uso da modulação oriental: – Preciso de mais tempo aqui. Vamos telefonar para Andrés e dizer que não vamos mais encontrá‑lo. Perdi inteiramente a vontade de esquiar. Não satisfeito com a forma como definira sua posição, voltou à carga: – A neve dos Alpes foi feita para a contemplação, mesmo que mórbida. Apenas para isso. Decididamente não quero mais esquiar. – Andrés nos espera, Lucien – lembrou Su. – Para esquiar. Apenas para esquiar, e isso é muito pouco – retrucou ele. – Você era um bom esquiador – respondeu Su Ian, retirando a perna
direita do esquadro da janela e apoiando a sola do pé no chão, enquanto
massageava a coxa. – Andrés me disse. Su Ian está sentada no interior do esquadro da janela, imóvel, sem luz.
Sobre seu corpo plasmam‑se estradas e nomes de cidades. Fronteiras
cruzam seu copo. Os bicos dos seios, sob a roupa, róseos e perfumados,
não coincidem perfeitamente com nenhuma expressiva cidade no mapa que
de memória Lucien desenha agora, sobre uma das colunas que sustentam o
teto em arcos do restaurante universitário. Lucien concentra‑se em Su Ian. Ela aparece agora de corpo inteiro, recostada na pilastra central do refeitório. O braço esquerdo apoiado sobre o direito, ambos sobre o ventre; a perna direita cruzada sobre a perna esquerda. Su Ian veste uma calça de lã grossa afunilada nos tornozelos e com amplos bolsos laterais. Traz os cabelos sobre os ombros e tem uma fita branca acima da testa. Seu pai, que era chinês, de Santai, além de dar a ela o nome, deu‑lhe aquele porte e, muito provavelmente ainda, aquele olhar, que sempre afrontava o horizonte. O resto, porém, como o modo ambíguo de enfrentar a dor, ou o gestual minimalista e preciso, pensa Lucien sem muita convicção, viera talvez da mãe japonesa. A pilastra sobre a qual a imaginação de Lucien imprimira a imagem de Su, agora traz um Mont‑Blanc, só que compactado, reduzido ao geometrismo da pilastra, como se a montanha tivesse sido concebida por um deus criador monótono, com a espiritualidade rasa de um pedreiro. – Andrés me disse que você esquia bem – diz uma vez mais a voz de Su, agora emitida do interior da pilastra. Era desconcertante a maneira como Su repisava seu ponto de vista, recorda‑se ainda Lucien. Sem dúvida contributo do lado chinês, que realçava a independência e cultuava a personalidade. Su ressurge parcialmente à flor da cantaria, Lucien não enxerga seus ombros, nem seus cabelos. Apenas uma parte de seu nariz curto e arredondado aflora diminuto, empoado como o de uma cortesã oriental. Aquela visão cambiante de Su parecia a Lucien mais um jogo da amante, que mesmo não estando a seu lado, conseguia armar arapucas em sua mente e imprimir seu temperamento, mesmo no território da mais armada vontade de Lucien. Só não era uma exímia jogadora, porque jogava sem consciência de que o fazia. Assim mesmo, parecia aplicar‑se nessa tarefa ininterruptamente e sem trégua. Com esse notável predicado, submeteu Lucien, sem dificuldades, forçando‑o a jogar como eterno perdedor. E Lucien deixava‑se conduzir pelo mundo congestionado de indagações ao vazio, declarações obscuras, quase pérfidas, e que o francês tragava como tragava seus gauloises em disputados cafés ao redor do Carrefour Odéon. Assim, sem se dar conta, era envolvido pelas preleções escatológicas de Su sobre a vida, sobre o furor do destino, sobre o refrigério da morte oriental, sobre a decomposição do planeta para um novo nascimento – e quando Lucien finalmente sucumbia, fustigado pelos acordes dissonantes dessa música sem fugata, Su dava a Lucien a oportunidade de escapar daquele beco sem saída. Franqueava‑lhe uma janela de onde se descortinava um oásis. Ou simplesmente fazia desaparecer o muro que interrompia o curso das coisas, como ao insistir em lembrar a Lucien que ele esquiava bem, para assim fazê‑lo recobrar a lembrança do encantamento e da magia dos momentos de seu passado que lhe foram gratos. Com tais procedimentos, Lucien tornava‑se presa fácil para Su Ian, que o retirava do cotidiano parisiense e sem piedade o acorrentava a seu mundo. Ali, a estudada e sufocante prosopopeia de Su, temperada de ímpetos ocidentais, que também formulava em benefício de salvaguardar o carisma do gen chinês, dava lugar a um vernáculo econômico, árido, erigido sobre a pedra do silêncio, haicai jamais escrito. Desde essa nova perspectiva, o corpo de Su, ao mesmo tempo anatomicamente oriental, esguio, quase esquálido, mas firme e dengoso, se tornava então o eixo momentâneo em redor do qual a energia de Lucien gravitava e se dissipava. Nesses encontros, muitas vezes Su Ian retinha o corpo de Lucien junto ao seu – e ambos naufragavam, paralisados durante horas em uma absoluta inércia física. A mente de Su assemelhava‑se a uma bateria sendo carregada sem pressa. Seu cenho se contraía, e se o pensamento de Lucien fosse uma mosca, esta não atravessaria incólume o território de força que a jovem oriental soubera edificar para tornar ainda mais grave sua soberania. A imagem da companheira do passado mergulha novamente na cantaria da pilastra do restaurante universitário. Restam as coisas sólidas, presentes: o ruído de copos e louça triscada, a luminosidade quente, opressora e imobilizante que torna o panorama do campus, visto através das janelas do refeitório universitário, tão definitivo e monumental; resta o chamamento das ruas, convocação do mundo. Lucien sente‑se pesado, abandona sua vista em uma coluna mais ao fundo, sobre a qual cresce uma sombra violácea. Subitamente se lembra de que no auge do inverno aquela coluna, a essa hora, estaria já inteiramente mergulhada numa tintura acinzentada. Agora, entretanto, nesses dias de abril, prenunciadores da primavera, a luz impregna mais longamente os esmaltes, e mais lentamente escorre para a noite. À sua frente, o gramado vazio, uma realidade em suspensão, inconstruída, impessoal. Volta a pensar em Su Ian. Misturado ao gosto adocicado deixado pelo vinho, Lucien filtra com esforço o olor denso das narinas da oriental, recolhe a textura porosa e réptil da língua da amante rolando no interior de sua boca, contorcendo‑se ágil num dueto com sua própria língua, recuando estrategicamente para logo depois voltar a pulsar, projetanto‑se para depois retroceder e se aninhar no centro da boca, agora à espera de que o pas‑de‑deux recomece. É inútil; advém um sabor amargo, deliquescente e estéril – e Lucien por instantes reconhece que escapar de Su Ian fora também extirpar o risco de perder sua identidade e seus objetivos mais íntimos. E que persistir no isolamento, no afastamento dela – embora minado por contundentes imagens de uma convivência quase improvável agora –, era afastar do centro de sua vida um fator de desequilíbrio. Ademais seu traço francês fustigava‑o, acicatava‑o como um avozinho impaciente, ansioso por encontrar no neto as marcas do ancião; e essa vertente de seu caráter, quase sempre dominante, não tinha qualquer piedade para com semelhante miscigenação; e tanto isso era verdade que, sabedora disso, Su Ian, com tato e empenho obstinado, delicadamente mas com certa ousadia e atrevimento, vinha procurando minar, abalar as certezas civilizatórias que ornamentaram o berço de Lucien Sorel, com seu sobrenome stendhaliano, mas tradicionalmente anticlerical e materialista. Tanto era assim que a contrapelo de seu caráter oriental, zeloso, pudico e reservado, a companheira oriental por vezes ostentava, dir‑se‑ia para desconcertá‑lo mais, ares parisienses, brandindo uma quase cômica indiferença para com o que se movimentava imediatamente à sua volta, e demonstrando uma ingênua e quase infantil preocupação com o que não lhe dizia de modo algum respeito. Quando assumia a primeira postura, a pele de Su Ian ganhava a textura de uma máscara de porcelana, e sua expressão corporal refletia a contento o novo papel. Com o tórax imóvel, dando mostras de que o espírito se cansara da mesmice daquela vida; a região lombar afundada na cadeira do café, à maneira da rive gauche, as pernas cruzadas e o joelho despontando irreverentemente do mantô, Su parecia uma francesinha adolescente, cansada de ser protegida. Nesses momentos, Su Ian cuidava com esmero que o mármore dos olhos permecessem sempre indefinidos; a retina, insensível para o mundo, enquanto o café, sorvido no máximo até a metade, esfriava inapelavelmente na xícara. Quando, todavia, entretinha‑se com aspectos exóticos, distantes da vida parisiense, como amiúde faziam suas colegas, tratava deles como se integrassem seu cotidiano e postulava, como convinha ao modelo, bizarros proselitismos e sectarismos descabidos. Era contudo de raro em raro que Su assumia essa última atitude, preferindo, na maior parte das vezes, o primeiro papel. Lucien exasperava‑se todo o tempo com os alentados silêncios de Su, com sua caricata encenação da decepcionante fragilidade dos franceses, que quando ousavam não se pronunciar, simulavam reter entre os lábios um conceito definitivo e espirituoso sobre a existência, conceito esse que seria emitido em momento mais oportuno, quando ouvidos tarimbados e atentos dele pudessem verdadeiramente se beneficiar. Tal fragilidade caíra como uma luva na arrogância chinesa de Su Ian, e ela sem esforço a incorporara como estratégia de defesa, de modo que Lucien não sabia mais se deveria ouvir a voz avoenga da raça ou fazer coro para o desempenho da amante – ou, ainda, largar todos os conflitos debaixo do pires do garçom e escapulir para o studio sem móveis, onde habitou antes de se mudar para a Rue Berthollet. A vontade de escapulir da mise en scène dos cafés se manifestava nele. Lucien recolhia o maço de cigarros e o isqueiro, empurrava o pires com o dinheiro para o centro da mesa, passava em revista a cadeira onde sentara e num arranco atabalhoado, como alguém que tivesse se libertado de um escafandro, punha‑se de pé, acenava na direção de Su Ian, dando adeus a tudo aquilo, e avançava para a calçada. Su, incontinenti, saltava por sobre o álgido muro que ela própria erguera em sua planificada impassividade e se punha também de pé, sem consultar se Lucien queria tê‑la a seu lado. Com tantos atributos, não era difícil para Su Ian municiar os cordéis da trama amorosa, apesar de não haver jamais previsto que o relacionamento entre eles, ao qual talvez desse um nome mais sólido e mineral, tivesse um fim. Há sempre um outro lado da questão, e, a seu modo, Su Ian dependia intensamente de Lucien para poder sobreviver em território inimigo e, ao mesmo tempo, cultivar alguns princípios de raiz, que destilava com perícia, sem ser molestada por isso. Inegavelmente, Lucien concedera‑lhe um espaço de manobra generoso, e a oriental alargara suas fronteiras e se instalara sem ruído, sem violência, sem causar alarme. Numa manhã em que descera no metrô Trocadéro, e caminhara na direção do apartamento dos pais, na Avenue Georges Mandel, Lucien chegou a se comprazer com a súbita constatação de que Su Ian também dependia dele; de que ela não era tão independente como seus modos davam a entender, mas essa descoberta era tardia e inútil. A despeito de diversas constatações acerca de ambos, a ausência de Su Ian era por vezes opressora, ainda mais porque Lucien admitia que havia falhado com Su Ian, ou, melhor, que havia falhado pour cause de Su Ian; e que sobretudo havia falhado com ele mesmo. O refeitório da Cidade Universitária Internacional estava prestes a fechar. Lucien abandonou novamente o olhar sobre o gramado do campus, onde agora, aqui e ali, surgem, aos pares, jovens que iniciam suas tarefas do período da tarde. Esses sintomas de atividade lembram a Lucien que é o momento de sair dali. A garrafa de Gamais está quase vazia sobre a bandeja. As cadeiras vão sendo erguidas e emborcadas sobre as mesas. A primavera subitamente parece‑lhe sufocante e Lucien sente‑se
confundido em seu próprio estratagema de embaralhar vozes, diálogos,
tempos, no intuito de manter acordada a percepção sobre o fluir dinâmico
da vida. De qualquer modo, o resultado de seu pequeno esforço é
medíocre. Findo o repasto, iniciada a digestão dos alimentos ingeridos,
uma sonolência sem virtude dilui as imagens mentais e toma conta de
Lucien Sorel, que se ergue da mesa e se afasta com a bandeja na direção
do balcão de serviço, não sem antes inspecionar, como de hábito, a
cadeira onde se acomodara há pouco.
São onze horas da manhã e justamente quando seu coração se agita ao ver seu transporte seguir em frente, sem sequer parar no ponto, encontra‑o, vindo em direção oposta, o Sr. Albano Aires, seu pai, que se posta à frente, de forma tão decidida e grave que parecia, com efeito, pretender a qualquer custo barrar‑lhe a passagem. – Perdi o autocarro – diz Manoel, como se pensasse em voz alta e estivesse desamparadamente sozinho em Lisboa. Seu pai não lhe dá ouvidos, e não demonstra interesse pelo fato. Com as gordas mãos enfiadas no jaleco do bar, interpela‑o: – Não me faltes à tarde. Vossa mãe ausenta‑se algumas horas após o almoço. Quero‑te de mãos limpas a atender ao balcão dentro de duas horas. – Sim, sempre afirmei‑te que sim – respondeu o ex‑jogador do Benfica, em um tom de quem se sentira melindrado. – Se tu me faltas, é que são elas – acrescenta o Sr. Albano antes de continuar em seu passo afogado, de pernadas curtas e nervosas, como se estivesse a ponto de correr e uma força estranha, uma espécie de pudor, o obrigasse a apenas andar. Manoel não retrucou, nem acompanhou com os olhos o tronco socado daquele homem, tão parecido com o seu, afastar‑se na direção do Bar e Tabacaria da Quarta Parada, estabelecimento do outro lado da rua, onde dona Maria Luíza Carvalho Souza, naquele exato instante, passava um pano úmido sobre um tampo de mármore de uma das mesas do salão. Ele estava melhor quando por sua conta e risco se acomodara no 1o andar daquele residencial próximo ao Jardim da Estrela, pouco acima do parque, em um cômodo com janelas voltadas para o oitão de cima, de onde aos finais de semana ouvia o rilhar de ferros do 28, que tomando embalo na Saraiva de Carvalho trazia visitantes do Cemitério dos Prazeres, ou que, saindo da Graça, passava por São Vicente, Santa Luzia, Chiado, São Bento, recolhendo e redistribuindo, com parcimônia e pouca pressa, ociosos em apertados trajes domingueiros. Ao menos ali, na Pensão Estrela, não era forçado a enfrentar a curiosidade maledicente dos velhos conhecidos seus e de sua família, que volta e meia o obrigavam a relembrar sua última e desastrosa apresentação como goleiro do Benfica, quando o país inteiro, exceto seus pais e o oculista, que já o sabiam, tomou conhecimento de que Manoel tinha uma deficiência visual grave. De fato, as paredes encardidas, o roto cortinado das janelas, o ranger do piso ao mais leve movimento, numa sinfonia intérmina que povoava o casarão em todas as horas, sinfonia essa executada com um acompanhamento de tosses catarrentas e vozes a meio‑tom, pareciam‑lhe, agora que por conveniência voltara à casa paterna, algo muito mais suportável do que a rotina familiar dos Souza Aires. Sabia, contudo, que regressara por pouco tempo, e o fizera não pela necessidade de aliviar as despesas, e mais, muito mais, porque sentia que era preciso regressar e arrancar com as próprias mãos as raízes plantadas no solo paterno. E era melhor fazer com força, de uma vez, como estava fazendo, do que deixar que apodrecessem lentamente. De outra parte, sua resolução de regressar à casa paterna fazia‑o por algum tempo mais jovem, como se jamais tivesse passado pelo amargor que o futebol lhe trouxera. Residindo por alguns dias com os pais no andar da Almeida e Souza, trabalhando a poucos metros dali, no café paterno; fazendo suas refeições ao pé do balcão, beliscando um rissol, furtando discretamente uma e outra cerveja do frigorífico, iria experimentando a vida que quase teve quando muito mais jovem; quando ainda não se profissionalizara no futebol. E Manoel se sentia quase como um colegial, como esses que se empregam temporariamente para fazer uma pequena economia, ou poupar parte do dinheiro para alguma aventura secreta. Para completar a encenação, os proventos de seu trabalho chegavam‑lhe com dissimulada má vontade pelas mãos de Seu Albano, todos os domingos, pontualmente, em um envelope pardo. Era um pagamento modesto, que Manoel muitas vezes recebia sem conferir, abandonando o envelope sem abrir na gaveta do criado‑mudo de seu quarto. Já estava nisso há dois meses, mas parecia muito mais. No jaleco que habitualmente vestia, e que o tornava, diga‑se de passagem, mais parecido com o pai, Manoel mantinha, por zelo e sigilo, certa correspondência, da qual não se apartava. Vez por outra, quando o balcão ficava vazio e não havia ninguém por perto, extraía, de um envelope guardado no bolso esquerdo superior, uma folha de papel muito amassada e que já principiara a se rasgar na dobra central. Furtivamente lia um e outro parágrafo, relia e treslia certas passagens. Ali, em um inglês quase literário, o autor, que apenas assinara J. B. H., dizia‑lhe como e por que concebera o jogo de Dublin e também lhe explicava que a ficha com seu nome fora selecionada dentre muitas outras, e fazia parte de um acervo da empresa Irish Ferries que continha o nome de consulentes em busca de informações turísticas sobre a Irlanda. Na ficha da companhia, Manoel declarara compreender e falar o inglês,
por força de haver jogado na Liga Inglesa. Isso chamara a atenção do
missivista, uma vez que o domínio do inglês era imprescindível em seu
plano. Só assim cada participante iniciaria o jogo com as mesmas chances
de sucesso. O fato de Manoel ter 31 anos completos, observou ainda o
missivista sem maiores explicações, era fator decisivo, e favoreceu
grandemente a escolha de seu nome e o posterior convite de participação.
Mas o autor da carta alertava: o jogo de Dublin não seria fácil, não
bastaria resolver com sucesso todas as charadas, decifrar as armadilhas,
interpretar os múltiplos enigmas propostos. Seria imprescindível, para
que o jogador tivesse direito à recompensa, demonstrar especiais
talentos. O Autocarro 18, que vai para Chelas, para no ponto. Àquela altura do trajeto, ainda se encontra vazio de passageiros. Manoel sobe os degraus do ônibus. Mostra seu bilhete de assinatura mensal ao motorista e atravessa o corredor até um assento próximo à última janela, na parte traseira do autocarro. Com certa relutância, ergue os olhos à procura do passante que acenara em sua direção, mas não o encontra mais. Quando o ônibus recomeçou a circular, Manoel retirou os óculos de grau do rosto, esfregou os olhos com a ponta dos dedos, massageou o nariz e voltou a colocar as lentes em seu lugar. Ainda uma vez refletiu sobre o aceno do meio da praça. O homem que gesticulara tinha estatura média, era obeso e vestia um chapéu negro enfiado na cabeça. Apesar da distância, pareceu a Manoel que o transeunte trazia o chapéu inclinado para o lado, como o fazia Mário de Sá‑Carneiro. No Largo do Rato, há uma confusão à porta de uma papelaria. Ao redor de dois homens, atracados numa dupla chave de pescoço, curiosos em cerco instigam os contendores. Manoel avança até a escada do autocarro. De qualquer modo, o ex‑jogador deve descer ali e fazer uma baldeação. Quando está prestes a descer o primeiro degrau, vislumbra o rosto avermelhado de um dos contendores. Parece o Bombarda, diz para si, sem saber se o socorre, ou se ignora a porfia. O mostrador do relógio de pulso do ex‑jogador marca 11h20. Tem um encontro às 12h45, no portão principal do Estádio da Luz, com um jornalista do Diário de Notícias; um almoço, em troca de uma entrevista, provavelmente com fotos. A ideia da entrevista incomodava‑o um pouco, e Manoel relutou alguns dias até assentir em se encontrar com o Paiva, mas deixar‑se fotografar decididamente não o agradava; preferia manter seu rosto fora das páginas esportivas. Com ou sem fotos, a questão estava posta. O que fazer agora? Ser pontual em seu compromisso, deixando o amigo para trás, em apuros, ou ficar e se atrasar? Se fosse apartar a briga, perderia com certeza a hora. Além do mais, detestava apupos; temia ser reconhecido por algum torcedor de boa memória. No entanto, Bombarda estava ali, não poderia haver dúvida, se alguma dúvida ainda persistisse na mente de Manoel; um dos brigões, justamente o que parecia estar em desvantagem, era o seu colega do liceu, com quem conversava sobre poesia e de quem se afastou quando supôs que o relvado do futebol era mais macio e promissor que a estrada marginal, sem asfalto ou sinalizações de percurso, reservada aos poetas. Bombarda também não persistiu na poesia, embora continuasse a fazer versos até hoje, mais como higiene espiritual do que por profissão de fé. Em vez da penosa obra de construção e lapidação do verso, engajou‑se na indústria de ferragens de seu pai, e lá ficou, como uma edição nova, mas falsificada, de Cesário Verde. Por acaso, o departamento comercial da empresa do Sr. Bombarda, pai, era na Rua dos Fanqueiros, justamente onde aquele outro pai, o de Cesário, tivera um dia seu negócio de ferragens. Mas agora não estava em jogo o mal aproveitado vezo poético de Bombarda, e sim a dignidade que a custo, difusamente, em seu rosto os que estavam no anel interior do tumulto mal podiam vislumbrar agora. Com a vista esquerda intumescida, e com sangue escorrendo do nariz e da junção do lóbulo da orelha com a face, o colega de liceu de Manoel parecia entregue à fúria do oponente, que não obstante continuava a acertar‑lhe murros ora no estômago, ora no rosto. Do instante em que Manoel pisou o primeiro degrau da escada do ônibus, até o momento em que decidiu intervir diretamente na batalha, o rosto de Bombarda havia se transformado em uma posta de sangue. Não haveria muito mais tempo para salvá‑lo embora de onde estava agora, já no plano da rua, Manoel não pudesse mais enxergar o amigo, cuja visão se escondia atrás de uma valorosa barricada humana. Por esse motivo, deixou de presenciar, estampado no rosto de Bombarda, o sentimento de humilhação e vergonha que com suas últimas forças conseguiu por instantes deixar transparecer, antes de perder os sentidos. Com determinação, dando‑se conta de que algo muito grave estava para acontecer, enfiou os óculos no bolso do paletó, e avançou como um desbravador para o centro do tumulto. No caminho, aos repelões, foi extraindo e atirando longe ombros e braços daquele estranho corpo vivo em agitação, como alguém que arrancasse, com ímpeto e precisão, coxas e asas de um frango assado, de forma que logo chegou ao coração, ao epicentro do embate. Quando finalmente acercou‑se dos lutadores, encontrou o amigo desfalecido, sem reação, à mercê do rival, que o mantinha ainda preso na chave de braço. Manoel não vacilou, e com o punho esquerdo desferiu um golpe cruzado contra a lateral direita do rosto do oponente. Em seguida, quando o rival, surpreso com o golpe, afrouxou o laço fatal que prendia a cabeça de Bombarda, buscando aprumar o tronco, Manoel, prontamente acertou um direto em seu queixo, que o levou à lona, onde o amigo despencara um segundo antes. Todavia os apupos, que em sua maioria revelavam um sentimento de júbilo pela demonstração convincente de animalidade dos competidores, ao invés de diminuir após a intervenção decisiva de Manoel cresceram enormemente. O que acontecia era que o organismo vivo, que se desenvolvera até ali alimentando‑se do sangue dos desavindos, não recebia bem o invasor. O cerco parecia se fechar sobre ele, para assim expurgá‑lo, como célula doente de um organismo que queria voltar ao estado dinâmico imediatamente anterior. Um tipo raquítico, barba branca por fazer, cabelo espesso nas ventas e um pano vermelho no pescoço, espalmou‑lhe as costas. – Vai‑te daqui, homem! Em seguida, desferiu um murro à traição, embora sem resultado prático. Quando Manoel se voltou, o sujeito não estava mais ali, havia escapulido na direção da Rua de São Bento. – Baderneiro – gritou‑lhe alguém perdido em um dos anéis humanos que o circundavam. – Covarde – ouviu de um rosto bexiguento, plantado sob um chapéu de feltro de abas caídas, que despontou um palmo acima de sua cabeça. Tal opinião a maioria dos presentes, de uma forma ou de outra, compartilhava, convencidos estavam de que Manoel estragara a festa, roubando‑lhes o entretenimento. Sem tempo para pensar, Manoel desferiu uma direita contra a testa do porta‑voz, que foi despencar sobre duas senhoras que engrossavam o anel intermediário de cabeças. No deslocamento do tronco, o porta‑voz atingiu com o cotovelo o rosto do condutor de um elétrico que, movido pelos mesmos nobres instintos dos que ali se encontravam, havia largado seu posto e atravessado todo o largo, posto que se dirigia aos Prazeres, deixando em imobilidade desesperadora o bonde com seus passageiros e compromissos vários, já agora adiados, e se enfiara no meio do tumulto, com seu espírito dividido entre dois sentimentos ambíguos: o de engrossar a assistência, e o de apaziguar os ânimos. Do elétrico sem o condutor ouviam‑se vozes exaltadas, de pessoas para as quais o tempo tinha alguma importância. Outras ameaçavam descer, tomadas pela curiosidade, que era mais premente que o futuro. No entanto, acicatadas pelo receio de perder o direito já adquirido de transporte, hesitavam entre saltar à rua e permanecer espojadas sobre os bancos. Assim mesmo, alguns passageiros desceram, ofegantes e comovidos; foram os primeiros. Logo em seguida o mesmo se deu em outros pontos de paragem do largo, de tal sorte que os transportes coletivos foram sendo esvaziados de seu conteúdo, e quase todo ele era vertido sobre o foco de interesse maior, defronte da papelaria. Os automóveis, que normalmente cruzam o Rato com certo vagar, uma vez que em meio a autocarros estacionados, elétricos em lenta manobra e gente comprimida às portas dos coletivos, agora não avançam mais. No Rato, já são vistos alguns motoristas com seus engenhos desligados; outros, agastados, parecem não acreditar no que veem e mordem o cigarro aceso entre os dentes, estapeando a direção em sinal de protesto. Os mais atrevidos já abandonaram seus automóveis e se dirigem ao centro do conflito. Engrossam os anéis humanos, ao redor dos pelejadores, representantes de praticamente todos os andares do edifício social. O congestionamento alcança as artérias que costumeiramente alimentam o fluxo através da praça; na Braancamp, na Álvares Cabral, na Rua de São Bento e na da Escola Politécnica, o trânsito está totalmente paralisado na mão de direção de quem se dirige ao Rato. Ao longe, sirenas ouvem‑se, perdidas no engarrafamento, emulando com a orquestração de buzinas dos arredores, sem que contudo surgisse um só representante da lei e da ordem. No núcleo difusor de tudo, os contendores são sacudidos pela assistência, que não se conforma com o aparente encerramento do espetáculo. O oponente de Bombarda, após os murros de Manoel, desmontou‑se de seus propósitos, e agora jaz combalido ao colo de uma conhecida frequentadora do largo, que ganha ali sua vida apregoando cautelas e revistas velhas, envolta em surrobecos gastos. Bombarda começa a acordar agora e, embora ainda estirado sobre chão frio, consegue aos poucos se recobrar, em seguida aprumar o tronco e abrir um dos olhos, sob as vistas do condutor do elétrico que recebera a cotovelada involuntária no rosto, aplicada pelo homem grande de rosto bexiguento. O contendor derrotado procura decifrar o que está acontecendo a seu redor. Quando vislumbra com dificuldade o corpanzil do marido traído por Leocádia, no colo da cauteleira Floripes, se anima e diz com voz abafada: – Cabrão. A turba se agita com essa palavra mágica. – Olhem o safado, ainda está vivo – diz um sujeito que tomou o partido do marido chifrudo, contra o amante. Antes, porém, que as coisas piorassem ainda mais, Manoel agarrou com as duas mãos as abas do paletó do amigo e num golpe, como se este não passasse de um saco de farinha, atirou‑o sobre suas costas e, forçando aos trancos e barrancos sua passagem, conseguiu romper um a um os anéis humanos de curiosos. Tomou a Rua de São Bento e, vertiginosamente, sempre a descer, foi carregando o Bombarda sobre os ombros por dois quarteirões, até que, não suportando mais o esforço, entrou na primeira porta aberta que encontrou. Era uma tasca. Ali, numa cadeira a um canto, pousou o antigo colega de liceu, que só agora o reconhecia, encarando‑o com aquele único olho viável. – Mas és tu, ó Manoelzinho! – Não me chames assim, sabes que não gosto – repeliu o ex‑jogador, tentando retomar o fôlego. Manoel retirou seu par de óculos do bolso e firmou‑os sobre o nariz. Agora via bem o estrago que o marido de Leocádia fizera no rosto de Bombarda. Confere o mostrador do relógio de pulso. Tinha apenas alguns minutos para ir ao encontro de Paiva – Estou muito mal? – perguntou‑lhe o outro, agora procurando um lenço no bolso do paletó, para passar em seu rosto. E sem aguardar a resposta, aduziu: – Pedes água, para que possa umedecer um lenço, faz favor. – Está bem – disse‑lhe Manoel, vendo‑o extrair o quadrado de alva cambraia do casaco. – E eu? – insistiu o amigo, comprimindo com a palma da mão o antebraço de seu defensor. – Estou muito mal? Dize francamente, Manoel. – Estás. Estás deveras mal – responde‑lhe Manoel, já arrependido de se haver envolvido na briga. Contudo, ao invés de sair e largar o amigo ali, cuidando de seus ferimentos e de seu orgulho, deixa‑se ficar e pede um copo de água e duas cervejas ao encarregado da tasca. – Espero que o moço traga rápido. Tenho uma entrevista em instantes – diz Manoel. – Mas o que é que fizeste para merecer tantos carinhos? – acrescentou, tentando sorrir. – Tu te feriste? – indaga Bombarda, como se não tivesse ouvido uma só palavra do amigo, enquanto enfiava a ponta da cambraia no copo que o garçom lhe trouxera. – Estou bem, apenas os nós dos dedos incomodam‑me um pouco. Mas vamos aos fatos: em que enrascadela te meteste? – Tive um caso com a mulher daquele cabrão. Ele ficou sabendo. É só isso. Mas valeu a pena. Manoel avalia as palavras do amigo, depois coloca as mãos em paralelo, sobre o tampo da mesa. Deixa os dedos esticados e abertos e abaixa os olhos como se os fosse examinar clinicamente. Bombarda retira de sobre o olho esquerdo o emplastro improvisado que fizera com o lenço e imita o gesto do amigo, projetando o corpo sobre a mesa e encarando com consternação as falanges do outro. Seu defensor sente a respiração irregular e sobretudo desagradável de Bombarda, com as narinas tão próximas assim do dorso de suas mãos. Manoel recolhe o braço e recua o tronco, comprimindo‑o contra o encosto da cadeira. Entorna o líquido da garrafa no seu copo, e no de Bombarda. – Não te preocupes. Estou bem. Tu é que deves te consultar com algum médico. Nunca se sabe – diz Manoel. – Claro, naturalmente, mas antes de mais nada apetece‑me brindar e agradecer a presença tão prestante do amigo, que salvou a vida daquele cabrão do marido de Leocádia. Dizendo isso, Bombarda segurou o copo de Sagres e ergue‑o à meia‑altura, sorvendo‑o de um trago, não sem simultaneamente gemer baixinho, enquanto bebia, acusando os ferimentos nos lábios. Manoel imitou o gesto. – Efetivamente não posso ficar mais – diz Manoel, jogando sobre a mesa uma nota de cem escudos. – Ao menos deixa que eu pague – apressa‑se em dizer Bombarda, devolvendo a nota ao amigo. Em seguida, disse‑lhe: – Dá‑me a direção de tua morada. Sempre estás em Saldanha? – Não, isso foi há muito tempo. Morei em outros lugares depois – responde Manoel, recolhendo o dinheiro e enfiando‑o no bolso. – Agora resido com meus pais, no Campo de Ourique, mas é por poucos dias mais. A bem da verdade, horas. – Na velha morada, do tempo em que estudávamos juntos? – Sim. Essa mesma. Aparece para uma visita. Meus pais gostam muito de ti. – Está bem, lá ir‑vos‑ei ver. Mas deixa que me entenda com o moço sobre a conta – insistiu Bombarda ao ver que o amigo fizera novamente menção de pagar. Ao ver o ex‑jogador se distanciar da mesa, Bombarda disse ainda: – Sabes de uma coisa? Apesar de tudo, tinha piada ver‑te jogar – e soltou uma risada com a parte da boca menos danificada, servindo‑se em seguida da outra garrafa de cerveja que ficara intacta sobre a mesa. Manoel não falou mais nada. Acenou apenas, ganhado a calçada e a luz do dia. Naquele exato instante, descia um dos integrantes da malta que assistira à briga. Por estar ainda engasgado com as últimas palavras que o Bombarda dissera, Manoel não reconheceu o outro, com quem cruzara logo que desceu do autocarro no Largo do Rato. Por sua vez, o tipo, embora tivesse assistido a toda a cena, também não reconheceu o protetor de Bombarda, quiçá por conveniência, quiçá por causa das lunetas que Manoel agora estava usando, e que davam ao ex‑jogador do Benfica um ar de conciliadora gravidade. Suas têmporas latejavam após o desforço físico de há pouco. Olhou novamente no relógio. 12h35. Se fosse de autocarro à entrevista com Paiva, teria que tomar dois. Mas para fazê‑lo, teria de subir ao Rato, novamente. De lá, tomaria o primeiro deles, que o deixaria em Entrecampos, e ali tomaria outro para o Estádio da Luz. No entanto, refletiu, voltar ao Rato não era aconselhável. A poucos metros da tasca, no sentido da Calçada da Estrela, Manoel decidiu parar um táxi e entrou nele. Um sol de primavera infletia sobre as vidraças e os metais. As pessoas, mais despidas, caminhavam atirando braços e pernas para o ar, diferentemente do úmido inverno lisboeta, quando todos sentem nos ossos a frialdade e o povo andava pelas ruas com o queixo enfiado no tórax. Do assento traseiro do veículo, Manoel se dá conta da intensa luminosidade daquele dia. Começa já a fazer calor em Lisboa, embora mal tivesse começado oficialmente a primavera. Os olmos e os cedros da Praça Real já ensaiam as roupagens da nova estação. Alguns tímidos beberrões sentam‑se já nas mesas ao ar livre da praça. Quando cruzou a Faculdade de Ciências, a luz parecia reverberar com mais força sobre os muros e paredes brancas do casario, ofuscando seus olhos e seu pensamento. O vento ligeiro e álgido da manhã se diluíra numa brisa suave e quase morna, que trazia a reboque o olor ácido da maresia. Manoel procurou organizar suas ideias, concluir apressa-damente um balanço do encontro estapafúrdio que tivera com Bombarda, e ao mesmo tempo entender seu próprio ato de violência, disfarçado em gesto de compaixão para com um colega de infância. Sobretudo porque nesse incidente de há pouco, havia muito mais do que um ato de legítima defesa do mais fraco; havia talvez uma espécie de resposta contra a opinião pública, contra os que escarneceram dele sem piedade, e que se esqueceram de todos os anos em que defendeu as traves do Benfica; em que honrou a camisa jogando no exterior, para condená‑lo por um único lance de um jogo. Além do mais, como se não bastasse tudo isso a mente de Manoel agitava‑se no sentido de desvendar quais eram as intenções de Paiva. Qual o porquê de tão repentino interesse por ele, passados três anos de ostracismo completo, em que sobre o Manoelzinho do Benfica não se escreveu uma só linha, nem se formulou, na imprensa televisiva, um só comentário, mesmo que breve? Foi um período em que sequer teve como consolo o suporte, mesmo que discreto, dos colegas de profissão. Nem mesmo sua família importou‑se com seu afastamento definitivo do futebol, exceto na medida em que Manoel, sem as expressivas rendas do futebol, acabasse se tornando dependente do dinheiro familiar, o que era improvável, mas nem por isso menos preocupante. O táxi contornou vagarosamente a Marquês de Pombal, mas em vez de subir a Antônio Augusto de Aguiar, em direção à Praça de Espanha, matreiramente tomou a Avenida Fontes Pereira de Melo, engrossando o congestionamento da Praça Saldanha. Ali, arrastou‑se metro a metro, competindo por espaço com outros veículos, até alcançar a Avenida da República, onde finalmente trafegou sem esforço, logo atingindo o cruzamento desta com a avenida Estados Unidos da América. Enquanto o táxi passeava por Lisboa, seguindo um itinerário nada recomendável para quem tinha pressa e respeito pelo próprio dinheiro, dançavam na cabeça de Manoel dois distintos estratos da realidade vivida. O primeiro devolvia a lembrança de seu passado estudantil, e de seus débeis projetos literários. E remetia Manoel para os anos da adolescência, anos em que não soube urdir com os fios de ouro da vida seu melhor sonho; anos esses que, de maneira repentina, retornaram com nitidez, saindo da dimensão do tempo pretérito para uma dimensão de quase existência presente, no momento em que Manoel ergueu o corpo desfalecido de Bombarda do chão. Sim, porque o corpo do ex‑colega de liceu, que Manoel protegera, e ao qual, de certo modo, devolvera a vida, era simbolicamente a própria palavra poetizável, quase revolucionária, de tão intempestiva e dominadora, instrumento primordial de gozo e prazer daqueles tempos, e que havendo ficado submersa, desde então, voltava a marcar presença; a se fazer, embora quase moribunda como o próprio Bombarda, estirado no Largo do Rato, plenamente audível. O segundo estrato de realidade vivida era justamente a memória de seu passado mais recente, em que fracassara, ou, talvez melhor, em que a vida e a sorte fizeram‑no fracassar, porque arriscara‑se demais e perdera; porque não pesara as consequências de sua farsa; porque criara um modelo na arte de representar que fugia aos parâmetros estabelecidos. Um deficiente visual não poderia jamais assumir a responsabilidade de adivinhar a rota da bola e a esta se antecipar, de modo a interromper‑lhe a fatal trajetória. Quando a voz desafinada e quase feminina de Paiva ecoara em seus ouvidos dias atrás, e o convocara para aquela entrevista, todo o pesadíssimo silêncio à sua volta, silêncio que envolvera sua existência e sua carreira profissional nos últimos três anos, parecera ter ficado ainda maior, mais pleno e mais insuportável. Esse silêncio agora ganhava forma, expandia‑se, ocupando o peito de Manoel, e dificultando o respirar. O táxi avança, mantendo um quase evidente propósito de retardar a viagem. Após Entrecampos, o ar se torna mais leve e perfumado. O largo passeio público entre as duas mãos de tráfego expõe uma vegetação que se torna espessa aqui e ali, com árvores e arbustos espalhados em canteiros, de forma que a custo se vislumbra o edifício da Biblioteca Nacional, na outra mão de direção, com seu gramado frontal, onde já se podem ver minúsculas papoulas eclodindo. Se Manoel estivesse a pé, e caminhasse pela aleia central da avenida, veria também o baixo casario na mesma margem da biblioteca. Aquelas eram edificações modestas, que já nasceram acanhadas, geminadas à beira da estreita calçada, e hoje corroídas pelo tempo e pelo esquecimento; algumas com as portas cerradas há anos, à espera de serem demolidas; mas a primeira do renque de casotas traz uma pequena porta sempre aberta àquela hora; é uma minúscula tasca, com um balcão gasto de fórmica verde sem lustro, e uma televisão pendurada sobre uma alta prateleira; o prato do dia está gizado numa lousa à entrada. Adiante, em uma esquina, a Livraria Lácio, do falante e solitário Antônio André, rodeada de pequenas tascas e concorrentes. Ao meio‑dia, as crianças atiram‑se pelo portão do estabelecimento de ensino, localizado ao fundo da rua, e ganham as calçadas, em seus costumes azul‑marinho, espalhando sons álacres. As mais crescidas agarram‑se e deslizam pela rua fazendo confidências. Seus olhos cintilam à luz solar; de seus rostos brotam ruges; trazem, em incansável movimento, os lábios trincados pelo frio matinal. É como se quisessem compensar, naqueles instantes de liberdade recobrada, o silêncio imposto pela disciplina escolar durante toda a manhã. Seus dentes alvos despontam, estrelas embarcadas realçando a boca. Manoel, contudo, não pensa em nada disso, nem nos tempos em que mantinha conta‑corrente com o proprietário da livraria, nem mesmo nas tascas em que à saída do Liceu comia uma sande e um copo de cerveja, enquanto entretinha colóquios exaltados numa mesa de alunos. Compassivo, procura controlar o desabamento silencioso de seu espírito. Nesses momentos que antecedem seu encontro com Paiva, dissipam‑se de sua mente os pormenores do incidente matinal, agora existem apenas seu peito em surda sufocação, seu estômago intumescido, e um sentimento de comiseração, como se acarinhasse a si próprio e a seu destino. E seu destino e sua vida eram agora dois gatos siameses afofados sobre o colo. Um pouco doentes, um pouco cansados, um pouco apreensivos. – Já se está quase ao pé do estádio – assegurou o motorista. Manoel saiu do letargo. – Pedi‑lhe que fosse ao Estádio da Luz, mas vejo agora que o senhor preferiu um passeio turístico pela capital – disse Manoel decepcionado, logo que percebeu onde estava. – Às vezes o trajeto mais longo não é o pior. Quando chegar ao estádio, pode pagar‑me o que quiser, que não estou aqui para querer enganar ninguém. Manoel limitou‑se a concordar. Instantes depois, olhando com suas grossas sobrancelhas através do retrovisor do Mercedes‑Benz, o motorista indagou: – Não vos conheço? Os olhos de Manoel encontraram os do homem ao volante. – Já fui ao estádio de táxi várias vezes – respondeu o ex‑jogador, buscando demonstrar uma cortês naturalidade. O motorista pareceu satisfazer‑se com a resposta. Desinteressou‑se por instantes de seu passageiro e pressionou o acelerador. Ao ouvir um incomum rugido do habitualmente silencioso motor de sua joia verde e preta, o motorista lembrou‑se de que deveria fazer reparos no escapamento. Nem bem ocupava‑se com tais comezinhas considerações, o senhor ao volante ouviu a voz um pouco abafada de seu passageiro, que repetia a instrução que dera ao tomar o táxi. – Vou descer no portão principal, faz favor. O condutor do táxi voltou a exibir no retrovisor suas grossas sobrancelhas ao passageiro do carro. Estas contudo desapareceram das vistas de Manoel quando o motorista, empurrando o espelho levemente para a direita e para baixo, enquadrou quase todo o rosto do jovem senhor de lunetas. É muito pouco provável, quase impossível, que o motorista, mesmo que torcedor do Benfica, guardasse em sua memória registros da voz daquele que envergara a camisola número um de sua esquadra preferida. O mais certo e provável é que o itinerário ao estádio de futebol, associado ao ronco nervoso de sua Mercedes‑Benz, fê‑lo lembrar‑se da desgraciosa e febril engrenagem vocal das torcidas, em domingo de grande jogo. Somando todo o intenso clima futebolístico, propiciado pela simples compressão dos artelhos, no à‑vontade das chinelas gastas, sobre o aceleredor, às feições de seu passageiro, agora estampadas quase por inteiro no espelho, como uma rara estampilha de colecionador, só havia um resultado possível: Manoelzinho do Benfica. – Manoel, Manoelzinho, não é verdade? – disse o motorista, fazendo surgir as lascas de ouro de sua boca – Isto foi há muito tempo – defendeu‑se Manoel. – Pretende voltar a jogar? – perguntou ingenuamente o homem ao volante. – Acho que devia, se permite a indiscrição. Manoel já ouvira isso antes. Mas já ouvira também torcedores fanáticos, que jamais perdoaram sua farsa, dizendo‑lhe desaforos nem bem o reconheciam. Por isso, respondia com prudência, buscando encerrar rapidamente o assunto. – Não, aquilo acabou. Agora só assisto aos jogos pela televisão. – Mas hoje você vai ao estádio – disse o homem, mudando a forma de tratamento. – Apenas para encontrar uma pessoa. Nada mais. Chegaram finalmente ao estádio. – Aqui estamos – diz o motorista, virando‑se e colocando o braço direito sobre o encosto do banco a seu lado. – Chamo‑me Oliveira. E tive muito prazer em transportar você. – E acrescentou: – A corrida não é nada. O Manoelzinho já a pagou. O ex‑jogador do Benfica agradeceu e desceu do carro. Alguns ademanes desgraciosos se perderam no ar. Encostado em uma árvore, está Paiva, apoiando o pé direito no tronco. O cigarro entre os dedos tesos, como os de uma lady. Ao seu lado, um tipo que Manoel não distingue de imediato. – Vais desculpar‑me pelo atraso, Paiva. É que tive que dar assistência a um amigo. – Dizendo‑lhe isso, Manoel estica o braço quase militarmente, e aperta os dedos moles e suados do repórter. – Não faz mal. Chegaste a tempo – diz Paiva, que desde que vira o ex‑jogador descer do táxi fixara seu olhar na pesada armação de tartaruga dos óculos de Manoel, como se esta fosse um objeto incomum, ou uma ferida não cicatrizada. E acrescentou: – Este é Nuno, lembras‑te dele? Manoel conhecia superficialmente o fotógrafo que acompanhava Paiva; era um homem silencioso e esquivo, com um rosto enrugado e sempre crestado de sol, que trabalhava sem paixão, obedecendo maquinalmente às ordens do repórter. Desde quando o conheceu, tempos atrás, no meio da imprensa futebolística, Nuno dera‑lhe a impressão de alguém que estava sempre realizando seu trabalho pela última vez, e que logo em seguida deporia para sempre sua máquina fotográfica e demais petrechos, abandonando‑os sem remorso. – Já nos vimos, não é certo? – perguntou Manoel, enquanto esperava, com seu braço esticado, que o sujeito libertasse uma das mãos do equipamento e o cumprimentasse. Nuno inclinou a testa para frente em um movimento lento, mas não emitiu qualquer som audível. Seu aperto de mão foi rápido como um furto. – Claro está que já se conhecem. Nuno está no jornal há mais de dez anos – disse Paiva, atirando longe o toco do cigarro. Manoel reparou no paletó de veludo justo e levemente empinado nas ombreiras, que Paiva está usando, e que davam a ele um ar ainda mais afetado que o habitual. Essa vestimenta realçava a baixa estatura e a compleição frágil do repórter, que parecia se mover em um apertado ateliê de costura. – Muito agradecido por teres vindo – disse ele. – Vou dizer‑te qual é minha proposta. Primeiramente, faremos algumas fotos no centro do relvado, depois começamos a entrevista, propriamente dita. Parte dela no relvado, ainda em meio a fotos, parte dela no restaurante. Concordas? – Não vejo problema – respondeu Manoel, constrangido, deixando‑se levar pelo repórter. O fato é que logo que vira Nuno em companhia de Paiva, Manoel pensara em recusar a sessão de fotos, peremptoriamente, mas nada fez, além de um aflito esgar facial, que o entrevistador não percebeu ou dissimulou não haver notado. Paiva uniu os calcanhares, alçou‑os do solo, ergueu teatralmente os dois antebraços e uniu o polegar e o indicador de cada uma das mãos, como se estivesse esticando um fio invisível à altura do peito. – O administrador do estádio já nos autorizou a fazer as fotos. Podemos ir? – perguntou ele. Paiva desfez o gesto; Nuno ergueu a sacola que depusera no chão e rumou na direção de um acesso lateral, à entrada do portão maior. Manoel caminhava lado a lado com Paiva. – Sem parar, até o centro do relvado – avisou o repórter. O fotógrafo atravessou o centro do campo, virou‑se na direção de Manoel e disparou as primeiras fotos, sem que o ex‑jogador tivesse tempo de retirar os óculos. – Já começamos? – lamenta Manoel, sentindo‑se surpreendido pela lente de Nuno. – Sim, já começamos – diz Paiva. – É tudo muito natural – acrescentou, com as duas mãos nos quadris, buscando a direção da luz do sol. Paiva voltou‑se para Nuno. – Quero algumas fotos escuras, sombreadas, para dar ideia de isolamento e tristeza. Talvez daquele outro lado, com Manoelzinho nas arquibancadas. – Para que tudo isso? – perguntou o ex‑goleiro, retirando discretamente os óculos. – Sou eu quem faz as perguntas – advertiu amistosamente a voz de falsete sempre desafinada de Paiva. Manoel enfiou as mãos nos bolsos largos das calças e se deixou fotografar, como alguém que acabasse de acatar o conselho médico e permitisse que lhe aplicassem a injeção salvadora. – Agora, senta‑te bem ali – disse Paiva. Manoel enfiou novamente os óculos para localizar o lugar apontado pelo repórter. – Queres que me sente naquele sítio? – Sim, na faixa em que não bate sol, mas podes ficar com os óculos, não faz mal – diz Paiva. – Não, espera, vamos fazer uma sequência sob as traves, antes. Vamos, Nuno, vamos. Manoel se afastou do repórter e caminhou na direção apontada. O fotógrafo foi atrás, sem pressa, resistindo aos estímulos de uma mão invisível que o empurrava para diante. Feitas as fotos sob os arcos, ambos voltaram. – Agora, sim, Manoel, faz favor de sentares ali. Muito bem. Agora dobra o tronco para frente, coloca as mãos no queixo, como se estivesses pensativo – acrescentou o repórter, elevando a voz para se fazer ouvir pelo ex‑jogador. Nuno seguiu maquinalmente o movimento do entrevistado. – É essa a ideia de naturalidade que tu tens? – perguntou maliciosamente Manoel, enfiando as lunetas no nariz. – Vamos, vamos, é só por um segundo. Depois de bater algumas fotos, Nuno aproximou‑se lentamente das arquibancadas, sentou‑se alguns degraus abaixo de Manoel, permanecendo ali, no aguardo de novas instruções. Paiva retirou um pequeno gravador do bolso e se dirigiu também até onde se sentara Manoel. – Quantos anos jogaste no Benfica? – Dois anos e meio. – E antes? – Sheffield Wednesday. Três anos. – E antes? – Oh, pá, tu não sabes já tudo isso? – repeliu Manoel. – É só para testar o gravador. – Se é só para testar, respondo‑te que não sei em que clube joguei antes, porque não conseguia perceber o escudo na camisola. – Tem paciência, aí está – diz Paiva, voltando a gravação e verificando o volume. – Pronto, está bem assim, começamos de verdade – aduziu o repórter. – O que representou para ti o afastamento do futebol, na altura em que eras reconhecido em todo o país? – O futebol era o que melhor sabia fazer; com ele conquistei respeito; e com o dinheiro ganho, conquistei independência. – E acrescenta: – Era, em suma, tudo, ou quase tudo o que eu tinha. – Tu te arrependeste de haver iludido os que confiaram em ti? – perguntou Paiva, indo direto ao ponto. Manoel retirou os óculos do rosto e os apertou discretamente entre as mãos. – No último clube em que joguei, o Benfica, defendi seis penalidades máximas em menos de um ano, algumas dezenas de bolas dificílimas e uma centena de outras. Fiz o que qualquer bom guarda‑redes faria pelo seu clube. Não traí ninguém. – Não quis dizer isso – retrucou Paiva. – Mas não podes negar, permite‑me a franqueza, que tu escondeste o fato de seres cego como uma topeira. O tom de voz de Paiva não escondia um de seus graves defeitos: a incapacidade de se controlar quando o momento o exigia. E, junto com esse defeito, outro, que era o de antagonizar todo aquele que se encontrava próximo dele, e de exagerar o peso do braço, em situações em que para obter o que pretendia seriam necessárias justamente doçura e lhaneza. O entrevistado recolocou os óculos, olhou ao redor do estádio vazio, acusou o golpe, mas reagiu. – Com ou sem o problema visual, vesti a camisola com profissionalismo. Se não fosse aquela partida contra o Sporting, talvez estivesse fazendo um papel melhor do que os sucessores do meu posto têm feito desde então. – Sem dúvida, não contesto. Achas então que a diretoria do clube não te deveria multar e afastar? – Francamente creio que não. Pois não era minha responsabilidade avaliar minhas próprias condições físicas, mas do departamento médico, que, se não sabia que eu enxergava mal, ao menos desconfiava. – Achas realmente que deveriam dar‑te novamente a camisola de arqueiro no jogo seguinte? É isso o que tu pensas? – insiste o entrevistador, levando a conversa por uma vereda perigosa. – Há corredores de carros de corrida sem visão perfeita. Há mesmo alguns com deficiência de visão, como o Bob Rahal, e que terminam na dianteira. – Corredores de carros trabalham sentados, não têm contato físico com os outros competidores – argumentou Paiva. – Joguei aproximadamente 90 partidas pelo Benfica, mais de 100 pelo Sheffield Wednesday. E não sei mais quantas por outros clubes. Apenas uma vez, uma única vez, em centenas, cheguei a perder a lente de contato em um jogo. – E foi fatal! – acrescentou Paiva, exaltado. O pequeno gravador com microfone embutido tremia em suas mãos. – Era para dares tua opinião que me chamaste aqui? Se soubesse disso, não teria vindo! Pois a tua opinião e a de teu jornal pouco me importam! – rebateu Manoel arrancando os óculos do nariz. Paiva bateu com a palma da mão direita na própria perna. – Façamos o seguinte: mudemos de assunto. O motivo desta entrevista não é tua deficiência visual. – E qual é então o motivo? – perguntou Manoel. – Dir‑te‑ei ao almoço. Tu almoças comigo? – perguntou Paiva. – É um convite do jornal – disse, finalmente conciliador. Agradava a Manoel impor sua existência, desiderato que imaginava alcançar enfrentando o lado perverso do mundo com as armas da sua verdade. E, naqueles instantes, esse mundo maligno estampava‑se por inteiro na cara ictérica de Paiva. Contudo, ao mesmo tempo em que as palavras do entrevistador afrontaram‑no – como uma espécie de simulacro da opinião pública, e em que, ao ouvi‑las, sentira‑se motivado para o embate, instigado para lutar –, a quase intimidade com o oponente e o jogo melífluo e intrigante, que parecia começar agora, excitavam sua imaginação. Era como ter o atrevimento de esfregar as mãos na focinheira de um leão faminto. Por essa razão, a resposta de Manoel não poderia ser outra. – Pode ser, por que não? – E o que tu tens feito para sobreviver? – perguntou Paiva, segurando o braço do ex‑jogador, ao mesmo tempo em que se levantava do degrau em que se encontrava. O fotógrafo guardou seu equipamento e seguiu o jornalista. – Vivo das minhas magras rendas – respondeu evasivamente Manoel. – Podes ser mais explícito? – Na ocasião em que parei de jogar, era sócio de uma pequena pensão no Gerês, e ainda sou; possuía, além disso, uma casota no Algarve e dois andares em Lisboa. – Tinhas seguro para a eventualidade de não poderes jogar mais? – Sim, tinha – respondeu Manoel, enquanto caminhava ao lado do repórter para fora do estádio. – Então vives bem, apesar de não trabalhares mais? – pergunta conclusivamente o entrevistador. – Não vivo como vivia antes, nem tenho mais os dois imóveis aqui em Lisboa, que comprei com o dinheiro de minha transferência para o Sheffield. Mas não estou mal. – Portanto, vives de renda – insistiu Paiva. – Não vivo inteiramente no ócio. Algumas vezes auxilio meus pais no negócio da família. Mas a bem da verdade não preciso disso. – E que negócio é esse, exatamente? – Um estabelecimento comercial, um café com sala de almoço, ao pé da Quarta Parada, no Campo de Ourique. Os três atravessam a ampla calçada em frente ao estádio. O carro do jornal os aguarda. – E de onde és? – perguntou Manoel, já no carro do jornal, a caminho do restaurante. – Nasci em Amarante, em uma morada humilde, quase ao pé do Zé da Calçada, na 31 de Janeiro. Conheces? – Penso que cheguei a entrar na cidade, mas não me recordo se cheguei a permanecer lá por mais do que alguns minutos. O repórter continuou: – Aos quinze anos, mudei‑me com a família para Viseu, antiqua et nobilissima cidade. – Essa eu conheço bem – disse Manoel, acomodando‑se no fundo do assento do automóvel. – E conheço não só porque lá joguei, mas porque lá voltei inúmeras vezes. Hospedava‑me no Hotel Avenida, de onde, a pé, saía ao encalço de uma Lídia que não era a do Ricardo Reis. E a voz do ex‑jogador se tornou mais branda: – Vem sentar‑te comigo, Lídia, à beira do rio, sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. Manoel olhou para fora do carro, como se a observação da paisagem pudesse prolongar as sensações que o poema de Reis evocara. – Então, gostas de poesia! – exclamou Paiva desconcertado, acentuando as sílabas com afetação. – A poesia veio antes do que o interesse pelo futebol. Ficou todavia abandonada, esquecida em benefício de coisas mais práticas, mas não nego que aprecio muitíssimo. – E eu também – acrescentou Paiva. – Quando recitavas o verso falando do rio, lembrei‑me novamente de Amarante, e de seu rio, que como tu sabes é o Tâmega; rio que passava defronte de minha casa, e lá ainda passa, com seus carvalhos e plátanos nas margens; com seus salgueiros beijando a água, numa mansuetude que não era a dos meus quinze anos. Paiva interrompe‑se por um instante e prossegue: – A casa defronte do rio é que não é mais minha, infelizmente. – Sim – balbuciou Manoel, ainda fitando as ruas através da janela do carro. Voltou‑se em seguida para o repórter: para onde me levas? Paiva, que por distração nada dissera ao motorista do carro, curvou‑se sobre o encosto do banco dianteiro. – Seu Moraes, vamos a uma marisqueira na Praça do Chile. Ao chegar nas proximidades, mostro‑lhe o sítio. O motorista balançou a cabeça afirmativamente. – Não é o restaurante do Castelo de São Jorge, nem tem seu luxo, mas come‑se bem, e isto é o que importa – disse, dirigindo‑se a Manoel. Sem saber ao certo se foi a menção que Paiva acabara de fazer do restaurante ou se foi pelo fato de este haver mencionado seus pais, ou, ainda, por causa das duas coisas combinadas, o fato é que a lembrança do compromisso de substituir a mãe nos afazeres do bar, enquanto esta se ausentasse, veio à mente de Manoel como um soco na testa. – Paiva, ao chegarmos à marisqueira, dar‑me‑ás licença de telefonar, pois não? – E acrescentou, como se estivesse endereçando ao repórter as desculpas devidas à mãe: – É que não vejo como estar em dois sítios ao mesmo tempo. Vou avisar que me atraso. Razões profissionais. – É assim que se fala – disse Paiva, estimulante, sem contudo compreender exatamente a que se referia Manoel ao dizer da impossibilidade de se encontrar em dois lugares diferentes. O carro contornou a Saldanha e virou na direção da Avenida Casal Ribeiro. Manoel calou‑se, nutrindo uma ideia fixa: telefonar, telefonar assim que puser o pé na calçada. Uma hora deve bastar para o as palrações de Paiva, considerou. Depois, é tomar um táxi e desabalar para o Campo de Ourique. Mais uns trinta minutos. Não mais do que isto. – Já estamos na Almirante Reis – avisou Paiva, compelido pela necessidade de preencher o silêncio que se instalara dentro do carro. Ao lado do motorista, Nuno olhava absorto à frente, segurando, como se embalasse um cesto de bebê, a sacola com seus petrechos de trabalho. O carro afastou‑se da Alameda Afonso Henriques. – Moraes, deixa‑nos mesmo ao pé da Praça do Chile. Depois procura uma vaga em uma travessa da Morais Soares ou da Pascoal de Melo, e nos encontra no restaurante. – Qual o nome? – pergunta Moraes. – Olha, é bem ali. Podes parar. Podes parar, homem de Deus! Estás vendo? – bradou Paiva, gesticulando energicamente. – Marisqueira Chimarrão? – Pronto. Aí tens – disse o repórter, ainda arrebatado. – Desçamos, antes que o Senhor Moraes nos leve de volta ao Estádio da Luz. A iluminação é débil e tons vermelhos predominam na marisqueira que, diferentemente das outras, exala um intencional ar afrancesado de bistrot. Quando a porta da rua se cerrou atrás de Manoel, também ficaram do lado de fora a orquestração de ruídos da Praça do Chile – com seus bondes, seus comerciantes à soleira das portas, sua clientela simples, de modos apressados e fala ácida – e o dia de luminosidade incandescente. Paiva avançou na semipenumbra e escolheu uma mesa redonda e ampla, no centro do salão, de modo que todos se acomodaram perfeitamente ao redor dela. Quando o garçom ameaçou tirar os talheres em frente à única cadeira vazia, Paiva advertiu: – Aguardamos mais alguém, podes deixar como está. Em seguida dirigiu‑se a Nuno: – Quero ver quanto tempo levará para o Moraes estacionar o veículo. Esta cidade está a entupir‑se de latas. Manoel, nem bem se sentara, saltou como uma mola de sua poltrona e se pôs de pé, aflito. – Vou telefonar à casa. Já volto. Enquanto o ex‑jogador despachava‑se marisqueira adentro, no intuito de localizar um telefone, Paiva e Nuno manuseavam o cardápio. O garçom traz três buchas em um cesto. Os dedos de Nuno pinçam uma delas, nem bem tocam a mesa. Paiva olha desinteressadamente os modos do fotógrafo. Do outro lado do restaurante, ao canto de um balcão cheio de pratos e copos sujos, Manoel ouve seu pai atender ao telefone, e diz: – Aqui é Manoel. Seu pai não responde de imediato, como se esperasse a construção do sentido da frase. Manoel continuou: – Infelizmente vou atrasar‑me deveras. Quero pedir desculpa à mãe. – Tua mãe já saiu – diz o sr. Albano Aires. – E tu me fizeste mais esta! Não posso mais confiar em ti. – Eu irei, prometo que irei. É só mais uma hora, talvez menos – defende‑se Manoel. – Tu vais me obrigar a fechar em pleno dia o bar, coisa que jamais me aconteceu antes! – E se eu não estivesse aqui, como o senhor se arranjaria? – Não me faças rir. Tu sabes bem que não empreguei o Fonsequinha porque tu me deste tua palavra que ficarias algumas semanas a atender o balcão. – E arrematou: – O bar é nosso sustento, não nosso passatempo! – Eu já vou. Tem paciência, sim? Quando Manoel chegou à mesa, já lá estava o motorista, abocanhando a última bucha que sobrara. Os comensais faziam seus pedidos e Paiva encomendava o vinho. – O que vai ser? – perguntou o repórter a Manoel. – Qualquer coisa – disse o ex‑jogador. – Queres uma sugestão? – Sim, faço gosto que me escolhas o prato – respondeu Manoel. – Pede umas ameijoas a Bulhões Pato e uma posta de cherne com grelos – sugeriu Paiva. – Estou sem apetite, ademais não posso demorar‑me demais. Só o peixe, está bem? – Como quiseres. O repórter em seguida dirigiu‑se ao garçom e encomendou um vinho branco do Douro. O serviço avançava com lentidão. A impaciência de Manoel aumentava e o ex‑jogador exibe‑a agora arrancando os óculos do nariz e recolocando‑os entre uma e outra mirada no mostrador do relógio de pulso. Paiva apercebe‑se disso. – Antes que teu descompassado coração pare de bater, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, quero que o Nuno deixe de lado a sopinha e faça‑me o favor de trabalhar. E tu, quero que me ouças, está bem? Manoel assentiu. Incontinenti, o fotógrafo limpou os beiços e abriu o zíper da maleta, dali extraindo a câmera fotográfica. – De que se trata então? – perguntou o ex‑goleiro. – É simples. Queremos‑te novamente em circulação. É por isso que a editoria de esportes incluiu‑te na pauta. – E para quê? – O jornal acha que uma matéria favorável sobre ti bastaria para que o país inteiro voltasse a ver‑te com simpatia, e até com saudade. – Sim, mas repito: ainda não percebi qual a finalidade. – Queres um pouco de vinho? – pergunta Paiva, sentindo‑se sutil. – Basta, assim está bem – diz Manoel, levantando o copo da mesa, mas não escondendo sua ansiedade para que o repórter pusesse de uma vez as cartas sobre a mesa. – O que o jornal pretende é oferecer‑te uma crônica esportiva semanal. Uma coluna, para escreveres sobre o que tu conheces. E com inteira liberdade de opinião, como convém a uma coluna assinada. Mas antes de mais nada, como te disse, precisamos devolver‑te ao mundo, fazer teu nome ouvido aqui e ali, compreendes? O ex‑jogador recolocou os óculos que havia retirado segundos antes. À sua frente, o rosto de Paiva, com seus olhinhos de rato, seus modos de pequeno roedor, endereçando‑lhe uma proposta salvadora e inteiramente inesperada. – Queres dizer que o convite está condicionado à receptividade de meu nome? O flash da máquina de Nuno espocou na retina de Manoel. – Não é bem assim. Achamos que uma matéria jornalística simpática sobre ti daria maior segurança a teu regresso; prepararia, por assim dizer, teu caminho de futuro cronista. – Garantiria o empreendimento do jornal, isto é o que queres dizer. – Se entendes assim – respondeu Paiva, reticentemente. – Estão por acaso os senhores imaginando que em benefício do bom nome do jornal e sucesso da seção eu consentirei em fazer publicamente um mea culpa relativo a um incidente ocorrido há três anos atrás, e do qual não tenho qualquer remorso? – De modo algum, tu estás sendo precipitado e leviano, se me permites a franqueza – atalhou o repórter. – Não admito que me dirijas a palavra desta maneira! – contra‑atacou Manoel. – Tu pensas, ao que parece, que o mundo inteiro gasta seu tempo a preparar‑te uma peça? O pequeno roedor defendia seu patrão com as armas da ironia, pensou Manoel. – Todo ele, não – redarguiu o ex‑jogador. O repórter serviu‑se de mais vinho, atacou uma lasca da batata cozida que acompanhava as lulas, deixou sabiamente escoar alguns segundos e respirou fundo. Manoel tinha os cotovelos abertos como se fosse voar; os dedos contraídos, os punhos sobre a mesa. – Independentemente de tua opinião e de tua má vontade, penso que é uma oferta tentadora que o jornal te faz. Basta seres prático e desarmares‑te. Lucrarás muito com tudo isso – profetizou. – E a parte financeira? – Agora, sim, falas bem. Ora, a parte financeira não deixa a desejar. Garantote – diz Paiva. – Se teu nome repercutir bem, com certeza não precisarás vender mais nada daquilo que é teu, para pagares tuas contas. E ainda reconquistarás a celebridade. – E para quando é isso, quero dizer, qual é o próximo passo? – Breve tu serás chamado – afiançou o repórter. – Deixa tudo comigo,
está bem? Tua matéria sairá com grande destaque, verás. Mas acalmate.
Não tenho raiva de ti. |
||||||
|
|
||||||
|
Ricardo Daunt (Brasil) |
||||||
|
|
||||||
|
© Maria Estela Guedes |
||||||
|
|
||||||