
CLAUDIO WILLER
Tributo
ALGUMA PROSA
VOLTA (1996) Capítulos finais
16
Ao final do longo, largo e luminoso corredor, seu carpete vermelho contrastando com as paredes de um branco atenuado por sugestões de mármores e metais, no interior do monólito que brilhava sob o sol do começo de uma tarde de abril, o prédio da Câmara Municipal de São Paulo – mais um dos blocos envidraçados da arquitetura paulistana dos anos 60, construído de costas para o Vale do Anhangabaú, permitindo que seus janelões do fundo se escancarassem sobre o centro de São Paulo mostrando o trânsito congestionado e obras de uma permanente reforma – estava o salão onde eu deveria falar sobre literatura e ocultismo.
Fui recebido pela organizadora do encontro. Apresentou-me a pessoas e grupos que conversavam à porta: Estes são rosacruzes, dizia a anfitriã – Esses são do Círculo Esotérico – Esses – mostrando-me uns mais coloridos e paramentados – são da Ananda Marga. – Aí estão os Rajneesh, indicou ocupantes de mantos cor de abóbora que já havia reconhecido, menos conspícuos que o solitário Hare-Krishna em um canto. Ainda me fez conhecer maçons, praticantes da Carma-Ioga, adeptos da Eubiose, possivelmente um antroposofista, um gurdjieffiano, outros representantes de seitas e ramificações de doutrinas.
Muitos deles certamente vinham do bairro da Liberdade, logo ali, a uns poucos quarteirões da Câmara. O bairro ao mesmo tempo oriental e ocultista, com algumas de suas fachadas ainda art nouveau, belle-époque e século passado à sombra dos prédios com escritórios de advocacia lá instalados pela proximidade do Fórum, que oferece uma alternância de cheiros de peixe, molho shoiu e velas queimando nos adros das igrejas das Almas e dos Aflitos a quem passa por elas e passa pelas portas das mercearias e restaurantes japoneses, bazares de quinquilharias importadas, casas de artigos de Umbanda e Candomblé, por sua vez também vizinhas de uns templos pentecostais, uma loja maçônica, a sede dos rosacruzes, o outrora imponente prédio do Círculo Esotérico dos teosofistas cuja torre foi demolida para dar lugar a uma via expressa, e, bem na entrada do bairro, a livraria Pensamento, também dos teosofistas, com sua bela fachada com frontões de titãs aparentando sustentar às costas o andar superior e o teto do sobrado. Adiante, na direção da Aclimação, a sede do Soto Zenshu dos zen-budistas (continuarão praticando a imobilidade extática no mesmo lugar, na descida da Rua São Joaquim?). E, quem sabe, confrarias mais secretas, endereços conhecidos por uns poucos discípulos que sabem orientar-se por ruelas congestionadas pelo trânsito, atravessando visões de filmes de samurai outrora projetados em telas de cinemas japoneses que não deixaram qualquer vestígio, a não ser na memória de seus frequentadores.
Minha palestra fazia parte de um encontro promovido por um centro de pesquisas, um grupo de pessoas interessadas em uma gama de atividades, doutrinas e modos de pensar que alcançava desde a ioga e a medicina natural até a alquimia e astrologia, englobando disciplinas tradicionais, pseudo-ciências e a cultura alternativa. A atração pelo não-oficial aproximava manifestações distintas, até opostas, enfeixadas meio arbitrariamente por não integrarem nem a religião, nem a ciência instituída. Algumas, desdobramentos do mesmo pensamento mágico, manifestações diversas da tradição com raízes na Antiguidade.
A sensação de estranheza por estrear como palestrante nesse tipo de encontro acentuava-se pela escolha do local, um dos auditórios da Câmara. O alvo reduto de atividade legislativa, centro de poder no centro da cidade, contrastava com o que os assuntos discutidas nos dois dias do encontro teriam de subterrâneo e periférico. O elogio da contemplação no meio da agitação do prédio e da própria cidade; do secreto no espaço público; da austeridade e disciplina enquanto em volta se negociava e manipulava; a demonstração da existência do oculto na sede de um poder visível. Era como se a diferença entre nossas palestras e debates e a atividade legislativa no plenário alguns andares abaixo não ultrapassasse o fato de nossos pronunciamentos não saírem publicados no Diário Oficial.
Vindas do bairro oriental ou de qualquer outra parte, as pessoas à minha frente formavam um público especial. “É hoje”, pensei, avaliando a ousadia ao dispor-me a falar de ocultismo para quem o estudava e praticava. Arriscava-me a ser questionado por imprecisões na matéria que conhecia lateralmente, pela literatura, ou por alto, através de leituras previsíveis. Certamente, lá estava gente que havia ido além do Dogma e Ritual de Alta Magia de Elifas Levi; conhecedores do sentido dos símbolos de velhos grimórios, formulários e tratados; praticantes de rituais e procedimentos neles descritos; leitores para quem os calhamaços de A Doutrina Secreta e Ísis Revelada de H. P. Blawatsky eram matéria corrente de estudo. Que perguntas fariam, de que modo me questionariam os senhores em graves ternos cinza? Preocupavam-me mais que o bloco de jovens paramentados como indianos ou tibetanos, vendedores de bastões de incenso no restante do seu tempo.
Em uma hora, queria tratar do principal da história da literatura em seus vínculos com o oculto. Ocasião para sistematizar leituras, reflexões e acontecimentos. E lá fui eu, a falar do oculto, do mítico e do mágico, que se relacionam e confundem. O mito, modo de interpretação do mundo dos sentidos, do real imediato, quadro de referência da magia, do saber hermético, fala do que está sob o mundo e o sustenta, e do que está acima dele e o contém; do outro lado, que pode ser alcançado através do ritual, diálogo com o sagrado. A travessia de um lugar a outro, do aqui ao além, é feita pelo xamã, o mago tribal. Primitivo, porém universal, presente da remota planura asiática até o aqui e agora, logo ali, apenas um pouco mudado, refazendo-se no ritual sincrético, circulando em um congresso de ocultistas, conduzindo alguma seita. E nas páginas dos livros: o Don Juan de Castañeda e suas cópias.
No xamã está a origem da poesia como linguagem revelada. Citei Mircea Eliade ao dizer que o xamã, para deslocar-se no tempo e superar a morte, recebe pela via iniciática a linguagem secreta de um mestre ou espírito, e passa a dominar um vocabulário próprio, diferente das palavras da tribo. A canção do rio ou a fala dos pássaros, a voz dos regentes do vento, da chuva e do relâmpago, da floresta e suas árvores, dos rios que se expandem e contraem, da claridade e da escuridão.
Com os textos sagrados, a produção literária que inicia um povo, passa a existir o tempo. Os acontecimentos saem da imobilidade de um perpétuo presente e ganham um movimento, que pode ser circular ou linear, rumo a um futuro que vai se afastando a cada passo em sua direção. Se a palavra é a matriz do tempo, a literatura é sua medida ao tratar da origem ou de um fim que também é um recomeço.
As relações entre mito, magia e literatura incluem a obra que cria e instaura novos mitos, ou recupera e revitaliza os já existentes. Não me recordo até onde fui, o quanto avancei nesse temário. Falei das lendas, literatura inicialmente oral. Mencionei livros sagrados, Bíblias, Alcorões e textos védicos, narrativas míticas registradas por escrito. Observei que, em algum momento, ou em diferentes momentos das histórias de diversos povos, a narrativa deixa de ser o relato da origem, da criação do mundo, de deuses e poderes extra-mundanos, para falar também do homem. Ainda não do exclusivamente humano em um mundo dessacralizado, porém da tensão entre dois mundos, do confronto entre liberdade e destino, como na tragédia grega. Comentei o retorno do sagrado à literatura na Idade Média, época também de gestação de uma literatura profana, a lírica trovadoresca. Nas epopéias e sagas, algumas vindas da Antiguidade, a exemplo dos Nibelungos e do ciclo arturiano, também está presente a tensão entre homens e deuses, assim como entre o cristianismo que se instaura e as divindades pagãs que recuam e se recolhem a seus Walhalas em cinzas. No ciclo arturiano um mago, Merlim, é o mediador entre dois mundos, confirmando a magia como meio de negociação entre a esfera humana e sagrada.
Do que mais falei? Devo ter dado mais exemplos da presença do mágico e do mítico na literatura medieval e renascentista. Citei esses monumentos, estruturas reveladoras de cosmogonias, como a Divina Comédia. Passei pela épica renascentista, pelas Jerusaléns libertas e Orlandos furiosos, até chegar ao final do século XVI, entre 1580 e 1600. O tempo em que Camões publicava seu Os Lusíadas, enquanto Cervantes, terminadas suas primeiras tentativas literárias, já se dedicava ao Dom Quixote. São contemporâneas duas obras de dois dos três maiores escritores de seu tempo – o terceiro é Shakespeare – que correspondem a movimentos antagônicos. Uma delas, a do lusitano, impregnada de mito e magia, identifica as conquistas marítimas portuguesas às epopéias da antiguidade. Os navegadores de Vasco da Gama refazem a viagem dos argonautas, protegidos por Vênus, afrontando Dionisos. Flanqueiam o Gigante Adamastor, guardião da passagem entre o conhecido e o desconhecido, razão e mito.
A outra, do espanhol, dessacraliza o passado heróico das giestas de cavalaria e o substitui por outra imagem do homem e de sua relação com o mundo. Cervantes rompe um cordão umbilical entre literatura e o mágico e oculto. Coincidindo com a afirmação do universo coperniciano, razão cartesiana e física newtoniana, Dom Quixote mostra o homem entregue a si mesmo, sem perspectiva de transcendência em um mundo esvaziado, despido de mitos, onde seres lendários não passam de ilusão dos sentidos, e os adversários do herói são moinhos de vento e não gigantes. Conforme já o mostraram Borges, Octavio Paz, Foucault e tantos outros, ao escrever sobre um decadente fidalgo andaluz, que por sua vez escreve seu livro, Cervantes inaugura o jogo de espelhos, a obra que se auto-reflete ao tornar sua escrita um tema da escrita. Em uma era de predomínio da razão, outra concepção da literatura e de sua relação com o mundo e o autor.
Isso não significa que o oculto tivessem sido absorvido pela racionalidade, desaparecendo do pensamento ocidental. A ruptura foi aparente. O século XVIII, ou Século das Luzes, é uma época dividida. De um lado, o discurso da claridade, da razão triunfante pela voz de enciclopedistas e iluministas. De outro, um avanço equivalente da noturnidade, um recrudescimento da atividade ocultista e da especulação visionária, preparando o terreno para o Romantismo. Para cada Voltaire, um Cagliostro. Afastados do saber oficial, o mítico e mágico retornam pela porta dos fundos. Não apenas à sombra, nos desvões dos corredores do simétrico edifício da modernidade, do qual o prédio da Câmara Municipal, onde eu prosseguia minha palestra, podia ser uma alegoria. Especulava-se sobre conhecimentos secretos também à luz do dia. Magos como Cagliostro e Saint-Germain foram personagens da corte, envolvidos em intrigas palacianas, na política da época.
Foi (ainda é?) um tempo de coexistência e tensão entre mundos opostos. Representa essa dualidade o sueco Emanuel Swedenborg, matemático, físico e biólogo, detentor do saber científico da época, e igualmente autor de especulações delirantes, aplicando o princípio da analogia e das correspondências. Da sua obra, permaneceram e tiveram influência, através de discípulos e seitas, os volumes sobre a natureza da divindade e dos anjos, habitantes de outros planetas e esferas cósmicas.
Faz parte do mesmo século XVIII outro enorme visionário, William Blake, que transformou o misticismo em substância da criação poética em sua crítica à tradição cristã, na busca da síntese entre Bem e Mal. É quando também se expande a seita dos martinistas ou iluminados, os discípulos de Louis-Claude de Saint-Martin, de grande influência no século seguinte: magos como Elifas Levi foram seus seguidores. E também escritores. Um deles, o poeta romântico Gérard de Nerval – autor de Les Illuminés, sobre a vinculação a essa seita de escritores seus predecessores – é lembrado não só por sua obra e por suas excentricidades, a loucura registrada em textos como Aurélia e o final trágico (suicidou-se), mas pela influência da Cabala em seus poemas.
Prossegui na fala sobre exploradores de um Oriente imaginário e uma Antiguidade mítica de arcanos, intensificando suas pesquisas da metade do século XIX em diante, resistindo à virada do século e chegando até hoje, chegando a nós. Alguns dos meus ouvintes faziam parte de sua descendência imediata: os teosofistas do Círculo Esotérico e algum maçom filiado a lojas abertas por Cagliostro. Mostrei a permanência desse vínculo em Rimbaud, nos simbolistas, nos pré-modernistas, até chegar aos surrealistas. Até chegar ao dia-a-dia da São Paulo do final do século XX.
Apoiei-me no texto inédito da palestra de Maria Lúcia dal Farra, aquela da Semana Surrealista. Li um de seus trechos sobre Baudelaire para mostrar a meus ouvintes que tínhamos algo em comum, que podia haver uma relação de cumplicidade entre nós: …o esforço em trazer para a poesia contribuições de uma tradição esotérica que dificultava a leitura dos poemas, causando sérios embaraços de decodificação, faz parte da recusa baudelairiana em participar do mercado cultural. (…) Esta inserção do esoterismo em sua poesia, inserção de uma cultura que sempre se manteve à margem da sociedade, implica uma resistência aos discursos dominantes e facilmente consumíveis, na medida que cria uma obra que se faz a contrapelo, contra as leis do mercado.
Aproximava-nos então, a mim e a minha platéia, estarmos em uma cultura de resistência, fora do mercado de bens culturais. Mas estaríamos? Obras de esoterismo e pseudo-ciência haviam deixado de ser um produto à venda unicamente sob o portal de titãs da Livraria Pensamento. Horóscopos eram uma arte praticada por muito mais gente que os sisudos, porém simpáticos senhores do Círculo Esotérico.
O hermetismo como modo de resistência levou-me a um tema de particular interesse, as heresias, especialmente a gnose. Ainda devo um estudo mais amplo à linhagem gnóstica, que reaparece, misturada a temas do hermetismo egípcio e helênico e da Cabala, em obras literárias. É notável a sobrevivência de idéias nascidas nas areias da Palestina e Egito, inventadas por um concorrente do Cristo, um certo Simão o Mago, meio personagem histórico, meio lendário, para depois se disseminarem pelo restante da Ásia Menor em remotos séculos I e II, dispersas por seitas, religiões secretas como a dos ofitas, adoradores da serpente da Gênese. Os crentes na criação do mundo por uma divindade decaída, na salvação humana pela obtenção de um conhecimento resultando, não da adesão, mas da luta contra Deus. Para alguns, pela adoção de um código moral às avessas. Livros de história das religiões passam rápido demais por um assunto tão intrigante. Mencionam “gnósticos dissolutos”, admitem a existência das heresias radicais, misto de religião e devassidão, onde o culto se confundia com a orgia, e a libertinagem chegava a níveis não imaginados por qualquer imaginação moderna, e seguem em frente.
Que William Blake é um escritor antecipado pela gnose, e não só pelo paganismo, é sabido. Não tão mencionados como gnósticos, há Lautréamont, Alfred Jarry, Antonin Artaud. Nos Cantos de Maldoror, logo na parte inicial, Lautréamont relata um encontro com Deus. O Criador está instalado no meio de um charco de sangue em ebulição, devorando como um abutre membros de criaturas que nadam nesse líquido. É uma paródia de Dante, invertendo a Divina Comédia, onde o charco sangrento é um dos círculos do Inferno e o devorador de humanos sofredores e pecadores é o Diabo. Então o criador, na versão de Lautréamont, corresponde ao demiurgo, Ialdabaoth, o decadente dono do mundo segundo seitas gnósticas.
Alfred Jarry, leitor dos Cantos de Maldoror de Lautréamont, teve formação em filosofia oculta que transparece em suas narrativas em prosa, menos divulgadas que a peça teatral Ubu Rei. Seu O Amor Absoluto, ao inventar um amor incestuoso entre o Cristo e a Virgem Maria, adota a perspectiva de um mundo invertido em que cada enredo contém seu oposto. O princípio hermético da analogia, da correspondência entre coisas distintas, é aplicado em sua proposta da Patafísica, arte das soluções imaginárias, e em textos que parecem exercícios de humor, como o poema sobre o caso amoroso entre uma lagosta e uma lata de corned beef: atrai-os sua afinidade por serem análogos, duas sólidas carapaças recheadas de carne… Antecipação do jogo do um no outro praticado pelos surrealistas décadas depois.
A filiação gnóstica de Antonin Artaud, criador do Teatro da Crueldade, precursor da contracultura e antipsiquiatria, leitor e admirador de Lautréamont e Jarry, foi exemplificada com os textos de sua fase final, as imprecações de Para acabar com o julgamento de Deus, um catecismo de heresias: É deus um ser?/ Se o for, é merda; mas ele não existe/ a não ser como vazio que avança com todas as suas formas/ cuja mais perfeita imagem/ é um número incalculável de piolhos. Isso é dito a partir de um ponto/ em que me vejo forçado/ a dizer não,/ NÃO/ à negação. A liberdade está no avesso: Então poderão ensiná-lo a dançar às avessas/ como no delírio dos bailes populares/ e esse avesso será/ seu verdadeiro lugar. O paralelo entre escritos de Artaud e idéias gnósticas é reforçado por seu uso de palavras sem sentido, pura sonoridade, em um procedimento análogo à linguagem adâmica dos rituais gnósticos: potam am cram/ katanam anankreta/ karaban kreta/ tanamam anangteta/ konaman kreta/ e pustulam orentam/ taumer dauldi faldisti… Para ele, toda verdadeira linguagem é ininteligível. Susan Sontag comenta que essas passagens têm um valor mágico: A atenção ao som e forma das palavras, como distinta de seu significado, é um elemento do ensinamento cabalístico do Zohar, que Artaud estudou na década de trinta.
É assim que uma crença da Antiguidade, banida como heresia nos primeiros séculos da nossa era, com seus remanescentes, bogomilos e cátaros provençais de Albi e Toulouse exterminados militarmente no século XIII, reaparece na literatura como sombra da História, expressão da revolta gravada no inconsciente contra um mundo e uma sociedade onde tudo está errado, fora do lugar. Adesão ao avesso na fascinação romântica pelo desafio, não apenas à ordem social, mas universal, que também reaparece nos delírios dos loucos, nos surtos dos psicóticos.
Tocando na heresia, procurava mostrar que a ligação com o hermético e oculto não precisa pautar-se pela circunspeção e rigor devocional. Minha digressão por autores não apenas rebeldes, porém blasfemos, pode ter sido uma provocação para sacudir a platéia do possível torpor provocado pelos até então três quartos de hora de incessante falação, além de chamar a atenção para esse caldo de cultura do alternativo e da negação tão enraizado na História. Também apresentava exemplos radicais de proximidade entre literatura e vida, de autores rebeldes cujas biografias se confundem com as obras, ao tratar do tema do ocultismo, pertencente à ordem do biográfico, das escolhas do autor.
Ainda passei por escritores que viveram acontecimentos que podem passar por sobrenaturais. Citei alguns mencionados em O Oculto, dando especial atenção, como modelo de escritor-ocultista, a Yeats e sua militância na Ordem da Aurora Dourada, certamente familiar a alguns dos meus ouvintes. A história do surrealismo, com seus sonos hipnóticos e manifestações do acaso objetivo, permitiu-me chegar às duas vias, dois modos de aproximação de literatura e oculto, do autor que se move na direção do oculto, do oculto desterritorializado pela poesia. Citei-me ao relatar, mais uma vez, os acontecimentos que culminaram com o reencontro do meu livro no sebo da Martinico Prado.
Concluí com a distinção de Octavio Paz, em O Arco e a Lira, entre poeta e mago. Ambos praticam operações semelhantes. No entanto, a meta do mago é o domínio das forças cósmicas e interiores. Busca o poder. Já o poeta da inspiração romântica se abandona a essas forças. Busca, quando muito, o poder sobre a linguagem. Ao mesmo tempo, submete-se a ela, torna-se seu servidor, aquele que lhe dá passagem. Dirige-se para a abdicação da individualidade, sua anulação e não sua afirmação.
17
Pronto. Podia terminar a palestra, insistindo em que a magia está na poesia, quando esta se projeta no futuro, vitoriosa sobre o tempo. Cravada no relógio, uma hora para meu resumo da ligação de obras e autores a temas do ocultismo. Encarei a platéia, à espera de perguntas. Por uns segundos, no máximo meio minuto, permanecemos nos fitando antes que eu desistisse de esperar que meus impassíveis e educados ouvintes, os maçons, rosacruzes, teosofistas, mais os seguidores de Ananda Marga, do Rajneesh e o solitário Hare-Krishna, dissessem algo. Agradeci e encerrei.
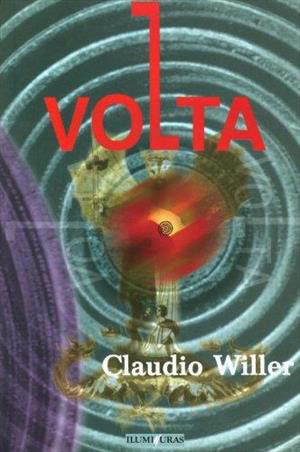 Não acredito que o silêncio que preencheu aquele intervalo fosse provocado pelo desinteresse, cansaço de quem havia perdido o fio da meada em algum trecho da viagem através dos tempos e textos. Não foi, espero, o silêncio da reprovação, recusa a discutir o que achavam descabido ou equivocado, acentuada por olhares de censura, expressões de desgosto. Menos ainda, o silêncio da imobilidade hipnótica, paralisia pelo espanto diante do inaudito, impossibilitando articular qualquer coisa. Nem uma tácita aprovação de minhas afirmações, daquelas modalidades de silêncio que sobrevêm quando a admiração inibe o questionamento.
Não acredito que o silêncio que preencheu aquele intervalo fosse provocado pelo desinteresse, cansaço de quem havia perdido o fio da meada em algum trecho da viagem através dos tempos e textos. Não foi, espero, o silêncio da reprovação, recusa a discutir o que achavam descabido ou equivocado, acentuada por olhares de censura, expressões de desgosto. Menos ainda, o silêncio da imobilidade hipnótica, paralisia pelo espanto diante do inaudito, impossibilitando articular qualquer coisa. Nem uma tácita aprovação de minhas afirmações, daquelas modalidades de silêncio que sobrevêm quando a admiração inibe o questionamento.
Talvez os deixasse perplexos e o silêncio fosse o resultado da confusão pelo excesso de referências. Sim, pode ter sido isso, afinal, com o mito em Camões, sua desmistificação em Cervantes, até aí estamos na cultura literário básica, mas a obra de Lautréamont, Jarry e Artaud já pedem conhecimento especializado. Ou então, conheciam os assuntos de que tratava e houve um recuo tático, fuga do debate secular: ao trazer à cena heresias, a gnose e seus representantes na literatura, tomava partido, situava-me do lado do negativo, do que podia ser magia negra, diante de representantes de uma magia branca que busca conciliar-se com a tradição cristã.
Possivelmente, muito provavelmente, esgotado o tempo previsto para aquele segmento da programação, não quisessem iniciar um debate que invadiria o horário da palestra seguintes. Podem, ainda, ter achado a literatura um tema distante de suas preocupações por terem contato mais íntimo com os signos, instrumentos de suas práticas e rituais.
Quem sabe, um silêncio da recusa a abrir o jogo, revelar conhecimentos iniciáticos, permitir que eu partilhasse segredos. Um silêncio provocado pela certeza da inutilidade em discutir o além dos limites do discurso e o interdito à reunião pública. Pode ter havido, ao longo daquela hora, um mal-entendido sobre o qual não se deram ao trabalho de alertar-me. Detive-me, em minhas histórias de acasos objetivos, escritores envolvidos em acontecimentos paranormais e citações de textos, na superfície, na face visível de um núcleo indizível e intraduzível. Eles sabiam que o escopo do ocultismo e disciplinas correlatas, alquimia, astrologia, artes divinatórias, quando praticadas a sério, não é provocar acontecimentos externos e manifestar poderes mágicos, mas a transformação interna, a ascese do praticante. Mas se a experiência interior é intraduzível, então para que palestras, qual a finalidade de um encontro desses?
Enfim, esse público tão diversificado em suas proveniências e filiações ofereceu-me uma soma de silêncios, pluralidade de motivos para nada perguntar, argüir ou comentar. Todos os que me passaram pela cabeça e mais alguns com que não atinava, ao dirigir-me para a saída do salão, acompanhado pela anfitriã, ainda cumprimentado por um dos senhores de terno e gravata: – Sua palestra foi muito profunda, disse-me. Profunda? Terá sido? Ou proporcionei uma manifestação da hybris, a ambição desmedida, querendo abranger tudo, incluindo-me na palestra e às histórias acontecidas comigo, consumando um despropósito igual a pontificar sobre teologia em um encontro de clérigos, sobre filosofia da ciência em um congresso de especialistas em física teórica?
Mas o que esperava da reunião com adeptos de seitas, herdeiros do hermetismo, continuadores do misticismo? Ou melhor, esperava algo? Se houve um encontro de duas tradições, literária e oculta, foi em minha fantasia. Acontecimentos reais servem a imagens, das quais o encontro na Câmara Municipal de São Paulo ensejou uma reordenação, um novo arranjo do que havia dito na Aliança Francesa, do que havia escrito em meu livro, do que havia lido, visto, vivido. Uma revisão de idéias, textos e fatos. Um retorno aonde havia estado.
Daquela palestra até este texto ainda há tanta coisa – tudo o que fui refazendo, retirando e acrescentando, em um estudo e uma discussão que são intermináveis, pois seus objetos são mutantes. Passado e tradição nunca são os mesmos. A cada vez que são evocados, é de outra coisa que se fala. Exemplo disso são os grupos e seitas que compuseram meu público. A recriação mítica das origens é própria deles, assim como já o faziam as heresias, gnose inclusive, inventando evangelhos apócrifos, e os cabalistas que atribuíram seus escritos a profetas bíblicos. Madame Blawatsky apresentou como manuscritos não apenas revelados, mas descobertos, origens de uma tradição tibetana, seus livros sobre Ísis sem véus e a doutrina secreta. Assim como o fez Elifas Levi ao recriar uma Cabala. E tantos outros, a exemplo de Cagliostro com sua maçonaria invocando o hermetismo de Alexandria.
Ao reinventar sua história, as seitas e doutrinas procedem de modo análogo a movimentos literários. O Romantismo criou sua Idade Média idealizada. Épicos da Renascença descobriram a seu modo a Antiguidade clássica, em particular a cultura helênica, e puseram-se a reescrever Homero e Virgilio. Surrealistas refizeram o Romantismo e se proclamaram seus herdeiros e continuadores. Borges nos trouxe novos ancestrais literários saxões e até islandeses, para ele insuperados criadores da narrativa. Tanto na história da literatura como do ocultismo, o olhar do presente, ao engendrar o futuro, transforma o passado alterando-lhe o sentido. Hebreus, gregos, egípcios, romanos, europeus medievais, chineses e indianos tornam-se outros, representações do que não somos, do que queremos vir a ser. E as duas tradições, a oculta e a literária, dialogam ao longo de suas histórias acontecidas, imaginadas, inventadas, transformadas a cada um de seus encontros, como as duas serpentes mercuriais, símbolo do hermetismo e por extensão de todo o saber, entrelaçando-se, cruzando-se e confundindo-se. Teço também um enredo ficcional, embora feito de acontecimentos reais?
Poderia terminar negativamente diante do silêncio a suceder-se a minha palestra, mostrando a dissolução das referências, perda de solidez do real. A ausência de respostas de todos a quem me dirigi, desde interlocutores em mesas de bares, passando por estudiosos do signo e da linguagem, conferencistas sobre surrealismo e seus ouvintes, até chegar a ocultistas reunidos em um simpósio, corresponde à busca do sentido da linguagem que não chega a lugar algum. Acaba no escrito sobre o que não sei dizer, por ser impronunciável. Por isso, conduziu-me a um percurso circular, à história, entre outras, de como, ao fitar a capa do livro com meu retrato estampado no sebo que me pareceu uma porta de entrada para o mundo dos mortos, antecipei que escreveria um livro futuro relatando como fui parar em um sebo, ao encontro de um exemplar de meu livro, para desenhar-se em minha mente o texto sobre o encontro de um livro, em um sebo, quando então…
Resta o movimento. O movimento entre dois pólos, do acontecido e do imaginado, da realidade e do texto. Consegui percorrê-lo em sua dupla mão. Do real ao signo, do acontecimento às palavras que o designam, e também no misterioso movimento oposto, avesso da escrita, do imaginário à realidade por ele constituída, não só trazendo o signo para perto do real, mas elevando o real ao plano do simbólico, para que o acontecido ganhe a luminosa liberdade do imaginado. O reverso da escrita é o que acontece depois de escrito. É a magia, o modo como signos contém um futuro.
Ao descer do décimo andar da Câmara Municipal, detive-me à porta do prédio envidraçado para resolver aonde ir, qual rumo tomar. À direita, tinha a praça da Biblioteca. Atravessando-a, o lugar onde haviam funcionado o Paribar e e os demais bares que já fecharam, ou que permanecem mas ninguém frequenta. À esquerda, se acompanhasse o compacto fluxo de trânsito, a Liberdade dos restaurantes agora lotados e abertos madrugada afora, das sedes de associações esotéricas, de vazios que já foram ocupados por cinemas japoneses. Bem à frente, bastando atravessar o viaduto e seguir pela Santo Antonio, o Bixiga de cafeterias e casas noturnas que já deixaram de ser frequentadas, da livraria na esquina da Treze de Maio e Santo Antonio, que permanecia aberta até a meia noite e também havia fechado. A minhas costas o Anhangabaú em obras, centro transformado em buraco de barulho e fuligem cercado por derelitos de fachadas sujas e pintura descascada.
Nada. Mais nada a fazer no fim de tarde ainda ensolarada em que deixava para trás a programação diversificada daquele colóquio, e sua platéia de habitantes de um mundo onde não havia entrado. Onde por pouco não entrei. Podia ter-me tornado membro de um desses grupos, frequentador de salões como o lugar onde, certa vez, estive – não no bairro da Liberdade, onde ainda se reúnem os que buscam conhecimentos secretos, porém na Mooca, na Rua da Mooca, a rua de lojas e sobrados cortada pela ferrovia – para conhecer a versão local de um MacGregor Mathers diante de seus discípulos, convidado por rapazes que pretendiam formar um grupo para traduzir A Serpente da Gênese de Stanislas de Guaita. E tantas outras vezes em que estive tangencialmente próximo da Cabala, de alguma ramificação da parapsicologia, de uma variante do misticismo oriental, dos cultos afro-brasileiros, de um autoproclamado alquimista (não sem episódios entre o curioso e o inquietante, como o do mestre de uma dessas disciplinas que se colocou ao lado do retrato de Cagliostro publicado no Miroir de la Magie de Kurt Seligman para mostrar-me como ambos, ele e o retrato no livro, eram absolutamente idênticos – mais tarde soube que o mesmo personagem imitou a façanha de Aleister Crowley em Lisboa e fez que o enterrassem em um buraco bem fundo em Florianópolis, despedindo-se dos discípulos antes de iniciar a viagem ao centro da Terra…).
Nessas ocasiões, faltou, para dar um passo à frente, a impressão de um chamamento, o despertar de uma vocação semelhante ao dia em que subitamente me vi a escrever frases de um poema. Fazia-me desistir desse passo a mais, assim como de permanecer no auditório da Câmara, a desconfiança da sua inutilidade, da impossibilidade de juntar pedaços de um mundo quebrado, hoje feito de salões separados que outrora ocuparam o mesmo lugar, aquelas sedes de clubes e confrarias onde era natural se encontrarem Baudelaire e Elifas Levi, Mallarmé e Sar Péladan, Yeats e Madame Blawatsky, cada um deles acreditando que o outro podiam ser parceiro na tentativa traduzir o mundo na linguagem comum a poetas e magos.
Não. Não podia ter sido o ostensivo prédio do Viaduto Nove de Julho, tão central, o lugar de um encontro e um diálogo entre poesia e magia. Ainda não. Por enquanto, caves do Bixiga, desvões da Liberdade, inesperados salões em velhos sobrados da rua da Mooca. Ou então o excessivamente distante, o remoto no tempo e no espaço, aquela periferia de Zona Norte que ninguém mais sabe onde fica, lugar de um encontro que ninguém será capaz de dizer quando foi, do desconhecido vidente das facas e sua exata profecia dirigida a Augusto Peixoto.
Mas não saí da Câmara levando apenas o que havia trazido, folhas de anotações, rascunho de um ensaio futuro, um livro futuro. Acompanhava-me a admiração pelos ocultistas e seu debruçar-se atento e reverente sobre o significante, buscando mirá-lo em seu peso e sentido primordial, no que pode conter de realidade, fragmento de alguma possível verdade. Estudiosos do hermetismo e praticantes do ocultismo na tradição ocidental prosseguem uma espécie de cópia da literatura, uma transcrição semelhante à dos calígrafos medievais, voltada para a forma da letra, seu desenho mais que seu sentido. A cerimônia mágica é uma metáfora da literatura, orientada por uma semiologia e uma gramática secretas, cujas chaves seus praticantes buscam, cujo conhecimento será o resultado final de sua disciplina e ascese. Falar e escrever – pode ser essa a insuspeita meta do mago. Se é o signo que cria a realidade, ao tornar possível a sua percepção e interpretação, então o domínio do real requer o domínio do signo; o conhecimento é, em primeiro lugar, conhecimento da palavra.
O fundamento da Cabala e do hermetismo é a idéia do universo como escrita, texto a ser decifrado. Mas não somos nós os autores desse texto? De certo modo, sim. A busca do sentido do signo é abissal: acaba sempre revelando a imagem de seu emissor, o homem, por sua vez constituído pelo signo. E tanto faz se a Bíblia, o Sepher Jetzirah, os Sutras e as Clavículas de Salomão – ou Ilíada e Odisséia, a Divina Comédia, o Dom Quixote – foram, ou não, ditados por poderes externos, inspiração soprada aos ouvidos de quem os escreveu, sussurro divino, voz dos anjos, inconsciente individual ou coletivo. De certo modo o foram. Ao menos, no sentido de que a obra não é criação exclusiva do autor, porém da humanidade, do conjunto dos que partilham a língua. O autor é co-autor, ponto de confluência das vozes dos que o antecederam e de seus contemporâneos.
Talvez nós, os escritores, ainda venhamos a ser os verdadeiros detentores do saber hermético. Em um novo Renascimento, um desses períodos semelhantes ao final da Idade Média ou do advento do Iluminismo, quando se anunciam novas eras e grandes mudanças na História, e o mais antigo e tradicional reaparece para estimular o novo, estaremos empenhados em uma operação mágica. Uma tarefa semelhante à praticada pelos surrealistas, ao suscitarem o acaso objetivo. Ou àquela descrita por Borges, parodicamente, porém ainda assim relatando um dos raros momentos em que o signo e o homem ultrapassam seus limites e se tocam, tocando também uma realidade além ou adiante deles.
A chave do enigma proposto por Borges me parece clara. O Aleph, o do conto, era falso, nada mais que mistificação, diz-nos ele. Assim como era falso seu correlato, a torrencial produção literária de Danieri, seu dono. Um falso livro. Mas para que ele pudesse ser falso, tem que haver o livro verdadeiro, a verdadeira literatura. E para que ainda existissem outros tantos falsos alephs, tem que haver um Aleph verdadeiro. Tem que existir a coisa designada pela letra que representa o som prévio, informe, ainda não vogal nem consoante, que pode estar em qualquer lugar. Em todo lugar. Aqui. Envolvendo-nos e tornando-nos habitantes da esfera luminosa onde tudo se encontra, e são simultâneos meu gesto de digitar essas palavras e seu olhar, leitor, voltado para o escrito, voltado para mim.
Entre meu gesto e seu olhar está o que o símbolo contém e nos restitui, simultaneidade de imagens que se sobrepõem no mesmo espelho bifronte, luzes vencendo sua opacidade, mostrando fragmentos de cidades com suas ruas e lugares em uma nova geografia onde a Rua Treze de Maio atravessa a Praça Dauphine, chega a uma praia e também chega às ruelas de alquimistas de Praga.
É aqui onde se encontram autores e personagens de diferentes épocas e lugares. Dialogam. Discutem, concordam e divergem. Trocam palavras que, ao emergir na tela do texto, repetem o ressoar das vozes de poetas e magos, poetas que foram magos, magos que foram poetas, poetas e magos que foram profetas.
revista triplov
SÉRIE VIRIDAE . NÚMERO 04: CLAUDIO WILLER
portugal . fevereiro . 2022
