
Tradução dos poemas de Sorescu de Luciano Maia. Texto originalmente publicado na obra Ficções de um gabinete ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. Revisto pelo autor em 05/2023.
Parte essencial da história da literatura repousa na poética do encontro. Tramada pelos anjos, que movem as letras do livro do mundo, os anjos da cabala, tão abissais em seus mistérios.
Não tenho como provar o que digo. Mas sei que existe uma verdade imponderável.
Abismo de palavras em branca superfície. Espaço apontado por Lucian Blaga como sendo a imagem de um saber que cria camadas mais profundas de menos-saber (minuscunoaştere).
Tive um desses encontros que me levaram ao impacto da língua romena. George Popescu foi o meu Virgílio. Poeta de águas claras. Metade anjo. Metade abismo.
A Romênia era e continua sendo para mim uma transcendência no campo da latinidade. E ela saltava dos olhos de George. Olhos difíceis de alcançar, os seus, como que atravessados por uma espessa neblina, mensageiros de verdades esquecidas, como os espelhos de Jean Cocteau.
George é um poeta habitado pelo futuro. Futuro mais longo que o passado. Tal como o destino da literatura romena.
Cidade de Craiova. Estrada Brestei, 59.
Conversas infindáveis no calor da biblioteca. Uma floresta de poetas e palavras. Densas madrugadas. Cigarros. E charutos. Para espantar os vapores frios da noite. George me deu uma língua e uma constelação no céu de minhas buscas.
Essa língua, tão cheia de claro-escuros. E cujo léxico impressiona.
Ouço a polifonia de dácios, getas, gregos e romanos. A fronteira da latinidade, tão viva e porosa, com seu acervo de palavras turcas e francesas. O mundo eslavo, formando um continuum admirável com o latino, apressa as núpcias de Cadmo e Harmonia.
Anoto três formas de dizer pôr-do-sol e seus possíveis devaneios:
Asfinţit. Como que o Sol tocasse em pleno ocaso o Mar Negro e liberasse um vapor imenso, através do f e do ţ, tornado agudo pelos dois i.
Amurg. Sinto como que uma grande desolação: a consoante final tão abrupta e esse u tão escuro. Um resto de luz se perde à medida que avanço palavra adentro.
Apus. A sensação de um anoitecer precipitado, que começa no u e se prolonga nas horas mortas do s, que pronuncio como se fosse uma semibreve.
Seja como for, nosso diálogo noturno, eminentemente noturno, girava em torno do labirinto da palavra e do fio de ouro da etimologia: Lauras, Verônicas, Ariadnes. Mas era a Helena de Pierre Jean Jouve aquela que parecia melhor atender à síntese do feminino e seus arcanos.
Por que nossas latinidades iam tão esquecidas, diante de tantas convergências?
O romeno e o português são as flores últimas do Lácio. Extremos que coincidem (como vertentes marginais) em relação a um possível centro de latinidade. E todavia essas flores parecem de todo solitárias.
Talvez a solução estivesse nas mãos dos poetas, em seu imaginário inquieto e gentil.
Um passaporte para toda a latinidade.
Assim, passavam pela biblioteca – como os reis-fantasmas diante de um Macbeth siderado – os maiores poetas da Romênia. Macedonski e sua melodia, tão alta como as torres-agulha de Istambul, além daquelas coloridas e aceboladas de Moscou. O verbo iridescente de Ion Barbu, criador inigualável, e a liberdade, brilhando a cada estrofe. As remissões de Arhgezi, com seu modo firme, delicado, irregular. Bacovia e sua tremenda melancolia, preso aos brancos e aos cinzas. A impertinência de Geo Bogza com o seu belo circo semântico. Gherassim Luca e o golpe de estado no seio da linguagem. Além da luminosa poesia de Blaga, a partir do cemitério romano, das aldeias e do espaço miorítico.
– Mas George, e quanto a Eminescu, seria possível interpretar-lhe a força de tanta e afortunada solidão, como sendo afluente e tributário, síntese e manancial de uma líquida poética, capaz de conjugar passado e futuro num só gesto?
George abre um livro e vocifera a plenos pulmões um poema de Marin Sorescu:
Precisava Ter um Nome
Eminescu não existiu.
Existiu apenas um formoso país
a uma margem de mar
onde as ondas fazem cachos brancos
como uma barba despenteada de imperador.
E águas entre as árvores em corredeira
onde a lua tinha seu ninho girante.
E, sobretudo, existiram homens simples
que se chamavam: Mircea, o Velho,
Stefan, o Grande,
ou ainda mais simples: pastores e lavradores,
que gostavam de declamar
à noite, em torno da fogueira, poesias –
“Mioritza”, “Luceafarul” e “A Terceira Epístola.”
Mas, porque ouviam continuamente
ladrando em seus quintais os cães,
partiam, a se bater com os tártaros
e com os avaros e com os hunos e com os polacos
e com os turcos.
Durante o tempo que lhes restava livre
entre dois perigos,
esses homens faziam de suas flautas
beirais
para as lágrimas das pedras comovidas,
se vertiam as canções melancólicas pelo vale
pelos montes da Moldávia e da Muntênia
e do país de Barsa e do país de Vrancea
e dos outros países romenos.
Também existiram densos bosques
e um jovem que conversava com eles,
perguntando-lhes: o que se balança sem vento?
Este jovem de olhos grandes
como a nossa história
passava pesado de pensamentos
do livro cirílico ao livro da vida,
a contar os pinheiros da luz, da justiça,
do amor,
caminhando sempre sem companhia.
Também existiram algumas tílias,
e dois enamorados
que lhes colhiam todas as flores
num beijo.
E alguns pássaros ou algumas nuvens
que sempre adejavam sobre eles
quais longas e ondulantes campinas.
E porque tudo isso
precisava ter um nome,
um único nome,
chamou-se-lhe
Eminescu.
Esse poema antológico me toma de assalto. Tudo cabe dentro dele. Eminescu surge mais como um universal poético do que como biografia, tal como Homero na obra máxima de Vico. Eminescu aqui é um destino. Síntese de coisas plurais. Cicatriz para tantas feridas. E com um lirismo surpreendente.
Foi assim que descobri a grande poesia de Marin Sorescu (1936 – 1996) e dela me ficou a idéia de um mistério que se radica na própria ausência de mistério, como disse Élie Faure sobre a pintura de Leonardo.
Uma poesia que parece tão simples de se fazer. Assim como a Monna Lisa e a Senhorita Pogany nos parecem tão simples, tão singulares no brilho da solidão que as atravessa.
Os poemas de Sorescu sofrem dessa mesma irrepetível solidão.
Sublinho essa grande solidariedade entre as partes que compõem o mundo de Sorescu. Não existem distâncias que não se comuniquem. Diferenças que não se entrelacem. E nem tampouco opostos que não se desfaçam para uma solução de continuidade.
Tudo a partir de planos e enfoques oblíquos, imagens deslocadas, fantasmas de palavras, palpitantes de vida, livres, muito embora, do significado de que seriam historicamente portadoras.
Sorescu atravessa uma zona de dissonância. Mas não procura ruídos ou excessos. Ao fim e ao cabo, Mozart prevalece. Tudo caminha para uma relativa (ou suspirada) pax soresciana. O atonalismo emerge, mas algo tímido e sutil.
No poema “A concha” (Scoica), a fusão dos elementos de que estamos falando é radicada num buquê de metáforas:
Escondi-me numa concha, no fundo do mar,
mas esqueci-me em qual.
Cotidianamente desço às profundezas
e côo o mar por entre os dedos
a ver se dou por mim.
Às vezes penso
que fui comido por um peixe gigante
e eu procuro por toda a parte
para o ajudar a engolir-me por completo.
O fundo do mar me atrai e espanta,
com os seus milhões de conchas
semelhantes.
ah, eu estou numa delas
mas não sei em qual.
Quantas vezes fui diretamente a uma conha
dizendo : “ Este sou eu”.
Quando abria a conha
Estava vazia.
Uma certa humildade da ausência. Nas coisas frágeis e incertas. Sorescu me lembra algo de Manuel Bandeira e Raffaele Carrieri. A mesma pietas e a mesma melancolia. Bandeira me emociona com “Estrela da Manhã”. E Carrieri, com “Fome em Milão”. Não os admiro apenas. São poetas que me são amigos. Assim como George Popescu, com seus dez mil cafezinhos diários e os versos nítidos.
No poema “A saída das unhas ao mar” (Ieşirea unghiilor la mare), o tom do que venho dizendo:
Num país pequeno
as unhas dos pés
crescem curvas
e me entram na carne.
Ah, como me dói
o dedo grande do pé direito!
E o coração, o coração, inefável unha,
crescida na carne!
Eis o diapasão, o trâmite de sua melancolia, nesse horizonte desesperado e belo.
Tal repertório me inspira. Assim, se preciso definir a língua romena e seu maior poeta, afirmo peremptório que Eminescu jamais existiu. Se desejo tratar de Shakespeare, digo que ele criou o mundo em sete dias. E se o assunto é Dante, lembro que a Divina comédia é uma pirâmide inclinada para a eternidade e que se move um centímetro por ano.
Volto ao poema de Sorescu sobre Shakespeare para ajustar a temperatura poética. Guardo esse conceito delicado de unha e coração. Pois a dramaturgia de Otelo requer tudo o que se possa:
Shakespeare criou o mundo em sete dias.
No primeiro dia fez o céu, as montanhas e os abismos da alma.
No segundo dia fez os rios, os mares, os oceanos
e os outros sentimentos –
e deu-os a Hamlet, a Júlio César, a Antônio, a Cleópatra e a Ofélia
a Otelo e outros,
para os dominarem, eles e os seus descendentes,
até o fim dos tempos.
No terceiro dia reuniu todos os homens
e ensinou-lhes o gosto:
o gosto da felicidade, do amor, da desesperança,
o gosto do ciúme, da glória e assim por diante,
até se terem acabado todos os gostos.
Chegaram então alguns indivíduos que se tinham atrasado.
O criador afagou-lhes a cabeça compadecido
e disse-lhes e que não lhes restava senão tornarem-se
críticos literários
e contestaram-lhe a obra.
O quarto e o quinto dia reservou-os para o riso.
Soltou os palhaços
para darem cambalhotas,
e deixou os reis, os imperadores
e outros infelizes divertirem-se.
No sexto dia resolveu alguns problemas administrativos:
pôs no caminho uma tempestade
e ensinou ao rei Lear
como se deve usar a coroa de palha.
Ainda haviam sobrado alguns desperdícios da criação do mundo
e então fez Ricardo III.
No sétimo dia viu se ainda tinha algo por fazer.
Os diretores de teatro já tinham enchido a terra com cartazes,
e Shakespeare pensou que depois de tanto trabalho
merecia ele próprio ver um espetáculo.
Mas antes, como estava exaustivamente cansado,
foi morrer um pouco.
Sorescu retoma a tradição renascentista de Pico della Mirandola e Marsílio Ficino. A obra de Deus e a obra do Artista. Uma autêntica teodicéia nos céus de Shakespeare. Mais que uma teodicéia, uma arte poética, declaração de princípios, que poderia chegar a Harold Bloom. Um hino do grande leitor Marin Sorescu, que parece ter realizado uma geopolítica dos livros que o emocionaram no decorrer de sua vida.
A obra de Sorescu é também uma cartografia sem limites.
O crítico e o poeta no mesmo espaço de transformação.
Lembro quando cheguei a Bucareste pela primeira vez. A temperatura externa era de quatorze graus negativos, ao passo que a de meu corpo chegava a trinta e nove.
Neve por todos os lados e uma sensação de vento siberiano.
Tomei o trem para Craiova, e George me falava num cenário impossível, que a febre e o branco monótono da planície só faziam aumentar aquela mesma impossibilidade.
Descobri um fato singular: a Oltênia é branca.
E se bem recordo o que dissemos, inventei uma espécie absurda de malha ferroviária. Trens velozes. Um que saía de Craiova para o Rio de Janeiro. Outro que percorria o Sahara de ponta a ponta. O trem dos poetas e suas viagens! O trem de Khliebnikov, ligando Moscou a Nova Iorque. E o de Joaquim Cardozo, subindo ao céu, passando a galáxia e mergulhando na metafísica de um branco absoluto. Aquele mesmo branco em que flutuava o nosso trem rumo a Craiova.
Pouco depois, me deparo com o trem na poesia de Sorescu:
O Caminho
Pensativo e com as mãos atrás das costas
vou pela via-férrea,
o caminho
mais reto possível.
Atrás de mim, com velocidade,
vem um trem
que não ouviu nada sobre mim.
Este trem – testemunha é-me Zenon, o Velho –
nunca vai me alcançar,
porque eu terei sempre um avanço
em relação às coisas que não pensam.
E mesmo que, brutalmente,
passe sobre mim,
haverá sempre um homem
que caminhe à frente dele,
cheio de pensamentos
e com as mãos atrás das costas.
Como eu agora
à frente do monstro negro,
que se aproxima com uma velocidade espantosa
e que não me alcançará
nunca
Plural e singular. Solitário e solidário. Eis que o poeta refaz a leitura do paradoxo de Zenão de Eléia, num índice sutil que vai da metafísica para a política, num ethos forte e puro. Aquiles não há de vencer jamais.
– Ah!, mas vai ficando tarde, meu caro George. Vamos tomar o nosso bilionésimo café. Brindemos ao poeta. Solitude. Récif. Étoile. Um café simples. Um café para transformar o mundo. Tal como disse Marin Sorescu – o Feminino como Leitmotiv:
Vou tomar um café preto, talvez,
da tua mão.
Gosto que o saibas fazer
amargo.
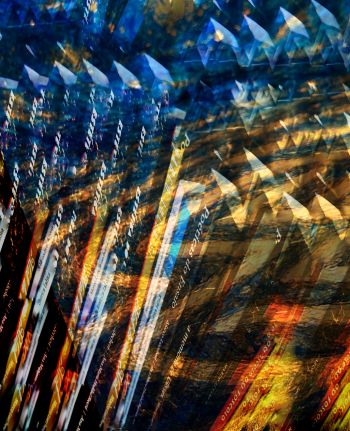
Revista Triplov
Índice do volume Marco Lucchesi
Abril de 2025
