
As traduções de Leopardi originam-se de vários tradutores da edição organizada, pelo autor, para a editora Aguilar. Texto publicado na obra Teatro Alquímico. Rio de Janeiro, Artium Editora: 1999. Revisto pelo autor em 03/2021.
Introdução
Cada objeto amado é o centro de um paraíso.
Novalis, Pólen, frag. 50
Giacomo Leopardi continua sendo o empíreo da moderna poesia italiana e a quantidade de ensaios críticos em torno de sua obra só pode ser equiparada com o renovado entusiasmo de seus leitores. Leopardi não é um homem de letras, mas um acontecimento. Como que cada geração de escritores – para encontrar o seu espaço no sistema literário italiano – se ocupasse em bem compreender o universo de Leopardi, de que todos dependem em maior ou menor grau. Da parte de seus leitores, nenhum outro poeta chegou a ser tão radicalmente amado quanto Leopardi. Um homem solitário diante de sua dolorosa solidão. A história de uma alma – como tantos disseram – em profundo desencanto. Mas quanta beleza, quanta harmonia, quanta altitude, naquele desencanto! Os seus poemas – apenas quarenta e um – oferecem uma leitura espantosamente clara do mistério das coisas do mundo, da humana sorte e de sua estranha condição. Para Schopenhauer, ninguém chegou a tratar da miséria de nossa vida de modo tão profundo e encantador como Leopardi. Tal a força de “As lembranças”, de “A giesta”, ou de “O infinito”: escrito aos vinte e um anos de idade, mais impressionante que o silêncio de Pascal. Quase um espasmo kantiano. E como esquecer “A si mesmo”, “Amor e morte”, ou “Safo”? Tudo isso pertence agora ao patrimônio da cultura ocidental. Sem as lágrimas de um Corazzini. Sem as flores de gelo de um Kierkegaard. Sem os violinos de um D’Annunzio. O fenômeno de sua poesia é todo intensidade. Chegamos a seus poemas com um misto de distância e adesão, solidariedade e tremor, assombro e admiração. Saímos da superfície e mergulhamos num plano abissal. Impossível não sermos tocados pela sua poesia. Impossível não sentirmos um grande entusiasmo. Tudo de forma suave e severa.
Dante Milano escreveu certa vez que a poesia de Leopardi exige uma leitura meditada, constituindo um desafio à facilidade. E que não seria jamais uma distração, mas um estudo profundo e uma emoção absorvente. Não nos ocorre uma síntese melhor. Leopardi não é o poeta do efeito. Da palavra fácil. Leopardi não procurava o Belo. A beleza de seus versos não depende singularmente de cada um, mas do mistério de seu conjunto, da estrutura que os engendra, do sentimento do mundo que empresta a cada verso a raiz de sua própria necessidade e concretude. Quando descobrirmos esse mistério, e seu incomparável coeficiente de solidão, quando avançarmos por esse caminho, largo e sinuoso e claro, quando nos dermos conta de seu moderado excesso, sem metáforas peregrinas e outros recursos, começaremos a entender por que Giacomo Leopardi é um acontecimento.
Variações para um tema
Quidve mali fuerat nobis non esse creatis?
Lucrécio, De rerum natura, 5.174
Profunda, comovente, perturbadora. A obra de Giacomo Leopardi ainda guarda muitos segredos. A espinha dorsal de sua poesia consiste num pessimismo denso e arraigado. Contundente e belo. Abismado na dor e na solidão, Leopardi criou uma língua nova, poderosa, helenizante, capaz de traduzir os matizes mais sutis do pensamento. Nietzsche, Pound e Calvino – conquanto diversos – apreciavam-no radicalmente. Entre nós – além de Machado, Rui e Carpeaux –, Pompeia foi um leitor congenial de sua obra. O incêndio no Ateneu e o fim do mundo no Opúsculos morais parecem coincidir com os “planetas exorbitados de uma astronomia morta” e com os “sóis de ouro destronados e incinerados”. O já citado Dante Milano surpreendia nos versos leopardianos a “impressão de um mistério onipresente”. Da claridade lunar, talvez. Pura, difusa e glacial. Da noite metafísica. Quando a luz do nada brilha sobre o cosmos. Metafísica. Ou melhor: hiperfísica.
Tal sentimento não pertence apenas aos Cantos. Permeia toda a sua obra, chegando inclusive ao diário e às cartas, e demonstra a perfeita e comovente unidade de quanto escreveu. Diz Leopardi, na primavera de 1819: “É vã, é um nada esta minha dor, que num momento passará e se anulará, deixando-me num vazio universal”. Eis o que tematizam os Opúsculos morais: a vanidade da vida e a caducidade das coisas. Antessala dos últimos poemas, como “O pôr-da-lua”, a prosa dos Opúsculos tem autonomia própria. Páginas admiráveis, aquelas. Cristalinas. Cortantes. Voltadas ao bem maior, ao não-ser. Absoluto aguarrás, que tanto impressionara Cioran. Leopardi e Nietzsche (o da Origem da tragédia) coincidem aqui. Quando o alemão reconhece, entre os homens, a triste herança do acaso, através de Sileno, que sabe que o melhor é morrer, e depressa. Em Leopardi, a infelicidade não poupa sequer os deuses. A vida imortal torna-se-lhes um fardo. Até mesmo “Quíron, que era um deus, com o decorrer do tempo entediou-se com a vida, pediu licença a Júpiter e morreu”. Fogem as sombras. Cessam as ilusões. Cheiro de abismo. Nietzschiano, ou quase.
A morte ocupa o centro das coisas. Invade o universo. Devora-o impiedosamente. E não deixa marcas. Onda universal, tudo naufraga. É o fim do mundo, homens e deuses. “Cada parte do universo apressa-se, infatigavelmente, para a morte. Apenas um silêncio desnudo e uma altíssima quietude encherão o espaço imenso”. Quase uma conclusão schopenhaueriana. Um mundo de vias-lácteas e de sóis, que formam o nada, onde a vontade de viver é cega, irracional, e se desdobra sem finalidade (voluntas/noluntas), que quer por querer e para aumentar a insatisfação e a dor, segundo O mundo como vontade e representação. Parece mesmo algo lucreciano (sem a harmonia da Alma Vênus) inspirando seu universo, como no “Cântico do galo silvestre”:
Mortais, despertai. Não estais ainda livres da vida. Virá o tempo em que nenhuma força exterior, nenhum intrínseco movimento vos resgatará da quietude e do sono, mas nela sempre e inesgotavelmente repousareis.
Quando isso ocorrer, nada mais sendo exílio, um silêncio ilmitado cobrirá todo o universo. Havendo universo. Quase um eterno retorno:
Cada parte do universo apressa-se, infatigavelmente, para a morte com solicitude e celeridade admiráveis. Apenas o próprio planeta parece imune à decadência e ao declínio. Contudo, se no outono e no inverno mostra-se quase enfermo e velho, não menos, na nova estação, rejuvenesce sempre. Mas como os mortais no primeiro momento de cada dia readquirem uma parte da juventude, assim envelhecem todos os dias e finalmente se extinguem; igualmente o universo no princípio de cada ano renasce e nem por isso deixa de continuamente envelhecer. Tempo virá em que ele e a própria natureza se apagarão. Assim como de grandes remos e impérios humanos com seus movimentos maravilhosos, famosíssimos em outros tempos, nada resta hoje, de indícios ou fama; o mesmo, do mundo inteiro, dos acontecimentos infinitos e das calamidades das coisas criadas, não restará um vestígio sequer. Apenas um silêncio nu e uma altíssima quietude encherão o espaço imenso [lembrando aqui partes de “O infinito”]. Assim esse arcano admirável e espantoso da existência universal, antes de ser declarado ou compreendido, se extinguirá e perderá.
Essa paisagem desolada nutre-se ainda da melhor poesia em prosa, que atravessa os Opúsculos morais. Aquela vasta e apaixonada obra de que falava Bontempelli: entre observações de história e filologia, metafísica e psicologia, Leopardi cria num oceano opaco lúcidas ilhas de poesia, onde reconhecemos as ressonâncias do livro cinco de De rerum natura (ibi si tristior incubuisset causa, darent late cladem magnasque ruinas). Páginas de uma altitude incomum. Quase esturricadas pelo fogo que as consome. Nada mais belo e terrível, mais delicado e espantoso, mais dramático e ameno do que essas páginas irretocáveis.
Páginas de fogo
The pale stars are gone!
Shelley, Prometheus Unbound, 4,1
Leopardi é sem sombra de dúvida uma força da natureza. Antes de tudo, a sua impressionante, monumental, vastíssima erudição, que parece ultrapassar o conhecimento do quase imbatível filósofo Giambattista Vico, que Leopardi não desconheceu, na qualidade de leitor da Ciência nova. Leopardi era mais sutil no manejo da filologia antiga. Superior no campo da etimologia. Absoluto no da tradução. Ninguém menos do que o douto Niebuhr ficaria espantado com os seus conhecimentos. Diz Leopardi a Pietro Giordani:
A erudição que o senhor diz ter encontrado nas notas ao ‘Hino a Netuno’ é na verdade muito vulgar; ocorre que as escrevi na Itália, mas na Alemanha ou Inglaterra seriam uma vergonha para mim. Por um bom tempo, persegui a erudição mais recôndita e peregrina, e dos treze aos dezessete anos enfronhei-me profundamente neste estudo, tanto que escrevi de seis a sete tomos volumosos sobre matérias eruditas (fadiga que me valeu a ruína), e um escritor estrangeiro – que está em Roma, mas que não conheço –, vendo alguns dos meus escritos, não os desaprovou, exortando-me a que eu me tornasse, dizia ele, um grande filólogo.
Leopardi escrevia tratados volumosos, como o Ensaio sobre os erros populares dos antigos, além de outros e tantos dedicados aos autores da Spätantike. Traduziu a Batracomiomaquia, do pseudo-Homero, a Titanomaquia, de Hesíodo, o segundo livro de Eneida e o primeiro da Odisseia, entre outros. Ainda na adolescência, fingiu ter descoberto “Duas odes de Anacreonte” (na versão grega) e um “Hino a Netuno”, do qual redigiu apenas a versão italiana. Nenhum grande filólogo chegou a duvidar da autenticidade daqueles textos, especialmente os de Anacreonte, tal a perfeição da língua grega. Seu domínio do hebraico e do alemão, do francês e do espanhol, do grego e do latim é impressionante. Como Friedrich Hölderlin (em seus belíssimos metros pindáricos), Leopardi terá sido o último dos atenienses. Nenhum deles jamais conheceu a Grécia. O mundo dos deuses, todavia, parecia habitá-los. Leopardi admirava irreligiosamente a religião antiga. Como Nietzsche, Maquiavel, ou Fustel de Coulanges. E Hölderlin – tomado por “espíritos metafísicos” – sentia-se esmagado pela ira dos deuses em plena loucura. Leopardi – ao contrário –, quando escreve o poema “O infinito”, vai naufragando num mundo sem homens ou deuses. Como já disse alguém, o naufrágio do poeta é sem espectador.
Anos de solidão radical e bárbara, Leopardi descreve a Giordani o estado físico e mental que o consome:
Creio que senhor já saiba, mas espero que não tenha sentido, em que medida o pensamento possa crucificar e martirizar uma pessoa que fique à sua mercê e pense um tanto diversamente dos outros; quero dizer, quando a pessoa não tem qualquer divertimento ou distração, mas apenas o estudo, o qual, porque fixa e mantém a mente imóvel, prejudica mais do que ajuda. A mim o pensamento deu e continua dando, por períodos longuíssimos, esses martírios, e isto porque sempre me teve inteiramente à sua mercê (e, repito, sem nenhuma vontade minha), prejudicando-me a olhos vistos, e me matará se eu antes não mudar de condição. Tenha por muito certo que, estando como estou, não posso divertir-me mais do que faço – e não me divirto nada. Afinal, a solidão não foi feita para os que ardem e se consomem por si mesmos.
Como vemos, a erudição leopardiana coincidia com a teoria de Vico: o primeiro passo é o da filologia (terreno firme na acumulação do conhecimento). A erudição – conquanto necessária – devia servir para estabelecer analogias e sínteses, abstrações e comparações. Numa palavra, a filologia precisava ser redimensionada na filosofia. Tanto assim, que Leopardi passará por três fases marcantes em sua vida. Primeiro, o “estudo desvairado e desesperadíssimo”. Em seguida, a “conversão do erudito ao belo”. E, finalmente, a passagem “do belo ao verdadeiro”. Todas essas fases profundamente amalgamadas na sua altíssima poesia.
Clara solidão
La froide cruauté de ce soleil de glace.
Baudelaire, De Profundis Clamavi
Anos a fio de estudo incessante entre os milhares de volumes da biblioteca paterna; uma vastíssima erudição e uma delicadíssima compleição física, eis o árduo e precoce legado que herdou de si mesmo. A cidade onde nasceu – “burgo selvagem” – era-lhe odiosa. Assim como o palácio em que vivia. Apenas a correspondência com Pietro Giordani (famoso escritor daquele tempo, que chegaria mesmo a visitá-lo em Recanati) era uma de suas poucas alegrias. Giordani teve o mérito de reconhecer no jovem Leopardi o gênio erudito e poético de que já dava mais do que mostras, confirmando-lhe os seus anseios de glória. Um encontro histórico. Parecido apenas com aquele – literário, de que bem fala Curtius – entre Dante e Virgílio. Ou – em carne-e-osso – de Lou Salomé e Rilke. Ou de Benjamin e Scholem. Aquilo que Raïssa Maritain definiu como as Grandes amizades. O Eu-Tu de Martin Buber, em sua teoria de Encontro. Um pouco de seu destino começava a confirmar-se. O primeiro amigo dava-lhe as boas-vindas ao mundo literário.
Leopardi, contudo, já em 1819, sente a saúde gravemente ameaçada. Chega a perder a visão por um certo período. Não podia ler, não suportava seu doloroso estado, e tampouco a vida em família. Planeja, então, a fuga do palácio, que será de pronto frustrada. Guardou-se a carta endereçada de Leopardi ao pai (dolorosa e terrível como a que escreveu Kafka):
O senhor conhecia ainda a miserabilíssima vida que eu levava, com as horríveis melancolias e tormentos de toda a espécie, advindos de minha estranha imaginação, e não podia ignorar o que era mais que evidente, ou seja, que a isto, e à minha saúde que se ressentia visivelmente de todas estas coisas, que sofria desde que se formou em mim esta compleição miserável, não havia outro remédio senão poderosas distrações – tudo aquilo que em Recanati eu jamais poderia encontrar. Contudo, o senhor deixava por anos e anos um homem do meu caráter consumindo- se em estudos mortíferos ou enterrando-se no mais profundo tédio e, por conseguinte, na melancolia, derivada da necessária solidão e da vida ociosa, mormente nos últimos meses.
A partir deste período, o pessimismo histórico de Leopardi adquire dimensões cósmicas (embora seja sempre complexo usar o conceito de pessimismo sem compreender seu heróico estoicismo). A chamada crise de 1819 ia determinando a direção da sensibilidade e do sistema do jovem poeta. As esperanças todas se mostravam vãs, impossíveis. Caem todos os véus. A natureza assume a condição de madrasta, criando miragens e ilusões. Promessas jamais cumpridas, eis como termina o poema “À Sílvia”:
Também desfez-se em mim
Há pouco o doce anseio: à minha idade
Negou-me o fado mesmo
A juventude. Ai como,
Como passaste a esmo,
Ó cara amiga dos meus tenros anos!
Lacrimosa esperança!
Aquele mundo é isto? Onde os entes
Diletos, puro amor, obras, assuntos
Sobre os quais cogitamos juntos?
Este é o destino das humanas gentes?
Tudo agora vai-se tornando intenso. O Grande-Negador começa a reger o universo leopardiano. Sem o desespero de Kierkegaard ou a compaixão de Schopenhauer. Apenas um rastro de solidão universal. A natureza perde seu valor positivo (como no primeiro Hölderlin, ou em Shelley) e adquire sua marca anti-humana. Não é mais o homem que se afastou da natureza, causando a sua própria infelicidade, como escrevera Leopardi inicialmente. Ao contrário: vemos a face terrível – até então desconhecida – de um universo hostil e indiferente ao homem. Que mais pode desejar um Torquato Tasso – na prisão – a não ser sonhar com a amada? Melhor a imagem do que a vida. A felicidade não existe agora. Dela temos uma ideia um sonho. Possuí-la é a nossa impossibilidade. Desejamos o que não podemos alcançar. Tudo isso aparece em “As lembranças”. Mas de tal modo alto e solene, desprovido de qualquer desbordamento, numa admirável contenção clássica, que bem se coaduna com a melancolia de um Petrarca. Tudo aqui é grave. Nenhum desespero. Nenhuma compaixão. Tudo é exílio:
Vagas estrelas da Ursa, eu não contava
Voltar ao hábito de vos olhar
Sobre o pátrio jardim esplendoroso
E conversar convosco das janelas
Deste refúgio onde morei menino
E vi o fim de minhas alegrias.
A rara beleza das vagas estrelas da Ursa (caras a Dante) e a delicada descrição dos arredores (lembrando Eichendorf) fizeram desse poema um dos clássicos da literatura italiana. Ainda que, como no poema anterior, “As lembranças” se movam em busca de um tempo definitivamente perdido, a diferença é que não existe aqui um centro unificador da memória (provocado pela morte de Sílvia), mas uma estrutura aberta, obedecendo ao fluxo arcano da memória, onde cada fragmento de recordação atrai, por sua vez, outros belos e dolorosos fragmentos. Um mundo de promessas jamais cumpridas. O sono e a ilusão constituem pequenas mortes para que possamos continuar vivendo. A dor, a lembrança, o amor e a glória fazem parte da infinita vanidade de tudo, como Leopardi escreveu em “A si mesmo”:
Enfim repousas sempre
Meu lasso coração. Findo é o engano
Que perpétuo julguei. Findou.
Leopardi toca novamente o sublime. O ritmo sincopado, os enjambements, os arcaísmos, os versos peremptórios e absolutos, a formidável força de sentimento e a clareza de expressão. Quase o limbo dantesco onde todos se encontram suspensos por um desejo sem esperança. Quase o Eclesiastes. Tudo agora torna-se mais drástico. O desejo é findo. A esperança é falta. Nem céu ou inferno, deus ou o diabo. Apenas a negação. E a vanidade das coisas espelhando a natureza cruel, enquanto prepara a destruição da vida. Que mais legou-nos o fado além da morte?
O que mais impressiona em Leopardi é exatamente aquilo que De Sanctis observou em seu artigo “Leopardi e Schopenhauer”: uma espécie de inversão entre o sentimento do texto e o sentimento do leitor:
Porque Leopardi produz o efeito contrário a que se propõe. Não acredita no progresso, e faz com que o desejes; não acredita na liberdade, e faz com que a ames. Considera ilusões o amor, a glória, a virtude, e acende em teu coração um desejo incessante. É cético e te faz crente. Tem um conceito tão baixo da humanidade, e a sua alma alta, delicada e pura acaba por honrá-la e enobrecê-la.
Seria talvez o vitalismo (ou titanismo) capaz de poder explicar essa estranha e apaixonada inversão detectada por De Sanctis? Até que ponto poder-se-ia passar da anulação da vontade (noluntas) à vontade de poder (Wille zur Kraft)? Quais forças poderiam ter destruído a própria vida?
Mensagem futura
All the night in woe.
Blake, The Little Girl Found
Quando – e principalmente por mérito de Carducci – foram publicadas as 4.526 páginas do diário de Leopardi (1890-1900), houve uma grande comoção por parte da crítica, que começava a descortinar um formidável território investigativo. Era preciso mapear esse mundo complexo e aparentemente desordenado. Como quem entrasse num continente desconhecido (ou quase) que se intitulava Zibaldone. Tratava-se de uma densa floresta – como diria Manuel Bernardes –, que abrigava fragmentos de futuros poemas, observações de ordem moral e afetiva, meditações metafísicas, inscrições literárias, máximas e provérbios, estudos de filologia e retórica, além de pequenas e flutuantes cosmologias. Esse belo e estranho diário (que do caos devia engendrar uma obra de arte) começou a ser escrito em 1817, sendo interrompido apenas em 1832, sem que dele jamais se afastasse Leopardi. Nada parecido com o Diário de Amiel ou com o Dicionário de Voltaire. Era algo novo que desconhecia precedentes.
Tanto assim que o Zibaldone ainda hoje não comparece de todo integrado ao universo da crítica leopardiana, apesar dos esforços de um Solmi, de um De Robertis ou de um Pacella. As dificuldades de compreender uma estrutura dinâmica de pensamento – que atravessa cada página daquele diário – pareceram intransponíveis. Houve mesmo quem decidisse ignorar o Zibaldone, como se fosse desprovido de inteligência interna, quase uma simples coleção de fragmentos. Ou quando muito recorria-se ao Zibaldone para retirar-lhe esta ou aquela passagem que mais se adequasse aos Cantos ou aos Opúsculos. Tem razão Cesare Luporini ao afirmar que um estudo sistemático do pensamento leopardiano seja ainda prematuro. Será preciso conhecer melhor este território, segundo uma perspectiva geral e articulada, minuciosa e flexível. Nessa direção tem avançado a crítica.
Dentre as muitas surpresas do Zibaldone, De Robertis sublinhou uma surpreendente observação de Leopardi, quando voltava (após um silêncio demorado) a escrever os grandes Idílios: “A privação de todas as esperanças acabou por apagar pouco a pouco dentro de mim quase todo o desejo. Agora, mudadas as circunstâncias, ao ressurgir a esperança, eu me encontro na estranha situação de ter mais esperanças do que desejos”. Um impressentido raio de sol. Mas é claro que não estamos sugerindo uma leitura otimista daquele universo. Nem tampouco desejamos inserir um princípio-esperança do avesso. Podemos constatar, entretanto, o resplendor de sua vontade. Esse quase meio-dia que marca a sua derradeira ilusão. Esse entusiasmo que nasce do concerto literário.
Algumas vezes, o Zibaldone se parece com uma terra devastada, entre os tantos projetos desenhados, mencionados e abandonados. Quase um ano antes da citação anterior, encontramos um desses projetos. Chegamos apenas ao título. Anota Leopardi: “Isto pode servir para a Carta para um jovem do século XX”. Como seria esta carta, é impossível descobrir. Sabemos que o Zibaldone está de algum modo endereçado ao nosso tempo. Não por uma atualidade de permanência, mas por uma atualidade de resistência. O mesmo quadro de luz e o mesmo quadro de sombras parece subjugar o nosso destino. E o cuidado de Leopardi com o seu diário permite-nos supor que ele imaginava uma audiência futura. E que – talvez – a mensagem maior de nosso remetente pudesse estar circunscrita ao modo de quem viveu radicalmente a solidão e a literatura, com uma generosidade tanto mais rara quanto mais solidária. E que o jovem do século XX – mais contemporâneo do que seus próprios contemporâneos – pudesse compreender e amar alguém que escolheu a literatura como princípio e ação. Talvez aqui, o meio-dia.
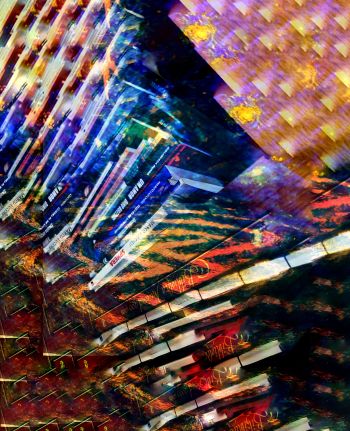
Revista Triplov
Índice do volume Marco Lucchesi
Abril de 2025
