
Nişä duşmiä said met permena nahita dragir: oleki Sonetos marinistas vritizi za altertimer toz… et alii. / Amando uma inimiga senhor com doce sofrimento: os diversos Sonetos marinistas escritos ao modo antigo… et alii.
Por Carlos Paulo Martínez Pereiro (1)
Carlos Paulo Martínez Pereiro (Mera de Oleiros, Galiza – Espanha, 1955), Professor Catedrático de Filologia Galega e Portuguesa do Departamento de Letras da Universidade da Corunha e Investigador Integrado no Grupo de Investigação ILLA, é Doutor pela Universidade de Santiago de Compostela (1990), com tese sobre a obra vanguardista, narrativa e pictórica, de Almada Negreiros. Trabalha no campo da literatura medieval galego-portuguesa e, em paralelo, no campo das literaturas contemporâneas e das relações transitivas entre a escrita e as diferentes artes plásticas, nas literaturas brasileira, galega e portuguesa. Como resultado do seu labor investigador e ensaístico, tem publicado, entre outras, as monografias As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos (1992), Au sujet des chevaux in-existants (1992 / Prémio de Investigação ‘Xunta de Galicia’), Natura das Animalhas. Bestiário medieval da lírica profana galego-portuguesa (1996), A Pintura nas Palavras (1996), Hospital das Letras. In(ter)vencións e ensaios literarios (1997), Razões de fogo, versos fabricados (Sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII) (1999), A indócil liberdade de nomear. Por volta da interpretatio nominis na literatura trovadoresca (2000 / Prémio de Ensaio ‘Espiral Maior’), Querer crer entrever. Expresións críticas de reflexión e lectura (2007 / finalista do Prémio de Ensaio da ‘AELG’), Camilo Castelo Branco. As duas comédias do Morgado de Fafe (2008) ou A man que caligrafando pensa. Do plástico-escritural e da manuscrita novoneyriana (2010 / finalista do Prémio de Ensaio da ‘AELG’), assim como, em coautoria com Alva Teixeiro, Machado de Assis e a mundana comédia (2017).
Obrei quanto o discurso me guiava:
ouvia aos sábios, quando errar temia;
aos bons no gabinete o peito abria,
na rua a todos como iguais tratava
(Tomás Antônio Gonzaga)
Pode surpreender que o título desta intervenção se sirva da língua laputar lucchesiana. É por isto que, antes de mais, devemos esclarecer que se trata de um private joke com o Marco Lucchesi — em que também é cúmplice e partícipe a professora da Universidade de Lisboa Alva Teixeiro. Na verdade, quisemos que utilizar, seguramente de maneira um tanto limitada, o letrado espírito lúdico da língua da ilha de Laputa fosse uma pequena homenagem ao incomum escritor e pensador que motiva este necessário e conveniente colóquio. Ergo, eis a razão desse uso da língua ficcionalmente recriada vur toz patarfiş (“em modo patafísico”), em 1985, mas que, aggiornata, foi divulgada urbi et orbi três décadas depois como Bazati dir Harstä Laputar (Rudimentos da Língua Laputar).
Mas essa utilização pontual do idioma dos conspirativos habitantes da ilha flutuante swiftiana, intitulando estas páginas em bartuhez — isto é, em “língua portuguesa” —, também foi motivado pelo viés lúdico do lúcido exercício de reinvenção dos séculos recuados em nós que, em geral, pressupõe o feliz cultivo transcendente do soneto lucchesiano e, em particular, a renovada história do sentir amoroso futuro, expressa, em brilhantista grandeur, nos dez Sonetos marinistas em que, afinal, relativamente centramos este ensaio.
Contudo, deixando já a um lado qualquer espírito lúdico, pode também surpreender a opção pelo referido tema, de entre os inúmeros possíveis do conjunto de uma obra e de uma escrita poética excecional, com uma expressão e estruturação claramente contemporâneas, instalada, por via de regra, nos parâmetros maioritários de uma poética formalmente vária e liberta e de uma profundidade ora imanente, em quanto perdurável e inerentemente humana, mas, assim mesmo transcendente, em quanto elevadamente extraordinária, nos âmbitos da procura e da dúvida de teor, bref, spinozista e cioraniana.
Portanto gostaria de começar explicando(-me) os motivos da escolha e emitindo alguns juízos de valor. Na ingente obra poética de Marco Lucchesi que, como tem afirmado Ana Maria Haddad Baptista, bref, “[t]iempo y espacio se conjugan como vislumbres de ecos y resonancias en sus silencios en los que la búsqueda del hombre jamás se abstrae”[1], acho que todo leitor pertinaz, máxime com as pretensões críticas de um, por assim dizer, mais engenheiro do que usuário do literário, tem sofrido “el inquieto pase de uma cosa a outra, y la ordenada acumulación del atraso”, por utilizar as palavras do grandíssimo poeta andaluz Juán Ramón Jiménez endereçadas ao não menor literato mexicano Alfonso Reyes[2].
Neste sentido, em um espaço tão privilegiado como com certeza é este, em uma assembleia de autênticos connaisseurs, expertos intérpretes e, o que não é de menor importância, amigos do pensum intelectual e literário do Marco pessoa e do Lucchesi autor do Carteiro imaterial, é legitimo interrogar-se como não ter preferido refletir por volta das antologias maiores Clio, Hinos matemáticos, Bestiário ou mesmo a mais recente Maví? Como não ter aprofundado na compreensão de poemas emblemáticos de uma escrita de ‘claros enigmas’ drummondianos ou de ‘mistérica luminosidade’ juanramoniana como «A quarta parede», «A contra-flor» ou «Modo inaugural», do também excecional poemário Alma Venus? E porque, sabatinando, à rebours desse nosso ‘ideal’ cancioneiro de mão pessoal, temos optado por pobremente comentar aqui o cultivo lucchesiano da, por antonomásia, forma fixa e clássica do soneto e, em particular, da sua prática mimetizante à antiga[3], quando o próprio autor parece, em certa medida, secundarizá-lo, ao reduzi-lo à seleta sobrevivente de um exercício escritural nos tempos já idos da sua singularmente plural poesia?
De facto, de um tal rigorismo podem ser prova as anotações autorais como a de que “[o] livro De passione foi abjurado pelo autor”, ou que os Sonetos marinistas, são uma “[r]elíquia de um livro de sonetos e sextinas que não publiquei” (p. 11)[4], ou a referida a Alma Venus, advertindo que “[o]s sonetos remontam à primeira juventude” (p. 493).
Gostaria de dizer, em um breve apartado, que lamento (muito)[5] o ineditismo ou o apagamento das dúcteis e rígidas sextinas — a respeito das quais, para o genialmente irreverente Joan Brossa, de quem, tempos passados, sentimos não pouco a sua falta —, na sua «Sextina conceptual», “evidentemente esisteix uma certa analogia entre aquest gènere medieval i la música dodecafónica, escrita segons el principi serial descobert per Arnold Schönberg”[6].
No entanto, mesmo ponderando como positivo, grosso modo, o anterior considerandum a respeito dos seletos sonetos ‘salvados’ pelo escrupuloso poeta, em obediência ao impiedoso processo no tempo de pertinaz escrita e reescrita horaciana e de ascético despojamento — purgativo processo, insistimos, presidido pelo princípio arcádico do inutilia truncat arcádica —, devemos (e queremos) responder às anteriores nossas perguntas, por muito que, como se pode facilmente imaginar, tenham um tanto de retórico.
Em princípio, um primeiro porquê radica em que, se alguém considerar essa poesia sonetística ‘menor’, no contexto da dimensão incomensurável das várias práticas poéticas lucchesianas, isso só seria admissível no sentido paradoxal em que, lembrando agora aos habitantes da ilha de Brobdingnag, o gigantesco Manuel Bandeira se autodenominara ‘poeta menor’ — por certo, também cultor de um neotrovadorismo, um neomedievalismo e um neotradicionalismo arcaizante nas formas, mas atualismo nos resultados como, avancemos, o é também o marinismo e o maneirismo dos grandes sonetos de Lucchesi.
Ora bem, há também um segundo porquê de caráter mais abrangente, baseado nesse algo de desejo reivindicante, intrínseco a uma forma de ‘versos fabricados’ tão capaz de expressar ‘razões de fogo’[7], quão dúctil máquina para, nos termos axiomáticos com que Rubem Fonseca intitulou o seu quarto romance, gerar ‘vastas emoções, pensamentos imperfeitos’. De fato, noutro tempo e lugar, qualificamos essa consuetudinária forma fixa — acho que sem exagero — como ‘um dos maiores acertos literários da história da escrita lírica ocidental: quer pela sua paradoxal e poderosa potencialidade para expressar simultaneamente intensas comoções do sentir e fluídas ocorrências do pensar, quer pela sua não menor ductilidade para inserir, harmónica e elegantemente, a complexa expressão resultante em uma fabricada mecânica versificadora de grande rigor artístico e de enorme exigência criativa’[8].
Em lógica consequência, o centro das desinteressantes reflexões deste breve e excêntrico ensaio perderam intencionalmente muita da esperável aderência académica, tout court, ao privilegiar como critérios de seleção mais do que os juízos de valor estéticos ‘atuais’, com certeza secundarizados mas não banidos, os princípios de caráter trans-histórico, por vigorar nos cultuados sonetos do autor das Fições de um gabinete ocidental o que Mallarmé deu em chamar la totalité d’effet, aos quais, só no caso dos marinistas, podemos somar o princípio do prazer lúdico.
Até onde alcançamos, essa prática sonetística por nós avidamente frequentada como leitores, não tem sido acompanhada por um esperável e condizente (e suficiente) estudo da mesma, da parte de eruditos, estudiosos e avisados leitores, que nos permitisse partir nestas páginas da senequiana aliena umbra latentes.
Contudo, suponho assentada opinião comunal que Lucchesi é um excelentíssimo sonetista. Inter alia, porque limita a sua autonomia criativa na desejada obediência a um modelo formal e estrutural preexistente — à maneira da ars isidoriana, do estrito cumprimento de ‘regras e preceitos rigorosos’[9] — , procurando, por um lado, ultrapassar a ‘forma fixa’, ao servir-se das múltiplas ‘facilidades’ do antigamente para a declinação estilístico-retórica, e, por outro lado, convertendo a necessidade em virtude, ao cumprir com as rigorosas e exigentes obrigas desta máquina poética de condensação intelectual e concentração sentimental. Afinal, lembremo-lo, acho que já Braque, a diferença de outros cubistas, se ativo à ‘regra que corrige a emoção’.
Dessa feliz obediência formal lucchesiana é um mais do que significativo índice o facto de todos os seus sonetos seguirem a mais fiel ‘forma petrarquista’[10] que estabeleceu, quase de maneira impositiva para o futuro, o indiscutido prestígio e a imensa influência do exímio cantor de Laura. Coisa lógica, aliás, pois afinal, quando menos ‘amando’ e ‘expressando o amor’, também todos continuamos sendo basicamente petrarquistas, de um modo ou de outro.
Além dos que poderíamos qualificar de peculiares e libérrimas declinações ‘parasonetísticas’ e exatas apropriações tradutoras, tanto do persa Rûmî, na acurada invocação por volta da exultante libertação pelo ‘morrer de amor’ de «Morrei, morrei, de tanto amor morrei» (p. 542), como do austríaco Rainer Maria Rilke, na comovente espiritualidade pétrea do hino noturno, publicado em 1996, «Se fui ou ainda sou, teu passo» (p. 599)[11], ao todo e salvo erro, Marco Lucchesi tem publicado trinta e um sonetos. Deles, vinte e um são resultado da sua inventio, escrituralmente, por assim dizer, ex nihilo, e dez são canibalescas reescritas, em aggiornata apropriação tradutora de dois sonetos do francês Joachim du Bellay[12], dada a conhecer em 2019, e de oito do espanhol Francisco de Quevedo, que se remonta a 1992 e que se reproduz em Domínios da Isônia com pequenas alterações.
Deixando agora a um lado, as dez criações derivadas, posto que, ao guardarem também fidelidade às opções dos textos históricos de que partem em modo ancilar, possuem mais um condicionamento nesse âmbito[13], constatamos que, de maneira quase sistemática possuem rimas alternadas nos quartetos e rima cruzada nos tercetos (ABAB ABAB CDC DCD)[14].
Enfim, distante das atitudes de qualquer experto em múmias ou quantificador de verdades numéricas, a constatação anterior pretende ser um índice, um simples indício exemplificador da coerência do autor de Mal de amor para com as estritas exigências do petrarquismo estruturante (e não só) depositado na forma fixa que tão bem cultiva, e onde o recordo poético vive. Porque, regressando ao autor de Platero y yo, não devemos esquecer — coisa, aliás, que Marco Lucchesi, inegavelmente um dos “poetas com voz de pecho y […] de cabeza”, felizmente não esquece — que “[o] soneto no puede tener ya, después de tanto siglo de comprensión, uso y abuso, otra arquitectura que la de nuestro cuerpo desnudo, y el esqueleto dentro y dócil […] Quiero, insisto, um soneto interior, espiritual o realista, que no esté comido todavia por los gusanos de la técnica falsa, la muerte”[15].
Enfim, infelizmente em modo para-abstratizante, impossível e sentenciosa síntese e apenas através de significativos mas pouca exempla, percorramos em apressada descrição os diferentes conjuntos sonetísticos presentes em diversas obras.
Começando pelos mais recentes, os cinco sonetos de Sphera, obra publicada em “2003, com variantes em 2016” (p. 11), bebem do “rio-palavra e as águas claras do pensamento — Duas línguas com suas asas: — A antiga entressonhada Babel e a nova entretecida Sião” que, desde a ‘coda’ «Céu (versão literal)» (p. 225), ilumina retroativamente a obra com “estrelas novas”. Nessa amálgama aquático-literal, cabe ainda destacar: [I] a desesperançada invocação do mistericamente astral, em «Ao vivo coração do firmamento» (p. 190); [II] a salvífica e desiludida incerteza de «Nesse jardim de sonhos indormidos» (p. 200); [III] a luminosa e propiciatória emergência de um eu que «Prepara atentamente o magistério» (p. 209); [IV] a tão temida como fascinante e eterno retornamento do alquímico, do dântico “transumanar”[16] de «A natureza, em seu amor ardente» (p. 220); e, finalmente, [V] a procura da palavra poética e da indizível divindade, no delicadíssimo poema «Nas águas claras, longe da nascente» (p. 227)[17].
Mas afirmemos também que consideramos de uma invulgar excelência o primeiro e o último soneto dos referidos, pois, dado o pouco espaço e o escasso tempo de que dispomos, para cada um dos conjuntos, cometeremos a ousadia de destacar aqueles que, com oscilantes alicerces éticos e estéticos, temos para nós que — sempre sem diminuir os restantes — alcançam um invulgar grau de excelência, que, por um ou outro motivo, conseguem a altura expressiva e a incomum permanência dos ‘sonetíssimos’ de outrora e de agora, aqueles ‘que leio e que me leem’[18].
Já focando o segundo conjunto de seis sonetos (pp. 469-474) — que, lembremos, ‘remontam à primeira juventude’ do autor —, da obra místico-metafísica Alma Venus, publicada em 2000 e revisada em 2008, na verdade, resulta mais do que oneroso destacar algum deles, que, desde os títulos, prenunciam os seus conotados desenvolvimentos temáticos e, ainda, os seus modos: «Dualismo», «O Fim da Tarde, Antero», «A se stesso», «Leonardo», «Gala Placídia» e «Machina Dei». Mesmo assim, não nos resistimos a destacar o primeiro, aquele que melhor e mais precisamente devém emblema das caraterísticas da penúltima seção, «Cidades», da obra em que se integram os seis, com mais dois poemas em diferente fórmula: refiro-me, portanto, ao impressionante ‘sonetíssimo’ «Dualismo».
Mas antes de explicar as minhas ‘razões’ para uma tal apreciação superlativa, permitam-me que reproduza ipsis letteris as palavras do autor de A paixão do infinito e de Saudades do paraíso, em relação ao que quis ser (e foi) o livro na sua globalidade:
Fascina-me a ideia do eterno retorno. E de modo ambíguo. Porque ao mesmo tempo que me atrai também me assusta. Outra concepção, a do físico Mario Novello, com suas viagens no tempo. Viagens não convencionais: no papel, nos cálculos. Mas viagem. Nas curvas de tempo fechado. Na herança das cogitações de Gödel. Isso tudo em Alma Vênus, que é um livro temperado por questões cósmicas, em cujas águas tentei elaborar como paródia um microlusíadas quântico, marcado por elementos de retorno […], e observações cosmológicas […] e o problema da matéria […][19].
Sim, podería dizer-se mais, ou de outro modo, mas não com maior e sintetizada exatidão da essência dessa obra mestra.
No incontornável âmbito dessa ‘circularidade retornante’, servindo-nos de mais uma voz alheia, convoquemos a de Alexandre de Melo Andrade quem acertadamente afirma que, nos oito poemas de «Cidades» — para ele, «Horizontes», ao utilizar a versão prévia da Poesia reunida (2000) —, “a natureza crepuscular surge como representação da transitoriedade e da brevidade da vida”, enquanto nos seis sonetos já se transita “entre cromatismos que sugerem escuridão e penumbrismo, e outros a espargirem radiância e luminosidade”, concluindo que “o poeta não hesita em aproximar poesia e filosofia, conferindo à poesia a via de acesso a uma realidade cada vez mais superior”[20].
Aproximação filosófica — também de uma filosofia da ciência (em um sentido abrangente), precisaríamos — e prevalência da poesia em que é fácil estabelecer um paralelo com a conceção de Carlos Drummond de Andrade. O poeta itabirano, numa carta, datada o 23 de fevereiro de 1950 e endereçada ao seu genro, o escritor argentino Manuel Graña Etcheverry, afirmava existir “entre ciência e poesia uma relação natural, se não quisermos falar de uma síntese das duas, que é a filosofia. Não há ciência que não acabe em filosofia, nem poesia que não vá ter a ela”[21].
Enfim, além do teor místico-crepuscular gerado pelo redimensionado topos do tempus fugit, interessa-nos ressaltar do ‘sonetíssimo’ «Dualismo» o paradoxal jogo de contraposições e de encobertos oximoros, em irreverente sequência da mecânica retórica das quaestiones, assim como a natural decorrência que nos conduz passo a passo, entre tempo e individuo e eternidade e cosmos, à ‘chave de ouro’ da pergunta, sem resposta possível, que encerra em excelência o poema: “Como lograr, meu Deus, reparação, / enquanto segues longe pela estrada, da nossa irreparável solidão?” (p. 469).
Ora bem, este soneto, como muitos outros textos lucchesianos, de clara e rica leitura em campo branco, está conotado por harmónicos de sentido complementar que provêm de referentes poético-culturais implícitos e explícitos. Explico-me. No caso, entre potentes ecos camonianos e dantescos, podemos entender mais e melhor a poética da viagem, do percurso de regresso à unidade perdida, desde a desolada consciência de perda do (semi)divino transcendente da parte dos humanos ‘bichos da terra’. E podemos captá-la também em toda a sua complexidade a partir da citação que preside aos oito poemas de «Cidades»; referimo-nos à citação do autor de L’avventura della dualità (2003): “Ti perdo, ti rintraccio, / ti perdo ancora, mio luogo, / non arrivo a te” (p. 468).
Qualquer leitor do exímio poeta Mario Luzi tem presente o complemento contextual dos três versos: a viagem de regresso por terras e céus do pintor sienense Simone Martini, de Avignon a Siena, e dos dois sonetos que retratam aquela Laura (de Noves) que, retratada por ele para Petrarca, se tem identificado com a mítica amada do poeta toscano. Item mais, convoca o simbolismo da viagem entre as urbes como uma angustiada peregrinatio à cidade que se reveste de mítica Jerusalem perdida e que, nos versos que seguem aos citados por Marco Lucchesi, se “[v]anisce / nel celeste / della sua distanza / Siena, si ritira nel suo nome, / s’interna nell’idea di sé, si brucia / nella propria essenza / e io con lei in equità, / perduto / alla sua e alla mia storia…”[22].
Enfim, com a tristeza do inevitavelmente veloz recorrido pela sonetística lucchesiana, assinalemos que a resultante do labor tradutor presente em Faces da Utopia: Visitações não é de importância menor. Razão pela qual, muito fugazmente focaremos, à maneira de exemplum paradigmático, mas também pelo grande valor da versão, o último dos oito sonetos que transladam, com rigor e exatidão poéticos, a textualidade de Francisco de Quevedo: «Em crespa tempestade de ouro undoso» (p. 557)[23].
A versão, tendendo à possível e respeitosa literalidade da equivalência, salva —e, meu deus do céu!, para mim, até melhora na sua fidelidade in toto ao original — alguma pequena disfunção do poema quevedesco, por médio das seguintes ‘liberdades’, entre outras de pormenor: “meu coração, buscando formosura” por “mi corazón, sediento de hermosura” (v. 3); “exibe seu amor e a vida apura” por “su amor ostenta, su vivir apura” (v. 6); “as asas queima pra morrer glorioso” por “arde sus alas por morir glorioso” (v. 10); e, finalmente, a substituição do possessivo original “sus” por o mais englobante “as”, no início do verso décimo, que ao criar ambiguidade referencial, permite a incorporação do eu poético ao ‘choro’ das ‘incendidas esperanças’: “as esperanças que defuntas choro” por “sus esperanzas, que difuntas lloro”.
De todas as maneiras, o realmente importante é que o resultado final da inteligente e sensível apropriação do soneto, das consequências de uma aplicação de um ‘ouvido absoluto’, vigora também pela preservação rítmica e melódica — e mesmo, rimática, fazendo da necessidade virtude, ao rimar ‘paronomásticamente’, com ‘choro’, ‘tesouro’ e ‘ouro’ dos versos inicial e final do segundo terceto.
Pode levar a equívoco a explicação introdutória — “Afetos vários do seu Coração flutuando nas Ondas dos Cabelos de Lisis” —, com que Gonzalo de Salas resumira o tema do soneto daquele para quem, o renascimento e o barroco italianos tanto contribuíram à sua conformação intelectual e literária, em paralelo com um ‘dolcestilnovista’ e ‘dantiano’ Lucchesi que acrescenta à espessura barroca o peso do maneirismo luso e, especialmente, camoniano (e não só). E pode levar a equívoco, especialmente, nuns tempos como os nossos, em que, perdidos os referentes da imitatio, resulta complicado perceber nos construtos retóricos de outrora veículos para a sinceridade do humano, distinguir entre um ‘calhamaço’ ultrarromântico, sentimentalmente efusivo, e uma maravilha sensitiva e culturalmente expandida, sendo dificultoso perceber a desmesura das referências mitológicas que geram um tecido de significados e uma eruditíssima “eros-dicção” — Geraldo Carneiro, dixit[24] — que, limitando-nos à tradução cocriativa em causa, Lucchesi compartilha com Quevedo.
Por outro lado, acho que a pratica de excelência que observamos na escrita lucchesiana do soneto, sempre nos leva a sentir essa “ turbulence immobile ” derivada do “ jeu virtuose ” que faz com que, para Pascal Quignard, no romance L’amour la mer, “ plus on est habile, et plus l’amnésie de la genèse de l’habilité est totale, plus les exercices qu’elle a coûtés ne peuvent s’apercevoir ”, gerando-se uma “ facilité qui apparaît aux yeux du monde comme un don qu’on possédait en naissant est une grâce qui ne résulte que d’une impitoyable et constante ascèse ”[25].
Afortunadamente, chegaram a nós alguns desses ‘exercícios’ lucchesianos que, no conjunto dos dez Sonetos marinistas, conseguem dar e dar-se uma imagem da referida ascese — isto é, imaginá-la e imaginar-se. Na obra, alternam cinco em português com os cinco em italiano, que, na íntegra, vêm a luz em 1997, enquanto que os cinco na língua de Dante, revistos e sob o título de Sonetti marinisti, são republicados no volume Irminsul que, dezessete anos transcorridos, recolhe toda a poesia em italiano do autor[26].
Nas «Notas» finais, o autor informa de que “[o]s sonetos foram escritos segundo as regras de outrora. Imaginei um poeta luso-brasileiro em diálogo com um poeta italiano. Entretanto, ao imaginar dois poetas que me habitam (quem sabe os oficiantes de Santa Sofia), decidi-me por uma aparência discursiva, como se fosse um espelho bilíngue” (p. 539).
Com efeito, em uma obra tão bilingue, quão, de me permitirem a invenção do neologismo, biblingue, nos referidos ‘oficiantes’ ecoam, com significativos resultados simbolicamente conotados, os dois que, na nota introdutória a Bizâncio, “desapareceram misteriosamente pela porta sul do santuário, levando as patenas e os cálices mais preciosos, para regressarem no dia em que Constantinopla se tornasse novamente cristã, quando, então, retomariam a liturgia do ponto em que fora interrompida…” (p. 498).
Mas também não é alheia a esse processo de expansão relacional, a essa arquitetura invisível resistente a qualquer tentativa de a ignorar, a epígrafe introdutória da obra, recolhendo as proféticas palavras do Padre Vieira: “Vós descobristes ao mundo o que ele era, / e eu vós descubro a vós o que haveis de ser” (p. 525). Expansão que, por seguir nos termos de profunda figuração alusiva, se enche de sentido como as expressões que, precedentes e sequentes, completam as citadas na extraordinária História do Futuro: “Assim como líeis então aquelas vossas histórias, lede agora esta minha, que também é toda vossa” e “[e]m nada é segundo e menor este meu descobrimento, senão maior em tudo”. Porque se para Vieira o profeta Isaías podia ser considerado como um “cronista dos descobrimentos de Portugal”, Lucchesi, com este poemário ao antigo modo e seguindo regras do antigamente desde o futuro do passado, pode ser considerado um lúdico sismógrafo, retroativo e prospetivo, do sofrer de amor sem reciprocidade, da inelutável morte de amor, dos gravosos efeitos desse “amor que, a nenhum amado amar perdoa”[27]… Sempre Dante!, mesmo, qual ventríloquo na voz defensiva de uma errada Francesca.
Na verdade, os dez sonetos são ‘marinistas’, revivificam as modas e os modos engenhosos dessa tendencia cultural basicamente italianizante, mas também bebem daquele concetualizante engenho ‘maneirista’ lusizante, respectivamente, na esteira dos seiscentistas maiores Giambattista Marino e, muito em especial, Luís de Camões. Mas, dito isto, também resulta aliciante poder perceber alguns dos textos italianos, o primeiro, o terceiro e o nono, como ‘marinistas’ pela sua extraordinária e. mais ou menos, consistente ambientação pictográfica da “procela” e dos “laberinti acquosi” (I), do “mare spumante” (III) ou de “l’isola d’amor” (IX).
Numa enumeração sequencial, poderíamos tentar expor mais uma patética e distorcida síntese temática do amor, por intransitivo, basicamente ‘masoquista’ e sofrente, que se declina especularmente nessa publicação dual, em que grosso modo acompanhamos um repetido confronto do sempiterno locus amoenus exterior de um hostis externo, e do não menos perene locus horribilis interno do inimicus interior.
É assim que poderíamos falar [I] da “nera sorte” — antes “scura” (2014) e “trista” (2000) — da “cruel consorte” que, em «Deh, qual furente nume sì rubella» (p. 527), conduz a “abbracciar la morte”; [II] da “gran tristura” e o “grave desfavor” que, em «Dês que vos conheci, ó minha Senhora» (p. 528), provoca o amor não correspondido; [III] do “fato amaro” e carnalizante que, em «Questo límpido ciel, mare spumante» (p. 529), apaga qualquer incerta “beltà cotante” do “sventurato amante”, que sabe da “crudel, druda d’Alvaro”; [IV] do “marteiro” e a “solidão” provocados pelo “desprezo” da amada que, em «É de tal arte a dor de minha vida» (p. 530), justifica o desejo de “não ser nado”; [V] do devir sofrente do “vedovo” que, em «La notte è chiara e di soavi accenti» (p. 531), assiste à mudança desta para “tristo manto” que muda o seu em “dolor più grave e scuro”; [VI] da cena de «Na clara fonte estáveis, Filomena» (p. 532), raiz de sofrimentos por uma “servidão” amorosa de que só ela pode libertar o amado, com a intensificadora pergunta final, interrupta e retórica, “quem há-de?”, gerada por uma necessidade métrica mudada em feliz virtude expressiva, em acertada chave de ouro; [VII] do “dolce martoro” de «Sotto i nembi d’amor, pe’ campi d’oro» (p. 533), na consciência de uma amorosa vita brevis e do “grave sonno” de também uma “vita di caduca sorte”; [VIII] em «Minha Senhor passava dantre as flores» (p. 534), da “fereza” agreste da “Senhor” no arcádico ambiente, de uma ambígua e disfémica Flora; [IX] da urgência de celeridade no amor, em «Cinzia, non indugiar, già soffia ’l vento» (p. 535), antes de que “la cruda Parca” tome conta “di nostra picciol vita vana e mesta”; e, finalmente, [X] da “desventura” de o namorado se encontrar, no “perdimento” de “tanto amar”, o “desamor” da amada, em «Senhora, que abalais a fortitude» (p. 536).
Afinal, paupérrima delimitação da riqueza esplendente de uns sonetos que, para qualquer avisado leitor, se expandem em reverberações de cultura e sentido, como para apenas citar uma mostra, quando o “dolce martoro” do sétimo soneto evoca em nós — talvez em inadmissível exagero relacional — a ária «Il mio crudel martoro” da princesa Genevra, namorada de Ariodante, na ópera homónima do compositor barroco Georg Friedrich Haendel (HWV 33), com libreto em italiano de Antonio Salvi, a partir do Orlando Furioso, de Ariosto.
Enfim, já deixando com um algo de frustração a nossa pobre revisão da excelsa prática poética lucchesiana do soneto, seria bom questionar-nos sobre a vigência e pertinência dessa forma fixa na contemporaneidade e sobre a transposição que o nosso autor tão felizmente efetua desde a anterioridade até à interioridade, e vice-versa. Para tal, acudamos à abrangente ‘estelologia’ formalizada pelo filósofo Mario Perniola, no ensaio Del sentire (1991), dado que define a nossa como uma “época estética” que, gerada em continuidade a partir das formas seiscentistas do sentir (e daí para a frente), nesse âmbito, “não mudou apenas o objecto, mas o modo, a qualidade, a forma da sensibilidade e da afectividade”, “substituindo-se o pensar pelo já pensado”. Desse modo, temos para nós que é nos paradoxais parâmetros do antigamente agora em foco, da hipertrofiada subversão do formalismo, que Marco foi procurar, com entusiasmo, uma das possíveis e complexas respostas alternativas à questão colocada pelo filósofo piemontês: “por que razão a experiência da arte está tão indissoluvelmente ligada a uma categórica exigência de impessoalidade?”[28].
Consideram esta afirmação excessiva e hiperbólica, discutível nas suas implícitas contradições? Não excessivamente subtil? Talvez eu também, mas, mesmo obviando a dimensão analítica e polémica, opino que é uma caraterização adequada para quem, como Marco Lucchesi, se distancia de muitos dos restos ultra e pós-modernos, assim como se diferencia em excelência dos modos e modas poéticas de grande parte da poesia brasileira coeva. De facto, adaptando o comentário stendhaliano de que ‘escrevia em língua francesa, mas não escrevia em literatura francesa’, pode-se afirmar que Lucchesi sim (e não) escreve nas línguas e nas literatura brasileira e italiana, sim, mas também em muitas outras, sem esquecer as dos paradoxais antigos tempos do hoje.
Cientes desse paradoxo e de que o leitor assistiu, neste amalgamado ensaio, a mais um, o de um saber que, ao ser procura, não sabe, retomando a citação inicial, exculpar-me-ei confessando que, no soneto de Marília de Dirceu, «[o]brei quanto o discurso me guiava». Portanto, só me resta desejar uma renovada leitura dos singulares sonetos lucchesianos, que têm a capacidade, quando menos em parte, de responder, repetida e diferencialmente, a inquietante pergunta que, desde há mais de quatro séculos, nos segue fazendo Sá de Miranda, e que, desde a nossa atualidade, nos podemos seguir fazendo: «”Que farei quanto tudo arde?”[29]. Porque, afinal, os sonetos aqui focados, entre outras muitas bondades, literárias e vivenciais, do sentir e do pensar, têm esse “peu de nuit” que, como afirmava Paul Bénichou, precisa toda literatura.
Retomando a língua laputar, confessaremos que, vur akestäi halepäi saiferi, adin zoliđ fid orenđ çirid işur, dar fur tavor mian enđer kai kunz ne arivoşi, isto é, que ‘nestas árduas páginas, teria sido oportuno um acurado estudo completo, mas a tanto não chegaram meu engenho e arte’.
Muito obrigado pela sua grande paciência e atenção.
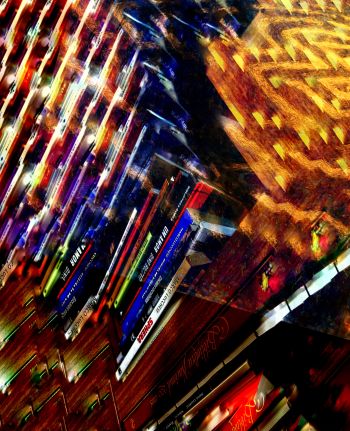
[1] Cfr. o «Prólogo» de Ana Maria Haddad Baptista à seleta poética de Marco Lucchesi Elipsis y refracción / Elipse e refração, traducción de Monserrat Villar González (Madrid, Lastura / Alcalima, 2021, p. 8 [pp. 7-8]).
[2] Carta escrita em Havana e datada no dia 31 de março de 1937 (Cfr. Juan Ramón Jiménez: Cartas literarias (Barcelona, Bruguera, 1977, p. 210).
[3] O caráter arcaizante que tinge a textualidade bilingue dos Sonetos marinistas, vai além da retórica, da metaforização, dos referentes culturais ou dos topoi desenvolvidos, mesmo chegando a uso gráfico do ‘e’ tironiano, a abreviatura do et latino (&) nos manuscritos e impressos medievais, renascentistas e barrocos.
[4] Ambas as notas provêm do índice explicativo de Domínios da Insônia – Novos poemas reunidos (São Paulo, Patuá, 2019). Edição da maior parte da poesia de Marco Lucchesi que, ao longo deste ensaio, utilizamos de modo sistemático para todas as citações da textualidade poética (e não só) nela agrupada, seguidas dos correspondentes números de página.
[5] Mesmo sem a conhecer, não posso evitar o sentimento que me produz a perda dessa escrita sextinária que, mesmo em âmbito brasileiro, já produziu tão ótimos exemplos como o criativo translado para português, realizado por Augusto de Campos, em «O firme intento que em mim entra», do dir strano e bello da paragdimática sextina «Lo ferm voler. Qu’el cor m’intra», de Arnaut Daniel — aquele que, por ter desejado ‘abreviar o tempo com arte’ (“temps breujar asb art”), é opinião comunal que inventou a sextina. Invenção da qual o estudioso Paolo Canettieri explicou, de maneira convincente, a discutida ‘razão’ da sua estrutura estrófico-rimática como transposição arnautiana da sua querência do jogo de dados e pela soma que se produz entre as caras opostas do dado. Enfim, para esta e outras considerações da, só no caso da produção desaparecida do nosso poeta, ‘infausta’ sextina, ouso remitir à nossa introdução ao excelente Sextinario: trinta e seis + 3, da poeta galega Marica Campo (Santiago de Compostela, Sotelo Blanco / Edoy Leliadoura, 2007, pp. 9-21)
[6] Cfr. Joan Brosa: Sextines 76, Barcelona, Llibres del Mall, 1977, p. 45.
[7] Expressões tiradas do noveno decassílabo (“razões de fogo, versos fabricados”) do soneto seiscentista «Vítimas da alma, funerais da vida», de D. Francisco de Portugal (1585-1632). (Cfr. Carlos Paulo Martínez Pereiro: Razões de fogo, versos fabricados — Sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII, A Coruña, Espiral Maior, 1999, p. 38).
[8] Vid. op. cit., p. 10.
[9] “Ars vero dicta est, quod artis praeceptis regulisque consistat” (Isidoro de Sevilla: Etimologiae, I,1).
[10] Forma que assome a fixação da estrutura devida a Guitone d’Arezzo de quatorze decassílabos, distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, à qual o autor do Canzionere acrescentou o padrão das ordens rimáticas.
[11] Igual que os dez sonetos traduzidos que, a seguir, referimos, ambos poemas estão tirados do conjunto da trajetória poético-tradutória lucchesiana que, revista e acrescentada, se recolhe em Faces da Utopia: Visitações, seção final dos ‘novos poemas reunidos’ em Domínios da Insônia.
[12] Que, respetivamente, têm como incipit «Sacros montes, e vós santas ruínas» (p. 544) e «Astros cruéis, e deuses desumanos» (p. 545).
[13] Com as também clássicas soluções maioritárias de rima interpolada e emparelhada (ABBA ABBA) nos quartetos e de rima cruzada (CDC DCD) no caso dos tercetos, com o respeito às variações (CDC DEE e CCD EED) presentes nos poemas de partida das, mesuradamente haroldianas, ‘transcriações’ de Joachin du Bellay.
[14] Com a exceção do décimo e último soneto marinista que, apresentando três ordens de rima, e interpolada no terceto (CDE CDE), altera a constante.
[15] Respetivamente cartas endereçadas a José Luis Cano e a Enrique Azcoaga, escritas por Juan Ramón Jiménez, por volta de 1949 (ou 1950) e o 27 de janeiro de 1941 (Cfr. Cartas literarias, Op. cit., pp. 195 e 265-266).
[16] «Transumanar significar per verba», Dante Alighieri: (Divina) Commedia — Paradiso, Canto I, verso 70.
[17] Supostamente ‘traduzido’ por Paulo Sergio Viana para o português, a partir do ‘original’ em esperanto «En akvo hela, for de ĝia fonto», ludicamente referenciado ao livro de Marko Lukezi Domajnoj de sendormeco (Cfr. Marko Lukezi (Marco Lucchesi): Alivorte (Em outras palavras, Rio de Janeiro, Forlar Barlur / Dragão, 2021, pp. 34-35).
[18] Modulando ad hoc as palavras pronunciadas por Lucchesi a respeito de O sorriso do caos: “Leio os livros que me leem” (Cfr. «A vertiginosa aventura da unidade — Entrevista a Floriano Martins», in Ficções de um gabinete ocidental — Ensaios de história e literatura, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2009, p. 267 [pp. 259-274]).
[19] As antes referidas conceções, linhas acima, são a da “volta primordial” de Guimarães Rosa, a da “demanda de Ítaca e a do tempo mítico”, a do pantempo de Eliot e a do Áion de Jung (Cfr. op. cit, p. 264).
[20] Cfr. as páginas 111, 118 e 119 do seu artigo «Alma Vênus, de Marco Lucchesi — Em busca do paraíso (im)perdido», Texto Poético, 8,12, Revista do Grupo de Trabalho ‘Teoria do Texto Poético’ (ANPOLL), 2012, pp. 107-121.
[21] Cfr. Lucas Ferraz: Piauí, Edição 121, «Calculando Drummond», outubro de 2016, s/p. (https://piaui.folha.uol.com.br/materia/calculando-drummond/).
[22] Cfr. Mario Luzi: L’Opera poetica, a cura e con un saggio introduttivo di S. Verdino, Milano, Mondadori / Il Meridiano, 1998, p. 1094.
[23] Os sete anteriores traduzidos têm como incipit «Ontem foi sonho; amanhã será terra!» (p. 550), «Foge sem perceber-se, lento, o dia» (p. 551), «Viver é caminhar breve jornada» (p. 552), «Buscas em Roma a Roma, peregrino!» (p. 553), «Amor me teve alegre o pensamento» (p. 554), «Porque derrama noite o sentimento» (p. 555) e «Mandou-me, ai Fábio!, que a amasse Flora» (p. 556).
[24] “A amada finalmente se encarnou / Em rosa, primavera, eros-dicção”, versos oitavo e noveno do poema «revisão da rosa-dos-ventos» (Cfr. Geraldo Carneiro: Poemas reunidos, Rio de Janeiro, Nova Fronteira / Fundação da Biblioteca Nacional, 2010, p. 107).
[25] Cfr. Pascal Quignard: L’amour la mer, Paris, Gallimard / Folio, 2023, pp. 341, 86 e 87. Romance que explora os mistérios da criação musical e da paixão amorosa, na Europa infausta e enfebrecida do século XVII.
[26] Respetivamente, em Bizâncio (São Paulo, Record, 1997) e Irminsul — Poesie (Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti / Paccini Facci, 2014).
[27] “Amor, ch’a nullo amato amar perdona”, Dante Alighieri: (Divina) Commedia — Inferno, Canto V, verso 103.
[28] Cfr. Mario Perniola; Do sentir, tradução de António Guerreiro, Lisboa, Presença, 1993, pp. 11, 14 e 56.
[29] Chave de ouro de parte do verso final, com que se encerra o soneto de Sá de Miranda «Desarrezoado amor, dentro em meu peito» (Cfr. Razões de fogo, versos fabricados, op. cit, p. 23).
Revista Triplov
Índice do volume Marco Lucchesi
Abril de 2025
