
Por Ettore Finazzi -Agrò
Para entender Marco Lucchesi e a sua importância no atual panorama brasileiro, acho oportuno colocar e tentar responder previamente a algumas perguntas. A saber: o que significa ser um intelectual hoje? Qual é a sua função na sociedade contemporânea? E sobretudo: qual é, se existe, o seu lugar, a dimensão que lhe própria num mundo, por um lado, sempre mais líquido e rarefeito e, pelo outro, sempre mais povoado pelos nacionalismos e trabalhado pelas fronteiras, atravessado pelas guerras e regado pelo sangue dos inocentes? As respostas a estas perguntas são, na verdade, sempre difíceis, mas resultam, a meu ver, muito mais complexas hoje de que nos séculos passados.
Considerando apenas o séc. XX, de fato, é relativamente fácil reconhecer os maîtres à penser, aqueles homens e aquelas mulheres que dedicaram a vida deles a mostrar o caminho a ser percorrido, graças à sua capacidade de refletir sobre os erros e as falências do seu tempo, de se opor às obrigações e às censuras decretadas pelo Poder. Apesar deles, come se sabe, apesar da lição que eles tentaram dar aos seus contemporâneos, o “século breve” foi aflito por guerras e ditaduras, por massacres e terror.
A situação atual é, por um lado, semelhante (guerras e ditaduras, sangue e horror assolam ainda o nosso presente) e, pelo outro, bem diferente daquela na qual atuaram os grandes mestres da cultura e da arte ocidentais, dos quais herdamos, certamente, um patrimônio enorme, feito de teorias, de interpretações do mundo e de experiências artísticas incomparáveis, mas um patrimônio ideal tornado quase inacessível ou inaudível, hoje, pela presença de um ruido de fundo que parece querer abafar ou pôr em surdina a voz dos intelectuais. Esse barulho, esse rumor branco é, obviamente, provocado pela digitalização montante dos saberes que se, por um lado, democratiza a cultura, pelo outro, torna quase impossível discriminar entre o alto e o baixo, entre o profundo e o superficial, entre a consistência e a incoerência, entre a validade e a aberração das opções ideológicas e estéticas.
Nesse sentido, o mundo hodierno pretende uma nova atitude intelectual, um posicionamento inédito frente aos fenômenos artísticos e socioculturais. Dada, justamente, a rapidez das informações, vista a acumulação irrestrita das opiniões e dos dados, considerando a dificuldade em discernir as mais pregnantes expressões do pensamento e em reconhecer o valor efetivo das obras, a única possibilidade que resta é, para o intelectual, a de contrastar ou de fugir à preensão de um Poder disperso e, ao mesmo tempo, agarrado aos seus privilégios.
De resto, que a função do intelectual seja vinculada à necessidade de “dizer a verdade ao Poder” foi muito bem ilustrada por Edward Said em 1993 nas suas Reith Lectures [1] nas quais tratou das “Representações do Intelectual”, discriminando entre o amador e o profissional a partir, justamente, da capacidade do segundo de se opor à versão oficial, de se colocar na posição incômoda de quem “arruína as verdades sagradas” – para parafrasear o título de um conhecido livro de Harold Bloom. O homem de cultura, nesse sentido, aquele que em inglês se define como educated person, é quem, justamente em nome da sua “educação”, se furta a uma definição unívoca, quem recusa qualquer papel pré-constituído em que as elites políticas e socioeconômicas pretendem de o relegar.
O problema, todavia, permanece: como lidar com uma situação que, apesar de tudo, Edward Said podia apenas suspeitar em 1993? De que modo, hoje, pode se posicionar um intelectual e de que modo o podemos reconhecer como tal num mundo multilateral e nebuloso onde dizer a verdade ao Poder não basta, visto que o poder se esfarinha em mil pequenos núcleos e as verdades se dispersam num amontado de quase-verdades, de pós-verdades ou até de mentiras e de fake-news?
Talvez a única possibilidade seja aquela indicada por outro grande maître à penser do século passado. Com efeito, Roland Barthes na sua aula inaugural para a cátedra de semiologia literária no Collège de France, ministrada no dia 7 de janeiro de 1977, considerava como fugir a um poder que ele já pressentia como plural. Um poder disperso, presente, como ele escreveu:
não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos liberadores que tentam contestá-lo.[2]
Barthes, diante dessa situação aporética e sem saída, adianta mais uma consideração sobre a função dos homens cultos:
Alguns esperam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra o Poder; mas nossa verdadeira guerra está alhures: ela é contra os poderes, e não é um combate fácil.[3]
Como se vê, numa perspectiva mais articulada e, em parte, diferente daquela de Said, o grande semiólogo francês descreve aquela situação que, com o crescimento do vozerio e das instâncias ideológicas devido ao uso montante dos meios de comunicação, vivemos na época atual, obrigados a enfrentar a multiplicação e a dispersão descontrolada dos dispositivos de poder.
A única solução possível para esta aporia, a única possível saída dessa situação aparentemente sem saída é constituída, para Barthes, pela literatura, dispositivo, também ele, mas que permite “trapacear a língua”: trapaça salutar, esquiva, logro magnífico, como ele a define, permitindo “ouvir a língua fora do poder”.[4] É esta, a seu ver, a grande força da literatura, a sua razão de ser e a sua ética, graças à qual o escritor – e, mais em geral, o intelectual – consegue fugir a qualquer papel imposto se servindo de dois expedientes, ou melhor, de dois artifícios ou de duas esquivas: a teimosia e o deslocamento.[5]
Esta longa premissa sobre o lugar do intelectual me permite, enfim, definir – sem nenhuma vontade de definição ou de confinamento – a figura e a obra do meu querido amigo Marco Lucchesi. Porque exatamente a obstinação (no seu sentido bom) e a errância são, a meu ver, as cifras do seu engajamento, do seu compromisso com a literatura e, mais em geral, com a cultura. Não, repare-se, uma atitude divagante ou distraída, mas a combinação rara de teimosia e deslocamento, de insistência e desistência.
Basta, nesse sentido, percorrer a sua bibliografia para constatar como nos seus, há pouco, cumpridos sessenta anos ele tenha praticado quase todas as áreas do saber, mantendo sempre aquela coerência epistemológica e ética que o tornam uma referência no âmbito da teoria e da prática literárias. Para voltar a Roland Barthes e à sua Aula, Marco corresponde ao perfil que nele encontramos, ou seja, de quem
se encontra na encruzilhada de todos os outros discursos, em posição trivial com relação à pureza das doutrinas (trivialis é o atributo etimológico da prostituta que espera na intersecção de três caminhos). Teimar quer dizer, em suma, manter, ao revés e contra tudo, a força de uma deriva e de uma espera.[6]
Longe de mim pensar Marco como uma meretriz – apesar da sua sedutora capacidade de falar em público –, mas a sua obra mostra, na verdade, como ele tenha sempre se mantido no limiar ilocável entre todas as possíveis teorias, na encruzilhada, justamente, entre todas as possíveis práticas culturais.
Quem olha, também de relance, para a sua produção constata, com efeito, como ela seja atravessada por um desejo pujante de experimentação de sempre novos registros expressivos. Um leque de experiências, de fato, que vai da crítica literária à poesia, passando pela prosa de ficção, pelo memorialismo e pela produção de textos de intervenção social – sempre ao lado da sua intensa atividade de tradutor e de organizador de antologias poéticas. Isso, sem esquecer o modo em que ele assumiu cargos públicos prestigiosos: ontem jovem, muito jovem presidente da Academia Brasileira de Letras; hoje ainda jovem presidente da Fundação da Biblioteca Nacional.
Eu já manifestei várias vezes o meu estupor e o meu espanto por essa multiplicidade de atividades culturais, artísticas ou organizativas,[7] mas aquilo que eu quero sublinhar aqui é a coerência intelectual que sempre acompanhou essa pluralidade de empenhos, como se Marco, ao longo dos anos, tivesse ficado fiel ao seu ethos tanto privado quanto público, insistindo em esperar um sentido no mesmo gesto com que o sentido era criado. Espera que, nele, sempre foi também esperança, ânsia de um além que ele persegue com obstinação, quase como na quête do cavaleiro cortês indo à procura de algo que, pelo próprio fato de ser procurado, nunca é atingido.
E é neste ponto, exatamente, que teimosia e deslocamento, características próprias do intelectual moderno, se encontram e se sustentam mutuamente: na insistência da procura e na desistência em relação a um fim, a um ponto final. Porque o fato de “transportar-se para onde não se é esperado” representa o modo incessante e obstinado para manter-se longe e fora do Poder e dos seus múltiplos dispositivos – experimentando até a possibilidade de se colocar fora da linguagem comum para se furtar ao poder que também nela se esconde, como ainda Barthes indicou e como Marco tentou pôr em prática chegando até a inventar uma língua (im)própria e imaginária que ele denominou de Laputar.
A relação com a linguagem se apresenta, aliás, como o ponto de fuga da sua pesquisa intelectual e da sua prática artística, sendo ele um estudioso compulsivo de idiomas. O fato dele ter apreendido e praticado mais de vinte línguas mostra como a sua ideia de cultura passe sempre pelo movimento incessante dentro e em volta das palavras, até chegar àquele silêncio que, protagonista indiscutível da sua poesia, é justamente o resultado de uma sobreposição quase babélica de sons. No fundo, capturar o “poder do silêncio” enquanto ápice e, ao mesmo tempo, avesso de qualquer Poder – um poder, então, que se vive no desapossamento e na inópia –, é, talvez, o resultado mais evidente de uma busca que atravessa idealmente todos os registros expressivos para se refugiar naquele lugar que é fora do discurso dominante, sendo, todavia, a dimensão onde todos os discursos se cruzam.
É desse intelectual obstinado e movediço, dessa educated person que da sua formação ítalo-brasileira fez um ponto de partida para explorar, a partir da sua identidade duplicada, o universo das artes, das filosofias, das literaturas, sempre combinando e recombinando linguagens, se subtraindo sempre aos Poderes – até se tornar, sem querer e por paradoxo, figura poderosa no panorama cultural brasileiro, justamente pelo seu fugir a qualquer delimitação e a qualquer regra imposta – é desse homem, enfim, que estamos falando hoje. Mas falar dele não significa, não pode significar de o compreender ou de o prender com outros, porque ele está sempre alhures em relação a qualquer definição estável, ele mora, sem nunca demorar, naquele espaço entre as linguagens, entre as instituições e os dispositivos onde se entrevê finalmente aquele Aberto de que falou Heidegger: espaço da inteligência e da arte, espaço integralmente humano.
****
E agora me deixem falar um pouco do meu amigo Marco – não do Marco intelectual, tradutor, romancista ou poeta; não do Marco presidente da ABL ou da Fundação da Biblioteca Nacional, mas daquele jovem que eu conheci quase trinta anos atrás por ocasião de uma palestra dele no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio.
Desde então, desde aqueles infindáveis passeios pela Avenida Atlântica, feitos de conversas, de confissões e de felizes coincidências de opinião, eu vejo nele quase uma extensão mais jovem de mim mesmo, uma pessoa que observei, de longe, crescer e se afirmar no meio cultural e artístico brasileiro.
Cada vez que eu o reencontrei – no seu apartamento em Niterói junto com o pai e o seu doce sotaque toscano, na Itália por ocasião das suas viagens, no Brasil quando eu lá ia para participar em congressos ou para ministrar cursos – cada vez eu senti Marco como um irmão muito mais novo, ele brasileiro com uma forte ligação com a Itália, eu italiano fascinado pela cultura brasileira.
Ainda agora quando penso em Marco, penso que não seja uma coincidência que ele, carioca e lucchese de origem, guarde no apelido o nome da cidade dos seus pais. Na verdade, por tudo aquilo que eu disse sobre ele, não é tanto com aquela Lucca dentro que eu o identifico, quanto com aquela maravilhosa região fora e ao redor da cidade e dos seus esplêndidos muros, isto é, com aquela lucchesia verde e cheia de história pela qual, idealmente, perambula Marco, sempre alhures em relação a qualquer aqui, sempre longe da fixidez e do confinamento num só lugar, sempre no limiar ilocável entre todas as linguagens possíveis e todos os possíveis discursos.
No fundo, basta apenas acrescentar uma A ao seu apelido para transpor as imponentes muralhas de Lucca e para transformar a cidade em território, o lugar num espaço – naquele Aberto, talvez, no qual procurarei e encontrarei sempre, obstinado e errante, o meu amigo Marco…
[1] Said, E. W., Representations of the Intellectual, New York: Vintage, 1996 (ver, em particular, pp. 85-102).
[2] Barthes, R., Aula. São Paulo: Cultrix, 1980, p.10 (ed. or.: Leçon. Paris: Seuil, 1978)
[3] Ibidem.
[4] Ibidem, p.15.
[5] Ibidem, p. 25.
[6] Ibidem, pp. 25-26.
[7] Cf., por exemplo, o meu “Marco Lucchesi e sua inquietação”, prefácio ao seu livro A memória de Ulisses. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 9-12.
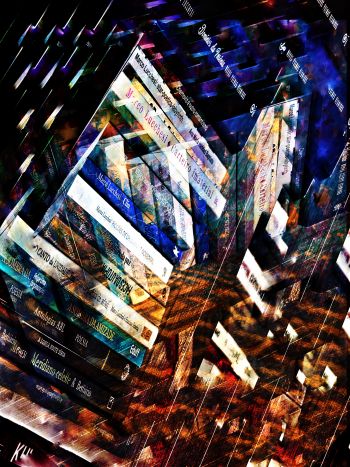
Revista Triplov
Índice do volume Marco Lucchesi
Abril de 2025
