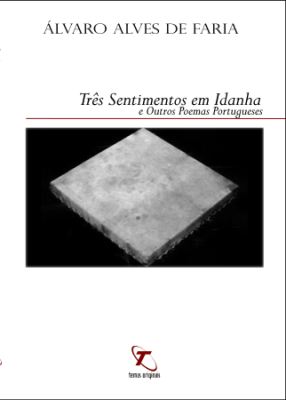|
||||||
REVISTA TRIPLOV
|
||||||
|
|
||||||
EDITOR | TRIPLOV |
||||||
| ISSN 2182-147X | ||||||
| Dir. Maria Estela Guedes | ||||||
| Página Principal | ||||||
| Índice de Autores | ||||||
| Série Anterior | ||||||
| SÍTIOS ALIADOS | ||||||
| TriploII - Blog do TriploV | ||||||
| Agulha Hispânica | ||||||
| O Bule | ||||||
| Jornal de Poesia | ||||||
| Domador de Sonhos | ||||||
| O Contrário do Tempo | ||||||
|
TRÊS SENTIMENTOS EM IDANHA |
||||||
| 1. | ||||||
|
Pois que no olho dessa ovelha está minha vida não sei dizer das minhas palavras a frase certa mas o verso de minha existência no olho dessa ovelha que me olha em sua volta como se a conhecer-me de outra vida essa que habitei nas Primaveras por estas casas de pedra e o céu tão branco como a luz este silêncio que corta a noite a colina tão ampla de tantas distâncias feita o amanhecer tão nítido na asa dessa ave a despertar o dia no esquecimento.
Meu pai está ali sentado ao pé da porta da casa como se a me esperar com seu paletó escuro e sua gravata antiga como se a saltar de uma fotografia e comigo se deparasse num abraço escondido no bolso seu cajado como a de um pastor a olhar as horas na relva úmida da manhã.
Meu pai está ali sentado a olhar-me não fala as palavras que me ensinou nem acena o aceno que me tinha talvez me guarde entre os dedos num afago das mãos e do lado esquerdo deixe escorrer silencioso o tempo como se a me aguardar aqui em Idanha eu pastor de mim a caminhar comigo em minha volta a procurar-me ainda que não me busco só para viver mas para caminhar pressentimentos.
A planície se estende quase azul onde o verde termina passageiro em meus sapatos aqui onde nasce o sonho porque a vida se abre é só saltar pelos telhados escuros destas casas e se deixar dentro da terra raiz da vida onde vivem os passos passados e os pés de uva. |
||||||
| 2. | ||||||
|
Pois que neste caminho a andar à tarde como se a colher das ovelhas os rumos das montanhas
eis que neste caminho a percorrer igrejas e pátios nas aldeias de meu pai neste caminho neste altar
pois aqui encontro a Senhora do Almortão e com ela saio a caminhar no mais fundo de mim onde não me encontro mais a cantar com ela a reza do povo
a cantar com ela modinhas que me ensinou a infância quando o olhar ainda não pressentia o som das horas no tecido tênue da face o nascer da vida e o que estava por vir
a cantar com ela a Senhora do Almortão Virgem Santa mãe de Deus nestas pequenas ruas de Idanha seu vestido talvez amarelo quase verde branco talvez azul da cor do céu e das nuvens da lã dos carneiros os olhos brilhantes Senhora e essa coroa de um ouro que não conheço essa mão de beleza feita como se tudo fosse da tarde esse manto de estrelas distantes
a cantar com ela a Santíssima Virgem Senhora do Almortão a caminhar sandálias dos pastores que me guardam.
Com a Senhora ando a poesia que me espanta e salta da terra com ela a cantar entre as vilas chapéus que cobrem os presságios os olhos ternos destes homens como os cabelos das mulheres guarda-chuva da espera a cantar com ela entre as crianças e as planícies
Senhora do Almortão Para lá vou eu agora O meu coração cada dia Minha alma a toda hora.
com ela saio de mim em tanta distância no que de ausência trago na boca por minha terra no destino de meus sapatos em minha busca porque está aqui a minha essência meu nascimento para a vida a calar nas aves o que do vôo me interrompe este poema que me percorre e comigo se deixa ficar Senhora como se fosse sempre assim o que haverá um dia de ser entre o esquecimento e a palavra o gesto e a planície a colina que se estende à minha frente vida de meu lugar onde me renasce o sonho que talvez seja ainda possível sonhar. |
||||||
| 3. | ||||||
|
Sempre será preciso partir como se a cortar o áspero sentido do poema como se fosse assim um pouco de morrer.
Há dois anjos a guardar este altar em que me vejo parte de mim não está mais no meu corpo esta igreja que agora me povoa o olhar desses anjos parecidos divinos serão anjos que talvez não saiba lhes dizer a sina como se a voar como as cegonhas a fazer seus ninhos que seja o verso mais longo que me tenha desses que ultrapassem todas as palavras
que seja essa procissão de meu passado a encomendar as almas que me possa caminhar entre as ruínas dos castelos que me veja nas pedras e nas ruas que me descobrem na face de Portugal.
A noite é tão espessa que densa se faz a dança que denso se faz o deus do encanto a dúvida e a dádiva o desejo de me deixar depois em mim deserto que denso desgosto sinto a me dormir em mim dono que não me sou nem me desperto a dor que dói a deslizar talvez destinos os domingos adormecidos meu dote dolorido no dia derradeiro.
Sempre haverá esse momento de partir a cortar no peito como se fosse uma espada que se fere à sombra que não se conhece como se a espreitar a tarde que finda.
Sempre será preciso partir: atrás de mim vejo as pedras das montanhas um risco vermelho no céu como se estivesse sempre a nascer na pele de uma campina essa música que me adormece no avental branco de minha mãe.
Talvez me ajoelhe nesta igreja e me reze por dentro o que nunca soube rezar a palavra que escorre pela madeira dos bancos no chão de pedra pequena sala de infortúnios e pedidos de perdão de tantas juras de amor confissão de meus pecados desses que não cometi e que cometo sempre nesta igreja onde agora me observo por dentro de mim onde a alma não reside mais.
Sempre será preciso partir como se num dia a abrir a janela e caminhar lento pelas ruas como se fosse a última vez.
O olhar não alcança o dia. É preciso fechar o tempo como se fecha uma casa. Depois será preciso calar o que se sente para que tudo se complete que seja esse sentimento de ficar aqui a rodopiar as imagens memória de tudo onde me guardo gaveta de mim que não me sei que nunca me saberei. |
||||||
|
|
||||||
| AQUELE HOMEM | ||||||
|
Sou aquele homem que não voltou, que saiu de casa ao amanhecer e se perdeu para sempre.
Sou aquele homem da fotografia na parede da casa fechada por dentro.
Sou aquele homem que inventou a tarde, mas não viu anoitecer.
Sou aquele homem que se perdeu sem saber.
Aquele que não soube nunca, sou aquele que não soube.
Sou aquele homem que desapareceu, aquele que acreditou, e ao se ausentar de si mesmo sentiu o vazio absoluto de todas as coisas.
Sou aquele homem que se foi e quando pensou em voltar não tinha mais tempo, era tarde demais.
Sou aquele homem que se desfez depois de enlouquecer e enlouquecido tentou refazer o seu destino.
Sou aquele homem que engoliu um rio e se afogou adormecido.
Aquele que falou sozinho diante do espelho se vendo do avesso.
Sou aquele homem que falava com as pedras palavras desesperadas que saltavam da boca como gafanhotos doentes.
Aquele homem que conversava com os santos numa igreja sem portas e que dizia silêncios em sílabas de gesso.
Sou aquele homem que numa imagem poética enfiou um punhal no coração como um poeta romântico do século 18.
Sou aquele homem quase lírico que chamava os pássaros para uma ceia de sementes.
Aquele homem que rezava com os anjos expulsos do céu, sem saber que eu estava expulso de mim.
Sou aquele homem que amou 30 mulheres e matou-se por amor 29 vezes.
Sou aquele homem que ao jogar xadrez fugiu com a Rainha para um castelo medieval.
Aquele que diante de Deus pediu para ser destruído, mas como castigo deixou-me viver mais.
Sou aquele homem que amou mulheres de porcelana, com sexo de porcelana, boca de porcelana, beijo de porcelana, língua de porcelana.
Sou aquele homem de porcelana que se quebra como uma xícara que cai da mesa.
Sou aquele homem que saiu para dar uma volta e esqueceu de regressar. |
||||||
| OCO | ||||||
|
Tenho pensado em desatinos, como por exemplo matar todos os poemas de todos os livros do mundo, palavra por palavra, sílaba por sílaba, deixando só uma coisa oca no lugar, o poema mais perfeito. |
||||||
| ALMA | ||||||
|
Tudo vale a pena quando a alma diminui seu tamanho natural, assim reduzida em sua forma. Tudo vale a pena quando a alma escapa e no seu delírio ama a possibilidade de sua vida, assim pequena, tão frágil alma que não cabe numa xícara ou num cálice que se quebra, essa alma sem começo e sem fim em seu destino. Tudo vale a pena quando a alma no fundo rigor de sua pena fica sem Deus. |
||||||
| SOMBRAS | ||||||
| 1. | ||||||
|
A ave que na árvore adormece voará pela manhã enquanto houver manhã para voar, já eu, poeta de última hora despojado de mim, voo com três anjos escondidos, que em pecados se perderam diante da justiça de deus, e condenados para sempre permanecem nos cantos mais escuro das casas e do mundo, como se escondidos da fúria divina pudessem viver.
Já eu, poeta nas horas vagas e ausentes, apagadas nos relógios, voo com trinta anjos desconhecidos que, perdidos, procuram pelas chuvas com asas feridas, mas encontram o desespero. quando então renasce a manhã.
A ave que na árvore adormece sai em busca das raízes, aquelas engolidas pela terra, como as mãos que se perdem num aceno, essa ave então retorna de seu voo como se regressasse à vida, mas o tempo é incerto.
Já eu, poeta dos instantes aflitos, tento me perdoar dos crimes que cometo contra mim, essa ave que na árvore adormece e que espera seu voo derradeiro para assim completar o meu destino. |
||||||
| 2. | ||||||
|
Encho de pedras os bolsos de meu casaco para atirar-me num rio de sombras para sempre, onde nas águas vejo meu rosto, um corte melancólico que me faz lembrar das coisas que desapareceram, e em mim renascem como facas e lâminas que separam meus dedos em pedaços.
Basta apenas pular e me deixar levar como se nada tivesse acontecendo, assim a calar-me cada vez mais por dentro, até que de mim desaparecesse para sempre, deixando em meu lugar aquela fotografia que não houve e o poema que não foi escrito.
No entanto, as pedras me guardam em silêncio porque agora participam de mim, no próprio naufrágio que me imponho a costurar minha pele com essa agulha que mais fere o ferimento aberto para meu universo mais íntimo: não haverei de me revelar e saltarei nas águas com um livro qualquer, dos que deixei de escrever quando as imagens ainda eram nítidas, de um tempo em que eu falava com os anjos e comia com eles pão e avelãs, antes que voássemos a noite que nos batia na face.
Não escrevi poema nenhum e a poesia neste instante são as pedras no bolso de meu casaco. Comigo afundarão duas cartas que não deixei e duas ou três estrelas que fiz de pedaços de espelhos onde minha sombra se deixa morrer. |
||||||
| 3. | ||||||
|
As palavras desaparecem, lápides de si mesmas, como se numa planície, foram-se como vêm às chuvas e os temporais, num instante que não se percebe, então fica o lábio partido, vidro que se trinca, a pintar silabadas de sangue, como exclamações desnecessárias, mas definitivas, porque quando termina a vida os poetas não sabem dizer qualquer palavra de significado, das mais sem importância, daquelas que surgem na boca com um gafanhoto em cima de uma folha, os olhos dois pontos verdes escuros e observam o mundo, pequena sala de pressentimentos e coisas ausentes, as mãos cortadas, a ostra que se esconde onde não chega o sal das águas e este percorrer silêncios nas sombras do que não é, aquele envolver-se na terra como as raízes mais intensas que se perdem entre as conchas do ferimento.
Senhora do mar, nas sombras da Ilha de São Miguel, deixa-me falar com Deus por esta necessidade de me arrepender, para que faça da palavra morta o que ainda se pode viver. Deixa-me, Senhora do mar, aqui diante das águas que me emudecem reinventar meus gestos perdidos para sempre no exato instante em que tudo se perdeu.
Deixa-me, Senhora do mar, olhar-te nos olhos apagados das imagens, para que possa em mim acender o dia nesse calendário que se volta para trás. |
||||||
| AS ÁGUAS DO RIO | ||||||
|
Ao molhar os pés nestas águas, percebo este mergulho que me dou, assim submerso em mim mesmo, como se a ferir-me da existência para salvar-me não sei do quê.
São as águas deste rio que cortam Coimbra ao meio, como se fosse Coimbra um pedaço de pão com azeite que se põe à mesa ao anoitecer.
Neste gesto de molhar os pés está o significado das vidas que me habitam, um aceno grave que grava minha face na pele.
Parco é o sinal em que me adivinho, uma linha que me divide diante do espelho, o que é e o que ainda está por ser.
Nestas águas sinto também o telhado das casas a escorrer chuvas antigas manchadas do musgo das paredes.
O Mondego vive mais à noite, quando as águas recebem a luz das janelas e respiram os peixes tardios. Lento vai ao seu destino, onde molho meus pés, como se assim me completasse inteiro em mim, a morrer por necessário. |
||||||
| MEMÓRIA | ||||||
|
Sou aquele homem que esqueceu:
faz trinta anos que estou parado num período do tempo que não sei, embora antes colecionasse relógios.
Colecionador de relógios, passava os dias observando os pássaros.
Sou aquele homem que esqueceu:
caminho agora no quarto cm círculos que não terminam.
Esquecido, corro pelas brumas em busca de cavalos que nunca encontrei.
Sou aquele homem que se perdeu:
Foi talvez numa paisagem noturna ou numa cidade que nunca conheci.
Nesse tempo eu plantava cerejeiras e colhia a água dos rios.
Sou aquele homem que morreu:
apaguei as janelas da minha casa e me tranquei por dentro como se assim pudesse livrar-me de mim.
Sou aquele homem que pulou do décimo andar:
nesse tempo eu olhava as aves que faziam ninhos nas igrejas e delas recebi as asas que precisava para voar. |
||||||
| SACERDOTE | ||||||
|
Quando eu pensei em ser padre, Deus não precisava ser temido por ninguém.
Depois desisti, sem saber exatamente porquê.
A freira que ia casar-se comigo se matou numa sexta-feira da Semana Santa.
Joguei então minha batina no fogo que também me consumiu.
Então virei santo, mas ainda não fiz nenhum milagre, tenho muito a aprender. |
||||||
| DA PEDRA, DA PALAVRA | ||||||
|
Porque dos sentidos de uma solidão de pedra pode-se tirar uma palavra, daquelas esquecidas nos livros que falam com a página a linguagem dos mágicos, como se assim se revelassem ao mundo de suas sombras, mas não há significado algum nessa tentativa de dizer-se, já que a morte se espeta nos objetos e cerca as portas e as janelas, paredes que dividem o nada, espectro do espectro, espelho do espelho, onde as faces se misturam e se deixam desenhar com a nitidez das águas.
O poema há de ser longo, mas sem palavras, como se não houvesse em sua própria circunstância, como se assim se pudesse melhor compreender silêncios e cortes.
Está na pedra, na alma da pedra, a alma da pedra. Está nela, dura como ela própria, pedra de outro tempo, da palavra áspera na rudeza da boca, um ferimento que se abre sempre, quando a noite inicia seu percurso de sombras inesperadas.
Então assim se compreende essa alma que cada dia some mais, até desaparecer para sempre dentro do corpo e de dentro do corpo saltar para o universo de todas as coisas, a palavra que cala, a voz do silêncio que fala. |
||||||
| A MULHER DA RUA DE SÃO NICOLAU | ||||||
|
Essa mulher que vende castanha na rua de São Nicolau, em Lisboa, não sabe que daqui vejo despir-se sua alma.
Essa mulher que vende castanhas na rua de São Nicolau é também costureira, dá-me essa certeza sua mão esquerda que mexe nas castanhas como se tecesse uma toalha.
Dá-me essa certeza o detalhe do seu dedo do meio, que ao cortar a casca, risca com a unha esse pele que se abre e mostra o fruto branco ao calor do carvão que queima.
Também nessa mulher que despe sua alma a vender castanhas na rua de São Nicolau, vejo um navegante que sai pelo mar adentro a calar as estrelas que vivem no fundo das águas.
Vejo nessa mulher que vende castanhas nesta rua de Lisboa, vejo nela uma mulher que se desconhece e se fala palavras que não ouve, assim a vender castanhas para o frio, como se estivesse ela ao pé de uma tabacaria a conversar com Álvaro de Campos.
Nessa mulher que vende castanhas, vejo um rosto que não esquecerei e dela guardarei as palavras que não me diz, como se me conhecesse há muito tempo, o que a torna íntima a tratar-me com o zelo de seu silêncio.
Dessa mulher guardarei o lenço que traz na cabeça, seus olhos escuros como sombras que escondidas se deixam na rua de São Nicolau, em Lisboa, perto do rio Tejo onde me deixo ficar para sempre. |
||||||
| ESPELHO MEU | ||||||
|
Diga-me espelho meu: há no espaço da minha cara alguém que chora como eu ?
Diga-me espelho meu: há no universo de minha alma algum pecado que não seja meu ?
Diga-me espelho meu: há na minha rua alguém que comigo se perdeu ?
Diga-me espelho meu: está entre os sonhos da Poesia o meu sonho que morreu? |
||||||
| FINAL | ||||||
|
Ponho fim à vida, em legítima defesa. |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Álvaro Alves de Faria, poeta, escritor e jornalista brasileiro. Filho de pais portugueses. Seu pai, Álvaro, de Angola; sua mãe, Lucília, de Anadia. Vive em São Paulo, onde nasceu. Autor de mais de 50 livros, entre romances, novelas, livros de entrevistas literárias, ensaios, crônicas, além de peças de teatro. Mas é fundamentalmente poeta. Uma das vozes mais conceituadas da Geração 60 da Poesia Brasileira. No Jornalismo, desde jovem, sempre foi combativo, o que lhe causou sérios problemas na carreira. Editor de um suplemento cultural na ditadura brasileira, era obrigado a ter ao seu lado, no encerramento, um censor da Polícia Federal. Fora os assuntos políticos, sempre se dedicou, também, ao jornalismo cultural, com intenso e reconhecido trabalho em defesa do livro. Considera-se um poeta português. Por declamar poemas no centro da cidade de São Paulo, com microfone e alto-falantes, foi preso cinco vezes como subversivo. Escreve e interpreta sátiras políticas e de comportamento na TV da Rede Jovem Pan-SAT, (Rádio Panamericana) em São Paulo, na qual é também editorialista do Departamento de Jornalismo. Escreve e desenha uma história em quadrinhos que tem como personagem um passarinho, Pintim, no Portal da emissora. Assina o “Blog do Poeta”, no mesmo site, que já recebeu mais de 1 milhão de acessos. Vem publicando livros em Portugal desde 1999. Diz, veio para Portugal em busca da poesia que lhe falta no Brasil. Seus livros de poesia publicados em Portugal são: "20 poemas quase líricos e algumas canções para Coimbra" (A Mar Arte, 1999), "Poemas Portugueses" (Alma Azul, 2002), "Sete Anos de Pastor" (Palimage,2005), “A Memória do Pai” (Palimage, 2006), “Inês” (Palimage, 2007), “Livro de Sophia” (Palimage, 2008), e pela Editora Temas Originais “Este gosto de Sal – Mar Português” (2010) e a novela “Cartas de Abril para Júlia” (2010). Este novo livro “Três sentimentos em Idanha e outros Poemas Portugueses” representa mais uma afirmação da poesia desse poeta brasileiro que, essencialmente, se liga à vida e à condição existencial do ser humano. |
||||||
|
|
||||||
|
© Maria Estela Guedes |
||||||