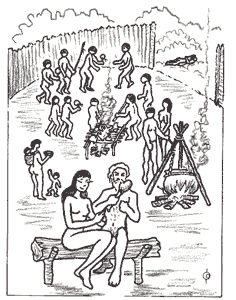12º Episódio - Primitiva como a suçuarana Em vão tentei ler nos olhos de Potira, que acompanhavam tudo atentamente, o que ela pensava naquele momento. Posso estar enganado, mas o “eu” mais profundo do homem selvagem jamais se deixará revelar ao civilizado, pois, quanto mais sofisticado o instrumento da prospeção, mais inadequado. Vivendo o selvagem noutro espaço e noutro tempo, não atingimos, com nossos métodos de auto-conhecimento interior, o âmago do seu pensamento. Eu e Potira só nos comunicamos por meio dos sentimentos, mas estes, como sabe o amigo, são fluidos, opacos e fugidios, e só se expressam pelo pensamento. Mas, entre um pensamento e outro, há sempre uma palavra. Acontece que esta, em seu sentido mais genuíno, foi, há muito, roubada do homem pela fútil civilização. Como mostrar ao amigo, por inteiro, sem palavras, a minha simples e tão complexa, doce e tão brava, selvagem e tão humana Potira? Pois humana ela é, disso não tenho dúvidas, não apenas por possuir “moroti” (nariz de gente), ou por ser uma “cunhã-porã-poranga” (moça mui formosa), ou por ter a “xe rapypy” (xoxota) mais deliciosa do mundo, mas, principalmente, porque, embora bruta como a selva e primitiva como a suçuarana, Potira é tão frágil quanto o seu próprio nome (flor) está a dizer. “Potira xe reroquer” (Potira me faz dormir com ela). Sua cabecinha sobre o meu peito faz “xe pia otitic” (meu coração palpitar). Com licores que só ela sabe preparar, Potira transporta-me para os seus sonhos, onde tudo é “aape iporanga reté” (muito bonito). Olho para o céu e vejo que “ibaca sobi” (o céu está azul). “Guaraci oberab” (o sol brilha) e “guairai ibaquipe setá” (há muitos passarinhos no céu). Os passarinhos descem para beber do néctar das flores. “Quahá putiraitá orecó será çaquenaçaua poranga” (as flores têm belo perfume). Andamos de mãos dadas entre as flores e os passarinhos, que vêm pousar nos ombros de Potira. Ela sorri com seus dentes muito alvos. Também sorrio. “Xe rinisem toriba resé” (estou pleno de alegria). Enxergo os pensamentos de Potira fluindo com a fragrância das flores. Lúcida tontura, tresloucar divino. Deitando-se na verdejante relva, Potira puxa-me pelos cabelos e faz-me deitar sobre ela, mas já a sentia antes mesmo de entrar em seu corpo. Num túnel sem espaço nem tempo vagamos até que Potira, com pingos de orvalho escorrendo-lhe das pétalas, levanta-se da relva e fala-me: “Oar pituna, pituna i roine” (a noite caiu, fria será ela). Com meu corpo, em cálido contato, aqueço-a. No céu estrelas rebrilham. Potira olha para o céu e diz, com a boca dos sentimentos: “Tupã eicatu opacatu mbae monhanga” (Deus mostra-se bom fazendo todas as coisas). As palavras quebram nosso encanto. “Nada devemos a Deus, ó Potira!”. Época de estiagem na ilha de Joannes; cheiro podre se levanta dos lagos. Na água pustulenta jacarés se umedecem e vão comendo os peixes que não escaparam com as águas. Perto da aldeia há um “upabanema” (lago fedorento) que empesteia o ar. O mundo é “poxi” (nojento). O mal e o bem vivem juntos, como irmãos ciumentos. O Sol goza engolindo a Lua em dias de eclipse. Beleza é face bisonha da hediondez. Sou Deus sou diabo! “Tupã ocicó iandé irunamo” (Deus está dentro de ti), disseste-me, ó Potira. Sim, isto é tão verdade quanto dizer “Anhanga osem xe suí” (o diabo saiu de mim). Sou santo e “moxy” (maldito). No lago fedorento há belas vitórias-régias! “Potira nde rausuba” (Potira te ama), vives a dizer-me, ó cunhantã; todavia, vejo tua boca entreaberta cheia de saliva e tenho certeza de que não vês a hora de avançares sobre a carne de Paiguara, do mesmo modo como avançarás brevemente sobre a minha. “Mãháta putári, Potira?” (o que queres que eu faça, Potira?), pergunta Itajibá, uma nesga de lua ciumenta espreitando-nos entre as árvores. Antecipo-me e digo a Itajibá: “Cariua poxi-poxi” (homem branco é muito mau). “Xe Cariua” (sou branco). “Xe iucá!” (mata-me já!). “Marã-pe eré?!” (que dizes?!), exclama o tapuio, admirado de que um prisioneiro peça sua própria morte. “Xe iucá!” (mata-me!), repito. “Iaquaimuaçáua!” (deixa de tolice!). “Oia Tupã! U-pitá coherê reté!” (olha que Tupã pode se zangar!), repreende-me Potira. “Tupã que nada! Ele e Javé não passam de umas teõuira (merdas)!”, penso. Por que Tupã não se zanga com a cena bestial que, com engulhos, acabo de assistir? Com o ânus tampado com um bastão, a fim de que nada dele se escapasse, Paiguara foi escaldado e raspado pelas velhas até ficar branco como um leitão. Carimã-cuí, dono da vítima, com o auxílio de amigos, espostejou-o com a mesma rapidez com que um carniceiro de Portugal esquarteja um carneiro. Como os nossos caçadores jogam a carniça aos cães para torná-los mais ferozes, os selvagens, uns após outros, esfregaram os corpos, os braços e as pernas de seus filhos com o sangue de Paiguara, a fim de torná-los mais valentes. As mulheres molharam de sangue os mamilos, fazendo os bebês tomarem parte no festim. Quatro mulheres apanharam os quatro pedaços e correram com eles em torno das cabanas, em grande alarido, em sinal de alegria. Em seguida, todas as partes do corpo, inclusive as tripas depois de bem lavadas, foram levadas ao moquém, em torno do qual as mulheres, com destaque para as velhas, reuniram-se para recolher a gordura que escorria pelas varas. “Hummm... iguatú!” (hummm...está muito bom!), disseram elas, lambendo os dedos, chegando algumas ao ponto de lambuzarem o rosto, a boca e as mãos com as banhas do morto, bebendo todo o sangue que podiam recolher. Como a carne de Paiguara era insuficiente, cozinharam os pés e as mãos numa gamela, de modo que todos puderam provar do caldo. Apenas os mais nobres convidados, como Guaratinga-açu e Nhaêpepô-oaçu, receberam um quinhão do morto só para si. Trazendo um fêmur nas mãos, Nhaêpepô-oaçu aproximou-se de nós e ofereceu o que restava à irmã. Sem fazer-se de rogada, Potira agarrou o osso e mordiscou-o com avidez, só lembrando de mim quando quase nada havia no osso. “Nde aipotar?” (tu queres?), perguntou. “Nda xe ambiasi-i” (não tenho fome), respondi, com o estômago revirado. Como que me pedindo desculpas, a cunhantã explicou que não comia carne de gente por simples gulodice, mas para vingar a morte dos antepassados que o povo de Paiguara havia matado. “Pelo mesmo motivo me hás de comer, pois quantos tupinambás os meus patrícios já não mataram?”, pensei.
Em casa do sargento-mor Jacomedes, ouvira que os índios duvidam da lealdade de quem recusa compartilhar de seus banquetes. Falaram-me de alguns intérpretes portugueses residentes há vários anos no país, os quais se adaptaram tão bem aos costumes da terra que, embora se digam cristãos, não só se poluem em toda espécie de impudicícias com as mulheres selvagens, como ainda excedem os nativos em desumanidade, vangloraindo-se mesmo de haverem morto e comido prisioneiros. Não vai longe o que digo: basta lembrar do curumim Piracanjuba, que, segundo me contou Potira, com apenas treze anos, já copulava com mulheres. “Aipotar nde caru!” (quero que comas!), disse-me Potira, estendendo-me o fêmur de Paiguara. Quase digo não, mas, vendo os olhos tristes da cunhantã, hesitei. “Na nde maenduari xoe xe resene” (tu esquecerás de mim), ela completou. Em vez de dizer “Alexandre Potira resé i maenduarine” (Alexandre vai lembrar-se de Potira), peguei o fêmur da mão da rapariga e levei-o à boca, sentindo imediatamente o gosto adocicado – diga-se de passagem, até bem tolerável – de carne humana! Depois de chupar um resto de nervura, perguntei: “Potira catu cerá ne piá?” (Potira está mais contente?). “Sim, agora sei que Xande lembrará de mim”, respondeu-me a cunhantã, em português! “Reiúpirú ãna será renhehe português!” (você já está começando a falar português!), exclamei, deveras emocionado com a minha pupila. |