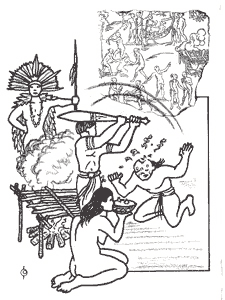11º episódio - O valente Paiguara “Olha só quem vem aí!”, gritou Alkindar-miri, apontando para um grupo de selvagens que saíra da cabana do prisioneiro e descia ao terreiro. No centro do grupo vinha Paiguara, com o corpo pintado de variegadas cores e enfeitado de penas. Embora amarrado à mussurana pela barriga, os dois índios que o seguravam permitiam que o tapuio andasse à vontade, as mulheres dando-lhe frutas e comida, e os homens, bebida. Se eu não soubesse a finalidade da grande reunião, julgaria que Paiguara era, naquele instante, a criatura mais feliz do mundo, pois, esfogueado pelo cauim e com a pança cheia de comida, saltava e dançava como um dos mais alegres convivas. Todavia, a sua despreocupação com a morte era apenas aparente. Alkindar-miri disse-me que, há dois dias, os captores de Paiguara o liberaram da mussurana e gritaram-lhe: “Ecoain!” (foge!), pondo-se o infeliz imediatamente a correr como se desejasse escapar, mas os índios, como cães após um veado, correram-lhe atrás e, em poucos instantes, prenderam de novo o desgraçado. Depois de passearem com Paiguara de cabana em cabana, chorando e fazendo-o dançar e saltar até fartar-se, o grupo voltou ao terreiro, onde o restante da tribo e os convidados bebiam, cantavam, dançavam, contavam lorotas e até fornicavam, ali mesmo ao relento, numa barafunda de corpos, ruídos e sons, de mulheres, homens, velhos e velhas, cunhantãs e curumins que trançavam de um lugar para outro, gritando, rindo, chorando, imprecando, louvando, gemendo, resmungando e uivando como lobos famintos. Esqueci do que me estava destinado e fui, por um instante, um homem completamente feliz. Sem me importar com nada, nem com Alkindar-miri, nem com a areia que em nós se grudava, entranhei-me de novo em Potira, ali mesmo, ao lado dos outros corpos. Quando terminamos, Potira ergueu-se e fez-me também levantar. Alkindar-miri, como um velho amigo e não meu vigia, largou a ponta da minha mussurana. Eu e Potira andamos a esmo pelo terreiro, tendo de esquivar-me aqui e ali de velhas gulosas que, vendo a corda que pendia do meu pescoço, adivinharam-me a condição de prisioneiro, e, por isso, com as bocas desdentadas já salivando, queriam tocar-me a carne branca e jovem, imaginando o sabor que ela teria depois de levada ao moquém. “Aipotar abá Sumé momosem-eima! Não persigam Sumé!”, grunhiu Potira, arreganhando os dentes para as velhas, que se afastaram aparvalhadas ao ouvirem a palavra “Sumé”. Com o apetite ainda faiscando nos olhos, uma delas reaproximou-se de mim, mas não me cutucou, apenas disse “chê-raíra”, isto é, meu filho, a mesma expressão lida muitas vezes por mim no meu velho e carcomido livro, onde Hans entrava no sonho dos guerreiros para dizer-lhes que iriam morrer. Amedrontados, expuseram a Hans a sua aflição, recebendo dele a garantia de que não havia perigo, desde que os selvagens não mais o comessem. Tendo as velhas também recebido a terrível profecia, vieram à choça do alemão, não para arranhá-lo ou espancá-lo, como das outras vezes, mas simplesmente chamá-lo de “chê-raíra” (meu filho) e pedir-lhe que não as deixasse morrer, pois os tupinambás já haviam aprisionado e comido muitos portugueses, mas o Deus destes não se irara tanto como o de Hans, o qual, como recompensa, ficou em paz por algum tempo. Deram-me trégua também daí por diante as velhas, talvez não tanto por acreditarem que eu fosse mesmo o mitológico Sumé, mas por que todos estivessem concentrados no macabro ritual, que já se encaminhava para o seu fim. Depois de ter comido e cantado com os outros até se fartar, Paiguara, amarrado pelo ventre, sem opor resistência, deixou-se conduzir por dois homens até o local em que seria massacrado. Como naturalista, adquiri a mania de observar as coisas em seus mínimos detalhes; na falta de pena e papiro, anotava tudo mentalmente, embora pensasse que as anotações, daquela vez, já não serviriam à ciência, pois não cria no meu salvamento. Notei que um dos homens que seguravam Paiguara era Nhaêpepô-oaçu, irmão de Potira. Ao enxergar-me, ele disse: “Xe rembiara” (tu és minha presa). “Nde roo xe mocaem serã areiama riré” (farei um moquém da tua carne qualquer dia). “Esiquié nde suí” (não tenhas medo), falou-me Potira, puxando-me para longe de Nhaêpepô-oaçu. Deixaram os braços de Paiguara livres e o fizeram passear assim pela aldeia, em procissão, durante alguns momentos. Não imagine o amigo que o tapuio tenha se deprimido. Ao contrário, com audácia e segurança, jactou-se de suas proezas e disse aos que o mantinham amarrado: “Che tan tan, aiouca atoupavé” (sou muito valente e matei e devorei muitos). Em seguida, após Paiguara ter ficado assim exposto às vistas de todos, Nhaêpepô-oaçu e o outro afastaram-se dele umas três braças de ambos os lados e esticaram fortemente as cordas até o prisioneiro ficar imobilizado. Enquanto os dois guardas, receosos de serem feridos, protegiam-se com rodelas de couro de tapirussú, outros depositaram perto de Paiguara pomos duríssimos de maçãs e laranjas, pedras e cacos de potes, após o que lhe disseram, cercando-o: “Ejepuic!” (vinga tua morte!). Paiguara não se fez de rogado, agarrou os frutos e tudo o mais que pôde pegar e atirou os projéteis com todas as suas forças, caindo a munição como granizo sobre os assistentes. Até hoje não consigo esquecer da pedra que Paiguara lançou com tanta violência na perna de uma velha que supus havê-la quebrado. Mulheres redemoinhavam em torno do prisioneiro, ameaçando devorá-lo e exortando-o a contemplar, pela última vez, a luz do dia. Em sua “vingança”, o desgraçado denotava um tal frenesi que, quando nada já restava, atirou ramos de palha e punhados de terra nos adversários, até que, completamente esgotado, sentou-se na areia para respirar. Encarava os inimigos com tal ódio e ao mesmo tempo tal resignação no olhar que até eu, que tinha motivos de sobra para desejar a sua morte, compadeci-me de Paiguara. Aproximei-me dele e perguntei se estava aparelhado para morrer. Como resposta, o tapuio soltou uma risada estridente e afirmou que se achava bem munido de tudo, apenas a mussurana não lhe era bastante longa; entre os dele havia melhores. Não sei por que, abri o meu velho livro, que andava sempre comigo, e li a seguinte asneira: “Tenhas ânimo, recomenda-te a Deus, pois comerão apenas a tua carne; teu espírito irá a uma outra região, para onde vai também o espírito da nossa gente e lá há muita alegria”. “Aepe iporanga reté?” (lá é muito bonito?), perguntou Paiguara. “Pa, iporanga reté” (sim, muito bonito), respondi-lhe. Falei o texto em português, como um padre que apenas cumprisse seu ofício, sabendo de antemão que o prisioneiro, entendendo ou não o latim, acabaria sabrecado. Mas não foi que Paiguara entendeu-me!? Pois disse-me que nunca havia visto Deus. “E nunca o verás, tapuio duma figa, pois ele não existe!”, exclamei, logo me arrependendo, pois se há uma coisa que não me apraz é retirar a última esperança de um infeliz. Eu e Potira tivemos de afastar-nos de Paiguara, não por medo de Nhaêpepô-oaçu, que não parava de hostilizar-me, mas para dar lugar a sete ou oito velhas mulheres que de repente surgiram no pátio, pintadas de preto e vermelho, trazendo ao pescoço colares de dentes humanos, e rodearam o prisioneiro dançando, cantando e tamborilando em vasilhas que elas acabaram de pintar e nas quais mais tarde se apressarão a recolher o sangue e as entranhas do morto. Uma fogueira então foi erguida, a dois passos do escravo, de modo que ele a enxergasse; e uma mulher chegou correndo com o ibirapema, ergueu alto suas borlas de pena, deu gritos de alegria e passou na frente de Paiguara a fim de que ele o visse. O grande chefe Carimã-cuí, a quem Guaratinga-açu dera Paiguara de presente, destacou-se da turba, tomou o tacape das mãos da mulher e postou-se diante do prisioneiro, empunhando-o, para que este o avistasse. Em seguida, fez o seguinte discurso: “Não sabes que tu e os teus mataram muitos parentes e amigos nossos? Vamos tirar a nossa desforra e vingar essas mortes”. Paiguara, covarde toda a vida, a bem dizer já cadáver, encarou Carimã-cuí com inusitada coragem: “Pa, che tan tan, aiouca atoupavé” (Sim, sou muito valente e realmente matei e devorei muitos... Não estou a fingir, pois, com efeito, assaltei e venci vossa gente, devorando muitos). “Nós te mataremos, assaremos e comeremos!”, retrucou Carimã-cuí. “Pouco me importa, pois não morrerei como um vilão; sempre fui valente na guerra e nunca temi a morte. Se me comerem, fareis apenas o que já fiz eu mesmo, pois quantas vezes já me enchi com a carne de tua nação! Ademais, tenho irmãos e primos que me vingarão”, respondeu Paiguara. A altercação foi de repente interrompida pela estrondosa chegada do matador ao terreiro. De dentro de uma cabana ele saiu, acompanhado de treze ou quatorze guerreiros, com o rosto pintado de rubro e o corpo embranquecido de cinza, todo enfeitado com lavores de jenipapo, uma carapuça de penas amarelas e um diadema rubro, “cor da guerra”, na cabeça; colares de conchas no peito, braceletes de plumas recobrindo os braços e as partes, rodelas de penas de avestruz sobre os rins, e um manto de penas de íbis vermelha sobre as espáduas. Parentes e amigos, besuntados com uma substância esbranquiçada, escoltavam-no com grandes cantares e tangeres de búzios, gaitas e tambores, proclamando-o bem-aventurado, pois não era pequena a honra de vingar a morte de seus antepassados. Carimã-cuí colocou o ibirapema nas mãos do matador, seu próprio filho, um tapuio mirrado, que Potira me disse chamar-se Tata-miri (pequeno fogo). Imediatamente, Tata-miri começou a saltar, bravatear e voltear o tacape por cima do miserável Paiguara, o qual, embora amarrado, procurou pegá-lo e arrancá-lo das mãos do algoz, mas, a qualquer movimento seu, Nhaêpepô-oaçu e o outro homem que seguravam a corda puxavam-no para trás, deixando-o inteiramente à mercê do matador. Mesmo sem poder arredar-se, Paiguara encarou Tata-miri sem dar sinais de medo da morte. “Tu me matarás, porém já matei muitos companheiros teus”, imprecou Paiguara, seguindo à risca o ritual, mesmo que ninguém acreditasse em nenhuma de suas bravatas. “Agora estás em nosso poder; serás logo morto por mim e moqueado e devorado por todos”, ameaçou Tata-miri. “Pois bem, vingar-me-ão meus parentes”, tornou Paiguara, que devia mesmo estar muito feliz, afinal, qual tapuio não gostaria de morrer pelas mãos do nobre Tata-miri, um “kerembaue tetanatou” (grande e valente guerreiro)?
|