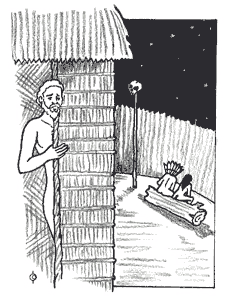9º episódio - Cariua é poxi “Ixé” (sou eu), uma voz de homem responde. “Ereiuripe?” (vieste?). “Marã-namope ereiur?” (por que vieste?), ouço Potira perguntar. “Nde repiaca aiur” (vim para te ver), torna a voz, cujo timbre não me é estranho. “Xe rorib nde rura ri” (alegra-me a tua vinda), diz Potira. “Asepiac nde poro-ausuba amú tetamauara” (vejo que amas o estrangeiro), diz a voz. “Iuri iké” (vem cá). “Peró reroquer” (o português dorme), chama Potira, descendo da rede e saindo da cabana com o vulto. “Marã-pe eré?” (que dizes?), pergunta Potira, lá fora. “Asepiac nde poro-ausuba amú tetamauara” (vejo que amas o estrangeiro”, escuto o homem repetir. “Pá, asausub” (sim, amo-o). “I marangatu nde iabé” (ele é tão bondoso quanto tu), diz Potira. “Çaiciara xa-icu reté” (fizeste-me ficar muito triste agora), diz o homem. “Sori nde pia” (alegre-se o teu coração) “Potira nde rausuba” (Potira te ama), diz ela. Pronto! Agora tenho certeza de que é Itajibá; só ele adocica a voz da cunhantã assim. “Aipotar Itajibá Xande cuaba” (quero que Itajibá conheça Alexandre), escuto Potira dizer. “Acaraí-cuab” (já conheço o homem branco!). “Cariua puxi reté” (homem branco ruim), diz Itajibá. “I marangatu nde iabé” (ele é tão bondoso quanto tu), repete Potira. “Anheté-mo mã!” (oxalá fosse verdade!), retruca Itajibá. “Aiquab nde i iucá-ram-eima” (sei que não o matarás), diz Potira. “Çuri reté uahá intimahã xa mehê quáu indé” (certeza não te posso dar), diz Itajibá.
Na voz do tapuio há firmeza; fidalguia há em seu olhar. Não estudou na Academia de Lisboa, a vida nas matas e rios do Grão-Pará é a sua escola. Não possui brasões. Sua nobreza se estampa nos crânios de inimigos que já abateu e nas penas de arara-vermelha do seu cocar. Não há alguém mais selvagem que Itajibá, todavia, ninguém há mais cavalheiro. “Cariua porang” (homem branco é bonito), diz Itajibá, passando, para minha surpresa, a cutucar-me o peito e braços com a ponta dos dedos, como se quisesse provar a consistência dos músculos. Encolho-me um pouco e ele pergunta “recequiié será?” (tens medo?). Digo que não; estava apenas desconcertado com o estranho modo do meu visitante. Itajibá pára de apalpar-me e pergunta: “Auáta oú pire cauim: tapuia itá o cariua itá?” (quem bebe mais cauim: os tapuios ou os brancos?). “Cariua oú pirantã pire tapuia xií” (os brancos bebem mais que os tapuios), respondo. “Mãhi tahá mira onhehê cauim cariua nheenga rupi?” (como se diz cauim na tua língua?). “Mira onhehê cauim o itáia” (se diz cachaça ou aguardente). Itajibá desata a falar apressadamente, aos borbotões, tomado por inusitada cólera. Temeroso, escuto-o. “Cariua”, homem branco, é “poxi” (mau). Cariua chega mansinho, abre sorriso, tem dente de ouro. Cariua vem todo vestido; deixa cunhantãs curiosas. Elas querem por que querem ver cariua sem roupas. Cariua usa tanga? Cariua amarra a sua coisa com envira? É raspadinha a coisa de Cariua? Risinhos soltam cunhantãs, ficam todas dengosas, derretidinhas. É só cariua enxergar cunhantãs “camixaimas” (nuas) vai pro matinho com elas. Mato tá fresquinho, acham elas. Cariua levinho em cima delas, faz cosquinhas, mordisca peitinho, lambe umbiguinho delas; coisinhas bem gostosas sabe fazer cariua; mete e remexe, vai de frente e de trás, vira de lado. Índio é caladão, mete e fica parado; se goza, vai logo simbora. Coisinha “miri-miri” (pequenina) tem índio. Já cariua tem coisa grossona e dura, que nem tronco de itaúba. Mas cariua não ama cunhantãs; enche barriga delas de curumins branquicelos e vai simbora na grande casca-canoa, deixando cunhantãs chorosas. Poxi, muito poxi é homem branco; tisna o sangue da tribo e vicia índio em cachaça. A danada não é como cauim, que adocica a alma da gente e permite conversar com os espíritos. Cachaça dá dor de cabeça, provoca zonzura, deixa índio malvado, chutando cachorro, correndo à toa, estrangulando passarinho, o bem e o mal se misturando; índio covarde até fica valente, desrespeita velho, insulta pajé, bate em mulher, surra curumim, xinga Jurupari: “Jurupari, filho duma capivara, vem cá que eu te sururucu!”, grita índio, encharcado de cachaça. “Cariua poxi-poxi” (homem branco é muito ruim), arremata Itajibá. “Na caguara ruã ixé” (não sou bebedor de cachaça), digo-lhe, procurando acalmá-lo, mas de nada adianta o meu absenteísmo. “Ereiquabipe oré nde iucasaguama?” (sabes que nós te mataremos?), pergunta Itajibá, aliás, sem necessidade, pois várias vezes já me disseram isso. “Inti Mahã, Itajibá!” (não, Itajibá!), exclama Potira. “Mãháta putári, Potira?!” (o que queres que eu faça, ó Potira?!), pergunta Itajibá à cunhantã. “Nada, Itajibá, nada podes fazer por mim, por mais amigo e companheiro que sejas”, penso, antes de Potira responder a Itajibá. Percorrer tuas entranhas é o meu destino; adubar tronco de árvore é a minha sina. Agonia-me apenas não conhecer de antemão o dia e a hora do meu martírio, ou melhor, da minha libertação, pois em sofrimento vivo desde que caí prisioneiro. Que a morte, a mulher da caveira, venha logo! Que o ibirapema, instrumento da hedionda senhora, não tarde a espatifar-me o crânio! Ao sacrifício entregar-me-ei calado, melhor dizendo, sem reagir, segundo as regras do macabro jogo. Hei de cantar e dançar e beber cauim junto com a tribo, antes do meu fim, como fazem todos os prisioneiros, valentes ou mesmo covardes, como Paiguara, o tapuio que me entregou aos tupinambás, o qual, vivendo solto pela aldeia, embora cativo como eu, gostava de passar perto da minha choça e gritar para mim: “Xe rembiara!” (és minha presa!). Numa das vezes, Potira quase lasca a cabeça dele com uma acha de lenha retirada da fogueira. “Xe renhaem!” (meu prato!), gritou Potira, depois que Paiguara, mais ágil que ela, refugiou-se na mata que circunda a aldeia, de onde, pouco depois, voltou. Tantas vezes isso se repetiu que a presença do tapuio já nem nos incomodava; talvez por isso não notamos quando ele desapareceu da aldeia. Nem mesmo Potira, mobilizando a sua rede de informantes – velhas abelhudas, cunhantãs e curumins enxeridos – conseguiu descobrir o paradeiro de Paiguara, que soubemos só três dias depois, quando, antes do sol nascer, um alarido infernal nos acordou. Da porta da cabana enxergamos homens e mulheres, velhos e velhas, curumins e cunhantãs trançando daqui pra lá e de lá pra cá, no pátio da aldeia, quase todos carregando consigo, além dos teréns, o seu “xerimbabo” (bicho de estimação). “Mbaepe aipó?” (o que é isso?), perguntei, mas não obtive resposta. Potira também não sabia o motivo do reboliço, mas o esclarecimento chegou logo, por intermédio de Alkindar-miri, que, abandonando a discreta vigilância sob a qual me mantinha desde que caí prisioneiro, veio dizer-me que Guaratinga-açu queria que eu viajasse com eles até outra aldeia, onde nos aguardava lauto festim. |