
| |
|
Revista TriploV
de
Artes, Religiões e Ciências |
|
Nova Série |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Luís Dolhnikoff |
|
|
Palestina:
História e geopolítica de um nome |
 |
|
1.
Não há tema geopolítico contemporâneo mais complexo
do que o conflito do
Oriente Médio. Além da complexidade, o interesse político contribui para
fazer de boa parte dos textos a respeito mera propaganda travestida de
análise. Se isto vale para os argumentos pró-israelenses, não vale menos
para os pró-palestinos.
Ao mesmo tempo, tornou-se senso comum a ideia de que o “excesso de
história” não ajuda a compreensão do conflito. Creio, porém, que o excesso
de propaganda sem respeito à história tampouco
ajude. Retorno, então, a
ela, tendo por guia a história de um nome.
Os povos
que passaram pela região, ou nela viveram, são conhecidos: cananeus,
judeus, filisteus, egípcios, babilônios, fenícios, gregos, romanos,
bizantinos, árabes, turcos, ingleses. Um “povo palestino” não faz parte da
história. Mas se não faz, por que o conflito é hoje chamado de
“israelense-palestino”?
2
A explicação está no fato de que
palestino é, na verdade, uma variação/derivação do nome de um daqueles
povos antigos, os filisteus. O nome que os árabes da região hoje adotam
(na forma filastin) tem, por
ironia, uma origem hebraica:
peleshet – que, em outra ironia, significa
invasor e
divisor.
O termo foi usado originalmente pelos antigos israelitas para se referir a
um invasor que se estabeleceu, em torno de 1200 a. C., na região da faixa
de Gaza. Tratava-se dos conhecidos “povos do mar”, de origem grega, cuja
expansão, a partir de um epicentro no mar Egeu, foi registrada por
inúmeros documentos da época, incluindo egípcios e fenícios.
O pouco que se pode afirmar com certeza sobre os “povos do mar”, incluindo
os pelesht que se estabeleceram em Gaza, em função de palavras de sua
língua incorporadas ao hebraico e de achados arqueológicos, é que, ao
contrário dos demais povos do Mediterrâneo oriental, como fenícios,
cananeus e judeus, eles não eram semitas, mas indo-europeus (como
micênicos e gregos).
Quando da ocupação da região por Nabucodonosor, em 587 a. C., além do
exílio dos israelitas e da famosa destruição de Jerusalém, as principais
cidades flilisteias,
Ashdod, Ashkelon, Ekrom, Gate e Gaza,
também
foram destruídas.
O Império Babilônio seria em seguida tomado pelo rei persa Ciro, o Grande,
em 539 a. C. Ciro, então, permitiu o retorno dos judeus a Israel, pondo
fim ao chamado Cativeiro Babilônio, enquanto a região da faixa de Gaza foi
reocupada pelos fenícios. Os filisteus (e todos os outros “povos do mar”)
desapareceram da história.
Porém a evolução de seu nome continuou através de referências gregas
posteriores, que registram a forma
Palaeistina (transliteração do hebraico
Philistia).
Do grego Palaeistina originou-se, por fim, o latim
Palaestina.
3
A adoção do termo latino para se referir aos territórios dos antigos
reinos de Israel e Judá se daria em torno do ano de 135 d. C., com o fim
do longo período das “guerras judaicas” contra a ocupação romana,
iniciadas em 66 d. C. Esmagada a revolta, com a destruição do segundo
templo de Jerusalém e a expulsão dos judeus (início da Diáspora), Roma
cria uma nova província, batizada de
Palaestina, segundo muitos historiadores, a fim de dissociar a região
das reivindicações judaicas. A Palestina original, que passaria à história
moderna como Palestina Romana, é, portanto, o próprio reino de Israel. Com
o fim do Império Romano, também se extinguem suas províncias, incluindo a
de Israel-Palestina.
O território seria, ao longo dos séculos seguintes, subdividido entre
províncias bizantinas, árabes e otomanas, sem readquirir o nome ou a
definição geopolítica que tivera no tempo da Palestina Romana (com exceção
de um curto período de reunificação pelos cruzados no século 13).
No período do Califado, por exemplo, em seguida
à invasão árabe no século 7, o território seria divido em dois
jund, ou distritos, o do norte e
o do sul.
O mapa abaixo mostra a região conforme sua realidade geopolítica no fim do
Império Otomano:
|
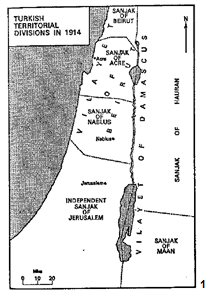 |
|
As províncias turcas, ou vilayet,
dividiam-se em unidades menores, os
sanjaks. A maior parte do que fora o antigo reino de Israel e depois a
Palestina Romana integrava, agora, a província ou
Vilayet de Beirute, que
englobava o atual Líbano e o norte de Israel e da Cisjordânia, e estava
dividida em Sanjak de Beirute,
Sanjak de Acre e
Sanjak de Nablus. Ao sul, um
sanjak foi separado da
província: o Sanjak autônomo de
Jerusalém, englobando o sul de Israel e da Cisjordânia, Gaza e o nordeste
do Sinai.
Tanto o traçado geopolítico quanto o nome Palestina seriam retomados
apenas em 1922, depois de quase dois mil anos de seu uso romano original.
E somente pelos 25 anos que duraria a Palestina Britânica – cujo nome foi
inspirado na antiga província romana –, até ela ser extinta pela ONU em
1947. Antes de 1922 e depois de 1947, portanto, não existiu Palestina
alguma.
4
Em fins do século 19, os sionistas começaram a emigrar, então, não para a
Palestina (é absurda a afirmação de que se possa estabelecer em terras de
um Estado inexistente), sequer para qualquer território árabe, mas para o
Império Turco-Otomano e suas províncias.
O projeto sionista era o de constituir uma nação judaica numa região do
multiétnico Império, região que, apesar de habitada majoritariamente por
árabes, nem era exclusivamente árabe (mas também turca, curda, persa,
armênia) nem se constituía num Estado árabe. E que, entre seus habitantes,
sempre contara com uma significativa população judaica, por ser o antigo
território de Israel-Palestina.
Cabe observar que no fim do século 19 não era possível prever o
desaparecimento do Império Otomano. Mas ele aconteceu, em 1920, com seus
antigos territórios e províncias sendo então refundidos, alguns, em novas
províncias europeias (como a Palestina Britânica), outros, em novos
Estados árabes, no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, em que o
Império Otomano, que se aliara à Alemanha, foi derrotado.
Quando, em 1947, um Estado árabe tornou-se possível na Palestina Britânica
por determinação da ONU, os árabes o recusaram.
Os árabes, não os “palestinos”. Na
própria resolução que estabeleceu a partilha da Palestina Britânica não há
qualquer referência a “palestinos”; os únicos nomes usados são “judeus” e
“árabes”: “Os [futuros] Estados independentes judeu e árabe...” (Resolução
181, I, 3).[1] Nem
poderia ser diferente, pois todos os habitantes do território da Palestina
Britânica, árabes, judeus e ainda armênios, turcos, etc., eram então
igualmente chamados de palestinos, como se pode comprovar nos documentos
da época (o nome original do jornal hebraico
Jerusalem Post, por exemplo, era
Palestine Post).
5
A relevância da questão do nome reside no fato de ele não ser árabe em
qualquer aspecto: etimológico, histórico, cultural ou geopolítico. Mas se
o termo palestino não tem originalmente qualquer relação com os árabes, por
que, hoje, designa a mais célebre causa nacional árabe?
Em meados do século 20, sob a liderança do Mufti de Jerusalém, os árabes
locais não reconheciam nem a definição britânica do território nem o nome
Palestina, de utilização
colonial. Defendiam, então, o pan-arabismo, segundo o
qual os árabes constituem um único povo, dividido primeiro pela
fragmentação política do antigo Califado de Maomé, depois pelas províncias
otomanas, em seguida pelas províncias britânicas e francesas. Seu objetivo
era, portanto, a criação de uma unidade geopolítica que englobaria, de
início, os atuais territórios do Líbano, da Síria, da Jordânia e de Israel
– daí recusarem a partilha determinada pela ONU.
Seria apenas com a derrota histórica do pan-arabismo, face à consolidação
das ex-províncias inglesas e francesas em novos Estados-nação, que os
árabes da ex-Palestina Britânica viram-se, pouco a pouco, forçados a
caminhar para uma solução individual, ou seja, um projeto nacional
próprio.
Uma vez afinal criado, nos anos 1960, um
movimento nacionalista dos árabes da Palestina (a OLP seria fundada em
1964), ele manteria como referência geopolítica a antiga
colônia britânica de 1922, e não o traçado legalmente determinado pela ONU
em 1947. A recusa árabe da partilha se torna, então, o conflito
israelense-palestino, pois os
árabes da antiga Palestina Britânica, junto à antiga referência
territorial, adotam afinal também o antigo nome colonial (os
refugiados palestinos não eram, ainda nos anos 1950, referidos como
refugiados palestinos, mas como refugiados
da Palestina).
6
Nos distúrbios do fim do império inglês, incluindo, entre outros, a
partilha da Índia entre Índia, Paquistão e Bangladesh em 1947, e também a
guerra árabe-israelense de 1948, o destino dos árabes da Palestina
dividiu-se, grosso modo, em
cinco. Uma parte foi para a ex-província francesa do Líbano, onde não
seriam reconhecidos como cidadãos; uma parte foi para a Transjordânia,
atual Jordânia, ex-colônia britânica, onde foram reconhecidos como
cidadãos (constituindo, hoje, a maioria da população); outra parte ficou
em Israel, onde igualmente adquiriu cidadania; outra parte se dispersou
pelo mundo; outra, enfim, permaneceu em partes dos territórios da antiga
Palestina Britânica destinadas pela ONU para constituir um “Estado árabe”,
ou seja: Gaza e Cisjordânia.
Entre 1948 e 1967 não havia, em tais territórios, nenhum soldado
israelense. Eles estavam, na verdade, sob domínio árabe, respectivamente,
do Egito e da Jordânia. Não obstante, os árabes de Gaza e da Cisjordânia
não exigiram do Egito nem
da Jordânia que lhes entregassem tais territórios para constituírem ali
seu Estado. Porque seu objetivo político não era construir um Estado
nesses territórios – daí jamais o terem feito entre 1948 e 1967 –, mas
destruir o Estado de Israel, visando reconstituir a antiga Palestina
Britânica na forma de uma Palestina Árabe.
Em 1964, sob auspícios de Nasser, seria criada no Cairo a Organização para
a Libertação da Palestina, ou OLP. Não para a libertação dos territórios
de Gaza e da Cisjordânia da ocupação israelense, naturalmente, pelo
simples motivo de que tais territórios não estavam sob ocupação israelense
em 1964. Mas, então, para a “libertação” do restante da ex-Palestina
Britânica: Israel. O verdadeiro nome da organização deveria ser, portanto,
Organização para a Destruição de Israel, ou ODI.
Ironicamente, seria o Estado de Israel que daria afinal legitimidade à OLP
e ao próprio movimento palestino, originalmente ilegítimo, ao demandar não
a construção de um Estado, mas a destruição de outro. Pois ao ocupar, em
1967, Gaza e a Cisjordânia, Israel forçou a substituição do objetivo
original de destruí-lo pelo de libertar a Cisjordânia e Gaza. Havia,
enfim, uma causa palestina legítima.
7
O objetivo original do movimento palestino, porém, não foi esquecido. Não
somente porque foi seu único objetivo político por 20 anos (entre 1948 e
1967), ou seja, por toda uma geração, mas também porque o novo objetivo
não foi escolhido pelos palestinos, e sim imposto por Israel. É por isso
que, na verdade, a partir de 1967, jamais houve
uma causa palestina, mas
duas:
construir o Estado palestino em Gaza e Cisjordânia e destruir o Estado de
Israel. O que pressupõe o massacre da população israelense, em cujo quadro
ideológico se explica a opção histórica por atentados contra civis, em vez
de soldados. Explica-se grandemente, também, o próprio fracasso histórico
da “causa” palestina.
Não é por acaso que a “causa” palestina seja a única, de todas as grandes
causas nacionais da segunda metade do século 20 (excluindo somente a
curda), a ter fracassado. Argelinos, sul-africanos e africanos em geral,
indianos e timorenses, chineses e vietnamitas, todos venceram. O caso
vietnamita é exemplar: lutaram contra as mais poderosas forças armadas da
história. Não é, portanto, nenhum poderio militar israelense que explica a
derrota histórica palestina. Os vietnamitas, na verdade, jamais venceram
as forças armadas americanas. Os EUA foram derrotados por sua própria
opinião pública, que passou a considerar injusta a intervenção militar no
país asiático, forçando a retirada. Se isso jamais aconteceu em Israel,
não é porque a população israelense seja pérfida, como acreditam os
anti-israelenses e os antissemitas. Nem porque os grupos políticos
israelenses que querem manter a ocupação sejam irresistíveis, como não
foram irresistíveis os grupos americanos que queriam continuar a guerra do
Vietnã. O motivo é que, ao contrário da
causa vietnamita, que não
incluía a destruição dos EUA, a “causa” palestina, desde 1967, sempre
hesitou, oscilou e se dividiu entre duas causas, entre dois objetivos, um
legítimo e um ilegítimo: o que não ajuda a clareza do discurso e dos
objetivos, a concentração e a objetividade das forças políticas nem a
solidariedade internacional. A recente eleição do Hamas em Gaza não foi um
acidente histórico.
8
O projeto sionista, nascido no século 19, não tinha um mapa definido (mas
vários). Esse mapa afinal emergiu em 1922, e foi traçado, não pelos
sionistas, mas pelo Império Britânico: a Palestina Britânica, criada pela
fusão de antigas províncias otomanas. Assim, quando em 1947 a ONU a dividiu, destinando uma parte a
Israel e outra a um Estado árabe, dividiu igualmente o movimento sionista.
A parte dominante do movimento, liderada por Ben Gurion, foi a que aceitou
partilha, fundando o Estado de Israel (a outra parte, naturalmente, eram
os que sonhavam em incorporar Gaza e a Cisjordânia, que ganhariam um novo
impulso com as ocupações de 1967). No lado árabe, ao contrário, a parte
amplamente dominante de seu espectro político, liderada pelo Mufti de
Jerusalém, foi a que recusou a partilha, criando o objetivo geopolítico
original de destruir o Estado de Israel.
Além da ironia de Israel afinal dar legitimidade à OLP e ao próprio
movimento palestino em 1967, outra grande ironia é o fato de que a causa
palestina original, reconstituir a antiga Palestina Britânica numa Grande
Palestina, de certa forma legitimaria aqueles grupos políticos israelenses
que, desde a aceitação da partilha por Ben Gurion, sempre quiseram a mesma
coisa. A diferença é o meio: os palestinos, para consegui-lo, devem
destruir Israel, enquanto esses grupos israelenses apenas precisam impedir
que se construa o Estado palestino. Para isso, contam com o apoio
involuntário dos próprios grupos palestinos que ainda querem destruir
Israel e, deste modo, atrapalham as forças políticas palestinas que afinal
escolheram construir um Estado palestino – além de impedir que a população
israelense possa vir a apoiar maciçamente sua criação.
|
[1]
Acessível em
www.libanoshow.com/home/oriente_medio/onu.htm#181
|
| |
 |
Luís Dolhnikoff (São Paulo, 1961)
estudou Medicina e Letras Clássicas na USP. É autor de Pãnico
(poesia), São Paulo, Expressão, 1986, apresentação Paulo Leminski;
Impressões digitais (poesia, 1990); Microcosmo (poesia, 1991), Os
homens de ferro (contos, 1992), os três pela editora Olavobrás (São
Paulo), que criou em 1989 com Marcelo Tápia, e de Lodo (poesia), São
Paulo, Ateliê, 2009, além do livro infantil A menina que media as
palavras (Mirabilia, 2008) e do inédito As rugosidades do caos
(poesia, 2012). Tem poemas publicados em Atlas Almanak 88, São Paulo,
Kraft, 1988, organização Arnaldo Antunes; Tsé=tsé 7/8 (número especial
com 30 poetas brasileiros contemporâneos), Buenos Aires, outono 2000;
Medusa 10, Curitiba, abr.-mai. 2000; “Moradas provisórias (antologia
de poesia brasileira contemporânea)”, in Hipnerotomaquia, Cidade do
México, Aldus, 2001, organização Josely V. Baptista; Folhinha, Folha
de S. Paulo, 27/07/2002; e nas revistas Cult 61, SP, out. 2002; Sibila
3, SP, out. 2002; 18 IV, SP, Centro de Cultura Judaica, jun.-ago.
2003; Coyote 5, Londrina, outono 2003; Babel 6, Campinas, dez. 2003;
Ciência & Cultura 56, SP, Imprensa Oficial, abri.-jun. 2004;
Ratapallax 11, New York, spring 2004; Mandorla – New writing from
Américas 8, Illinois, Illinois State University, 2005; Mnemozine 3
(revista online, www.cronopios.com.br/mnemozine, 2006), além dos sites
www.sibila.com.br,
www.jornaldepoesia.jor.br,www.germinaliteratura.com.br,
www.bestiario.com.br/maquinadomundo, www.cronopios.com.br e ablogando
(ab-logando.blogspot.com). Integrou a exposição de poesia visual A
Palavra Extrapolada, São Paulo, SESC Pompeia, ago.-set. 2003,
curadoria Inês Raphaelian, e a mostra Desenhos, de Francisco Faria, ao
lado de Josely V. Baptista, Curitiba, Museu Oscar Niemeyer, mar. 2005
/ SP, Instituto Tomie Ohtake, set.-dez. 2005. Traduziu Arquíloco
(Fragmentos, São Paulo, Expressão, 1987), Joyce (Poemas, São Paulo,
Olavobrás, 1992, colaboração Marcelo Tápia), Auden, (Mais!, Folha de
S. Paulo, 06/07/2003), Cervantes (Mais!, Folha de S. Paulo,
14/11/2004, colaboração Josely V. Baptista), Yeats (Etc, Curitiba,
jan. 2005), William Carlos Williams (Sibila, www.sibila.com.br, 2011)
e Ginsberg (Uivo, São Paulo, Globo, 2012). Entre 1991 e 1994,
coorganizou, ao lado de Haroldo de Campos, o Bloomsday de São Paulo
(homenagem anual a James Joyce). Como crítico literário, colaborou, a
partir de 1997, com os jornais O Estado de S. Paulo, A Notícia, Diário
Catarinense, Gazeta do Povo, Clarín e Folha de S. Paulo, além das
revistas Sibila e Babel e dos sites Cronópios e Sibila. Recebeu, em
2005, uma Bolsa Vitae de Artes para desenvolver estudo crítico sobre a
obra de Pedro Xisto. Entre 2003 e 2008, foi colaborador de política
internacional, com destaque para as relações entre política e
religião, da Revista 18, do Centro de Cultura Judaica de São Paulo.
luisdkf@uol.com.br
|
|
|
|