
MANUEL RODRIGUES VAZ
Comunicação lida no Restaurante O Pote, Lisboa, aos 24 de Maio de 2023
«Fortemente instalada na Zâmbia, tendo o apoio direto de uma população que transferiu, com o apoio da OUA, da região de Brazzaville – de 1966 a 1970 – (Cf. Iko Carreira, em O Pensamento Estratégico de Agostinho Neto) e com bases perto da fronteira, onde o armamento chegava em grande quantidade, a ameaça era real. Se o MPLA continuasse no mesmo ritmo, a situação militar em Angola tornar-se-ia muito problemática com enorme impacto em Portugal Continental e com reflexos incalculáveis nas lutas que as Forças Armadas Portuguesas travavam na Guiné e em Moçambique.»
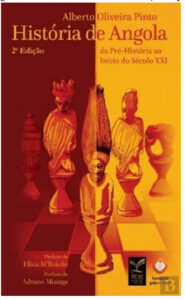 De vários modos, esta citação, tirada do livro Angola – Vitória Militar no Leste, (Tribuna da História, 2002, Lisboa), de António Pires Nunes, tenente-coronel do Exército Português que tem dedicado os últimos anos a tentar provar uma vitória portuguesa sobre a guerrilha em Angola, é reveladora de que tal vitória não foi, aliás nunca foi, um axioma nem uma realidade, não passando de um slogan para entreter saudosistas, que ainda agora continuam a propagar utopias, como se meras hipóteses pudessem concretizar-se a partir de grandes vontades, sem atender aos condicionalismos e circunstâncias de lugar e tempo.
De vários modos, esta citação, tirada do livro Angola – Vitória Militar no Leste, (Tribuna da História, 2002, Lisboa), de António Pires Nunes, tenente-coronel do Exército Português que tem dedicado os últimos anos a tentar provar uma vitória portuguesa sobre a guerrilha em Angola, é reveladora de que tal vitória não foi, aliás nunca foi, um axioma nem uma realidade, não passando de um slogan para entreter saudosistas, que ainda agora continuam a propagar utopias, como se meras hipóteses pudessem concretizar-se a partir de grandes vontades, sem atender aos condicionalismos e circunstâncias de lugar e tempo.
De qualquer maneira, na hipótese de que tal fosse verdadeiro, que havia mesmo uma vitória das forças coloniais em Angola, em 1974, há que perguntar, antes de mais, como é que, depois de ganhar a guerra, estas iam conseguir ganhar a paz, quando as coisas que tinham originado a guerra – a falta de liberdade, a disparidade de direitos entre brancos e pretos, a opressão, mesmo que mais disfarçada – continuavam a existir, como se nada tivesse acontecido.
Pese muito embora as parangonas que alguns antigos militares portugueses continuam a debitar, às vezes com a anuência de alguns responsáveis angolanos, que devem achar que cortesias não fazem mal a ninguém, na verdade, ao contrário do que era apregoado pela propaganda oficial, as coisas continuavam na mesma, havia era mais cinismo de uma parte e de outra, isto é, os colonos fingiam que mandavam mesmo sabendo que só eram obedecidos porque estavam do lado do poder, e os angolanos fingiam que obedeciam, quando a vontade verdadeira era a rebelião aberta.  Esta é que era uma das principais características do colonialismo, como fica bem claro num filme apresentado há cinco anos, Posto Avançado do Progresso, realizado por Hugo Vieira da Silva a partir do conto homónimo de Joseph Conrad, o mesmo autor do livro O Coração das Trevas, que deu origem ao grande filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola.
Esta é que era uma das principais características do colonialismo, como fica bem claro num filme apresentado há cinco anos, Posto Avançado do Progresso, realizado por Hugo Vieira da Silva a partir do conto homónimo de Joseph Conrad, o mesmo autor do livro O Coração das Trevas, que deu origem ao grande filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola.
Eu próprio andei pelo Leste angolano em 1966 e 1967, e dei-me conta de tais factos, num conto que escrevi em 1972 e que só foi publicado no diário ABC de Luanda com os devidos cortes. Chamava-se O fotógrafo orador e outras coisas do mato, e passo a citar um excerto sintomático do que assevero, quando, em rota para o Muié, tive ocasião de ver uma das suas célebres sessões de oratória no Sessa, em que utilizou o dialeto local, e se ainda tivesse dúvidas sobre a inevitabilidade da independência de Angola, tinha-as tirado logo ali. «Efetivamente, quando, num crescendo, acabava por fazer uma tirada que devia ser muito patriótica com respeito à fidelidade a Portugal, lá estava o ajudante do chefe de posto e o soba local para mandarem bater palmas. O povo, reunido à pressa e nitidamente sem vontade nenhuma para comparecer, lá ia batendo palmas, isto é, fazia que batia. Primeiro as pessoas levantavam bem devagar as mãos e depois, nitidamente a gozar com a história, lá as juntavam como se a isso fossem obrigadas, o que era verdade, só quem não quisesse ver é que não notava que era tudo artificial.»
Como muito bem disse o Padre António Vieira, num dos seus sermões, «É a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas, e quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva os campos, as casas, as vilas, as cidades, os castelos, e talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras.» Portanto, como seria possível que um povo que estava arredado de todos os direitos, mas que manteve sempre briosamente a sua identidade, perante todas as adversidades, poderia acatar promessas de melhoria de vida que a ação psicossocial propagava com o maior descaramento? Na verdade, os levantamentos de 4 de Fevereiro em Luanda e de 15 de Março no norte de Angola, foram mais a resposta lógica à violência do massacre da Baixa de Cassanje, perto de Malanje, em que centenas de angolanos foram enterrados vivos, do que a vontade de independência que naquela altura ainda era uma ideia difusa para os camponeses.
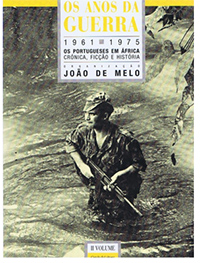 Num texto que fez para a antologia Os Anos de Guerra 1961-1975, de João de Melo (Círculo de Leitores, Lisboa, 1988), o jornalista português Joaquim Vieira dirá, com segurança, que dado o apoio da Zâmbia, à abertura da Frente Leste, «o MPLA intervirá no Leste pela qualidade do armamento. A sua ação iniciar-se-á com acentuado vigor na região do Cazombo. Os melhores combatentes do MPLA serão destacados para a nova frente, que o movimento pretende ver alargada a toda a área dos distritos de Moxico e Cuando-Cubango.» O início das hostilidades no Leste de Angola foi efetivamente um dado novo na situação angolana. Pouco antes, considerava-se que a guerra em Angola estava militarmente ganha, com o MPLA operacionalmente prostrado em Cabinda e a redução de operações da FNLA no norte, mas a situação mudaria depressa.
Num texto que fez para a antologia Os Anos de Guerra 1961-1975, de João de Melo (Círculo de Leitores, Lisboa, 1988), o jornalista português Joaquim Vieira dirá, com segurança, que dado o apoio da Zâmbia, à abertura da Frente Leste, «o MPLA intervirá no Leste pela qualidade do armamento. A sua ação iniciar-se-á com acentuado vigor na região do Cazombo. Os melhores combatentes do MPLA serão destacados para a nova frente, que o movimento pretende ver alargada a toda a área dos distritos de Moxico e Cuando-Cubango.» O início das hostilidades no Leste de Angola foi efetivamente um dado novo na situação angolana. Pouco antes, considerava-se que a guerra em Angola estava militarmente ganha, com o MPLA operacionalmente prostrado em Cabinda e a redução de operações da FNLA no norte, mas a situação mudaria depressa.
Curiosamente, um dos livros que mais objectivamente trata os anos da guerra em Angola será a História de Angola, de Alberto Oliveira Pinto, nascido em Luanda, filho de um antigo Governador do Banco de Angola. Pensada para ser apresentada como História Concisa à maneira da que existe sobre Portugal, acabou por ir mais além, e ainda bem, porque resultou tratar-se de um texto que poderá servir como instrumento didático, de consulta e de estudo para professores e estudantes e, também, como ponto de partida para outras pesquisas e debates mais exaustivos, enfim, um verdadeiro Manual, que se lê muitas vezes como um romance, dada a vivacidade da narração e a forma labiríntica como as peças do xadrez se vão movimentando no tabuleiro angolano.
Por mais que se cantassem loas á vitória das forças ocupantes, na verdade, havia um nítido travo a frustração, até diremos que havia um reconhecimento implícito das razões da guerra. Vale a pena transcrever um excerto do livro Angola – Paz só com Muxima, – um título que vale todo um programa! – do capelão Abel Matias, descrevendo um serão num acampamento durante a Operação Siroco, no Leste de Angola, em 1972: «O segundo comandante, major Durão, recentemente conquistado para o nosso grupo, com letra sua e música de Zeca Afonso, começava: «Nos gabinetes com o seu ar cansado, Recém-saídos dos altos estudos, Olham a tropa com o seu ar cansado, Os generais gordos e pançudos». E nós todos, no fim de cada quadra, repetíamos em coro: «Eles mandam vir, eles mandam vir, eles mandam vir, mas não sabem nada.»» De certo modo, este episódio lembra o homófilo, maduro de sensualidade e de língua livro de Domingos Lobo, Os Navios Negreiros não Sobem o Cuando, (Vega, Lisboa, 1993), que classifica como “guerra de opereta” o que se passava, e onde reflete sobre a condição do homem/soldado coagido a combater numa guerra absurda.
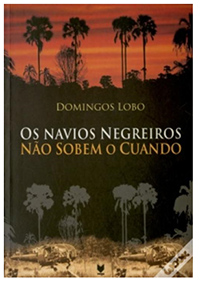 Siroco, os Comandos no Leste de Angola, é exatamente o título de outro volume do tenente-coronel António Pires Nunes, louvando o “heroísmo” desta unidade militar, mas não deixando de reconhecer a eficiência das forças da guerrilha no terreno. Por outro lado, Angola: o conflito na Frente Leste, (Lisboa, Âncora Editora, 2011) relato de um capitão miliciano na guerra colonial, Benjamim Almeida, realça, com algum detalhe, a natureza das relações da UNITA com o exército português, suportada por documentos inéditos. Entre estes destaca-se alguma correspondência trocada entre o presidente da UNITA e o autor, bem como o relatório do encontro entre ambos, que teve lugar em 20 de Outubro de 1973.
Siroco, os Comandos no Leste de Angola, é exatamente o título de outro volume do tenente-coronel António Pires Nunes, louvando o “heroísmo” desta unidade militar, mas não deixando de reconhecer a eficiência das forças da guerrilha no terreno. Por outro lado, Angola: o conflito na Frente Leste, (Lisboa, Âncora Editora, 2011) relato de um capitão miliciano na guerra colonial, Benjamim Almeida, realça, com algum detalhe, a natureza das relações da UNITA com o exército português, suportada por documentos inéditos. Entre estes destaca-se alguma correspondência trocada entre o presidente da UNITA e o autor, bem como o relatório do encontro entre ambos, que teve lugar em 20 de Outubro de 1973.
De referir ainda, com idêntica posição, realçando sobretudo o orgulho da “raça” lusa e o seu heroísmo, o volume Os Páras na Guerra (Prefácio, Lisboa, 2002), de Joaquim M. Mensurado, em cujo prefácio o general Gabriel do Espírito Santo afirma que este livro «é mais um contributo para a História Militar recente de Portugal e das suas Forças Armadas e o esforço que foi feito para haver paz numa terra e entre gentes que tanto amámos.»
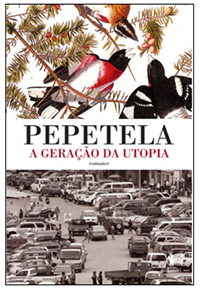 Do lado dos guerrilheiros, é outra a narrativa. Atente-se neste excerto do livro de Pepetela A Geração da Utopia (União de Escritores Angolanos, Luanda, 1992): «E lá vinham os helicópteros, e lá vinham os aviões, e lá vinham os Comandos e os GE e os Flechas, todos armados, estranha luz nos olhos, arrancar a mandioca e o milho, em nome da amizade. E lá vinham as cristianíssimas cruzes de Cristo, pintadas a vermelho nas barrigas dos bombardeiros, tingir de vermelho rasgado as barrigas negras das crianças.» Neste romance de Pepetela, parte do qual narra as histórias ligadas à guerra, escrito e publicado já depois da independência, a distância temporal do autor relativamente à guerra possibilitou-lhe ter consciência da situação pós-guerra. Trata essencialmente de várias outras personagens, abandonando as suas vidas amorosas e engajando-se na luta de libertação, num processo muito parecido que acontece num seu romance anterior As Aventuras de Ngunga. Sublinhe-se, entretanto, parafraseando Priscila Henriques Lima, que este romance de iniciação juvenil, é fundamental para compreender «o desenvolvimento da guerra nesta região que, na verdade, foi o marco da vitória do MPLA na luta pela independência.» Efetivamente, ainda segundo esta Professora Mestre em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na sua dissertação Práticas e ideologias em uma literatura de guerrilha: Mayombe e As Aventuras de Ngunga de Pepetela (1960-1973), «O conteúdo educacional que foi desenvolvido e trabalhado na 3ª Região Político-Militar corrobora com a própria proposta do movimento de criação de um novo homem, entretanto sob a influência de novas alianças internacionais que compartilhavam do marxismo como caminho ideal para o desenvolvimento de uma sociedade. O apoio internacional na formação da frente guerrilheira do MPLA não se resumia ao manuseio de armas e estratégias de guerrilha, havia todo um esforço em formar militantes políticos, conscientes da proposta do movimento.»
Do lado dos guerrilheiros, é outra a narrativa. Atente-se neste excerto do livro de Pepetela A Geração da Utopia (União de Escritores Angolanos, Luanda, 1992): «E lá vinham os helicópteros, e lá vinham os aviões, e lá vinham os Comandos e os GE e os Flechas, todos armados, estranha luz nos olhos, arrancar a mandioca e o milho, em nome da amizade. E lá vinham as cristianíssimas cruzes de Cristo, pintadas a vermelho nas barrigas dos bombardeiros, tingir de vermelho rasgado as barrigas negras das crianças.» Neste romance de Pepetela, parte do qual narra as histórias ligadas à guerra, escrito e publicado já depois da independência, a distância temporal do autor relativamente à guerra possibilitou-lhe ter consciência da situação pós-guerra. Trata essencialmente de várias outras personagens, abandonando as suas vidas amorosas e engajando-se na luta de libertação, num processo muito parecido que acontece num seu romance anterior As Aventuras de Ngunga. Sublinhe-se, entretanto, parafraseando Priscila Henriques Lima, que este romance de iniciação juvenil, é fundamental para compreender «o desenvolvimento da guerra nesta região que, na verdade, foi o marco da vitória do MPLA na luta pela independência.» Efetivamente, ainda segundo esta Professora Mestre em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na sua dissertação Práticas e ideologias em uma literatura de guerrilha: Mayombe e As Aventuras de Ngunga de Pepetela (1960-1973), «O conteúdo educacional que foi desenvolvido e trabalhado na 3ª Região Político-Militar corrobora com a própria proposta do movimento de criação de um novo homem, entretanto sob a influência de novas alianças internacionais que compartilhavam do marxismo como caminho ideal para o desenvolvimento de uma sociedade. O apoio internacional na formação da frente guerrilheira do MPLA não se resumia ao manuseio de armas e estratégias de guerrilha, havia todo um esforço em formar militantes políticos, conscientes da proposta do movimento.»
A segunda parte, titulada A Chana, mostra exatamente a vida das personagens no meio da guerra, na Frente do Leste, começando no ano 1972. A vida dos guerrilheiros, que devia unir as personagens em luta para o bem de todos, na verdade mostrou a face de cada um deles e dividiu-os psicologicamente uns dos outros.
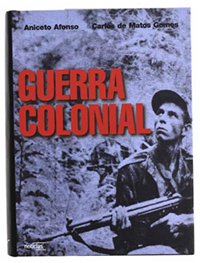 Como afirma Martin Bardún, na sua tese Angola é nossa! Imagem da guerra da libertação de Angola nos romances Mayombe de Pepetela, Nós, Os do Makulusu de José Luandino Vieira e Os Cus de Judas de António Lobo Antunes, (Masarykova Univerzita, Brno, República Checa), «O caso da literatura angolana era claro – a literatura funcionou como apoio das tendências independentistas, como uma imagem e descrição das crueldades portuguesas, condições que estas causaram, e o sofrimento do homem negro face à realidade colonial e mais tarde, face à guerra. Já o caso da literatura portuguesa era obviamente diferente. Toda a literatura portuguesa desta época, literatura que tratou o assunto de guerra, pode ser dividida em dois grupos, postos em clara oposição – uma vertente, com prevalência em quantidade, uniu os escritores que apoiaram o regime, e, portanto, apoiaram e justificaram a guerra em Angola, sentindo e escrevendo, que era necessário manter a Angola sob a dominância do governo português. Outra vertente era composta por autores, que, mesmo sendo portugueses, eram contra o governo e a guerra, que sentiram ser inútil, cruel e, visto o contexto histórico, condenada à derrota.»
Como afirma Martin Bardún, na sua tese Angola é nossa! Imagem da guerra da libertação de Angola nos romances Mayombe de Pepetela, Nós, Os do Makulusu de José Luandino Vieira e Os Cus de Judas de António Lobo Antunes, (Masarykova Univerzita, Brno, República Checa), «O caso da literatura angolana era claro – a literatura funcionou como apoio das tendências independentistas, como uma imagem e descrição das crueldades portuguesas, condições que estas causaram, e o sofrimento do homem negro face à realidade colonial e mais tarde, face à guerra. Já o caso da literatura portuguesa era obviamente diferente. Toda a literatura portuguesa desta época, literatura que tratou o assunto de guerra, pode ser dividida em dois grupos, postos em clara oposição – uma vertente, com prevalência em quantidade, uniu os escritores que apoiaram o regime, e, portanto, apoiaram e justificaram a guerra em Angola, sentindo e escrevendo, que era necessário manter a Angola sob a dominância do governo português. Outra vertente era composta por autores, que, mesmo sendo portugueses, eram contra o governo e a guerra, que sentiram ser inútil, cruel e, visto o contexto histórico, condenada à derrota.»
Como dirá Rui de Azevedo Teixeira, «Esta atitude de rejeição de qualquer glória e exemplaridade heróica é exatamente contrária à que domina na produção literária dos africanos lusófonos relativa à sua guerra de libertação nacional. Nestes textos, geralmente com muito pobre tecido significante e técnica literária, predomina o tom épico-libertador que aponta para um estupendo futuro comunista. Exceções a estas obras politicamente hipertrofiadas e literariamente ingénuas são, entre poucas outras, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier ou Nós, os do Maculuso, de José Luandino Vieira, As Lágrimas e o Vento, de Manuel dos Santos Lima, Mayombe, de Pepetela, Angola, Angolé, Angolema, de Arlindo Barbeitos.»
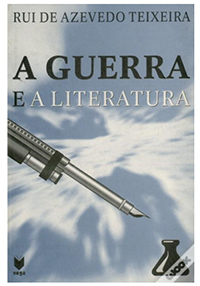 A verdade é que, como diz, por outro lado, Rui de Azevedo Teixeira, no seu livro A Guerra e a Literatura (Vega, Lisboa, 2001), «A guerra habita a Literatura na maior parte dos seus modos e géneros. O conflito armado de grandes proporções irrompe na narrativa, no drama, na lírica, instalando-se no conto, na novela, no diário, no poema, na peça de teatro, e, com especial à vontade, na epopeia e no romance.» Para este autor, um dos poucos estudiosos da guerra portugueses, no entanto, «a Guerra Colonial, ou do Ultramar, teve no plano da realidade a marca do irrealismo maligno, mas também grandioso, da política imperial, embora nas esferas do militar e do desenvolvimento tenha sido basicamente positiva; por sua vez, a ficção que se fundou nestas duas vertentes da realidade traduzem-nas literariamente de forma negativa, excessivamente negativa.»
A verdade é que, como diz, por outro lado, Rui de Azevedo Teixeira, no seu livro A Guerra e a Literatura (Vega, Lisboa, 2001), «A guerra habita a Literatura na maior parte dos seus modos e géneros. O conflito armado de grandes proporções irrompe na narrativa, no drama, na lírica, instalando-se no conto, na novela, no diário, no poema, na peça de teatro, e, com especial à vontade, na epopeia e no romance.» Para este autor, um dos poucos estudiosos da guerra portugueses, no entanto, «a Guerra Colonial, ou do Ultramar, teve no plano da realidade a marca do irrealismo maligno, mas também grandioso, da política imperial, embora nas esferas do militar e do desenvolvimento tenha sido basicamente positiva; por sua vez, a ficção que se fundou nestas duas vertentes da realidade traduzem-nas literariamente de forma negativa, excessivamente negativa.»
António Lobo Antunes, com Memória de Elefante, (1979), Os Cus de Judas (1979) e Conhecimento do Inferno (1980), todos editados pela Vega, inaugurou de certo modo uma nova fase da ficção sobre a guerra no Leste Angola. Entre a memória revoltada da guerra e o deslumbramento da terra enquanto natureza, entre o memorialismo e o confessionalismo, esta trilogia, tal como outras obras aparecidas pouco tempo depois, têm o cerne, como defende Rui de Azevedo Teixeira, RAT, numa interligação entre a descrição de uma agonia imperial, coletiva (a nível textual), e a revolução, mais ou menos dissimulada, de uma catarse autoral, individual (no plano do subtexto). De qualquer maneira, RAT, no livro A Guerra Colonial e o Romance Português, (Notícias Editorial, Lisboa, 1998) embora poupe Carlos Vale Ferraz em Nó Cego, que pensou com frieza a guerra e com sobriedade o delírio imperial, não se compadece muito com António Lobo Antunes, de quem diz escrever «patacoadas sobre combates», embora não retire a Os Cus de Judas a qualidade da força da linguagem, mas não deixa de registar em relação a esta obra uma forte propensão «para contar a vidinha».
Quem também escreveu sobre a guerra no Leste de Angola foi Wanda Ramos, que denuncia o «desmazelo do colonialismo que não fazia investimento em terra de cafres» no livro Percursos (do Luachimo ao Luena), (Presença, Lisboa, 2001), assim como Pedro Cabrita, aliás Pedro C., que, com o livro de memórias Capitães do Vento (Roma Editora, Lisboa, 2003), nos dá em forma de diário de campanha, uma panorâmica do que foram os seus anos de guerra em Angola, desde Santa Eulália e Mucondo a Mavinga e Cuito-Canavale, criticando «uma certa fanfarronice que se foi alastrando em prosápias de caserna na ostentação de uma farda que dava algum poder e ilusão de elevação, ou de generalada cosida ao poder, que suportava na forma do seu braço armado, convencida que se repetiria a gesta do passado com a simples ostentação da arrogância de fitinhas coloridas penduradas ao peito, não mais do que produtos de jogos florais de caserna e gabinete, que esgrimiam enquanto ditava ordens de papel rabiscadas no ar condicionado.» O seu outro livro, O Último Inferno – Guerra Colonial 1971-73 (Prefácio, Lisboa, 2006), conforme salienta no prefácio Eduardo Brito Aranha, seu companheiro de jornada no Leste de Angola, e autor de um interessante livro Um barco fardado – Memórias da Guerra Colonial (Roma Editora, Lisboa, 2005), «não é mais um livro sobre a Guerra Colonial, não é mais uma romaria de saudade ao “nosso ultramar” feita por gente vetustamente nostálgica ou nem mesmo um grito panfletário contra a prepotência que fazia dos pretinhos nossos criados. Também não é literatura para militares cacimbados se remirarem nos ambientes vividos na guerra, ou, quando por bonomia, aquele livro que se dá aos familiares e amigos para eles se admirarem do quanto o autor sofreu ou que bem ele escreve. É um grito de revolta pelo que fomos, por essas naus suicidas em que embarcámos durante tantos anos, por esse logro que é andar a matar o semelhante em nome de um bolorento baluarte, igual a tantos outros ostentados por outros povos com igual direito de o defender e que simboliza a pátria.»
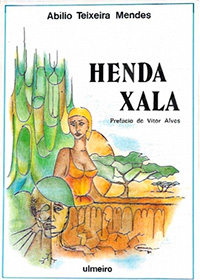 Quase esquecido porque editado pouco tempo depois da independência de Angola, Henda Xala (Ulmeiro, Lisboa, 1984), de Abílio Teixeira Mendes, de uma qualidade assinalável, nele o autor relata a vida dos militares e das populações civis durante a guerra colonial em Angola, onde na sua qualidade de oficial subalterno – médico -cumpriu o serviço militar, a maior parte do qual na região do Lumbala, no saliente de Cazombo. Abílio Teixeira Mendes tinha sido expulso por trinta meses da Universidade de Lisboa por ter sido um dos dirigentes associativos da academia de Lisboa que maior atividade desenvolveu no movimento estudantil de 1962 e «por ter comparecido na maioria dos plenários feitos em Lisboa, incitando sempre a massa académica à luta». A edição foi prefaciada pelo major Vítor Alves, que reconhece «nestas páginas, a marca de autenticidade de quem viveu, em toda a sua dimensão, a necessidade de responder ao desafio de ser português – de sermos, enfim, signos da mensagem dos nossos descobrimentos.»
Quase esquecido porque editado pouco tempo depois da independência de Angola, Henda Xala (Ulmeiro, Lisboa, 1984), de Abílio Teixeira Mendes, de uma qualidade assinalável, nele o autor relata a vida dos militares e das populações civis durante a guerra colonial em Angola, onde na sua qualidade de oficial subalterno – médico -cumpriu o serviço militar, a maior parte do qual na região do Lumbala, no saliente de Cazombo. Abílio Teixeira Mendes tinha sido expulso por trinta meses da Universidade de Lisboa por ter sido um dos dirigentes associativos da academia de Lisboa que maior atividade desenvolveu no movimento estudantil de 1962 e «por ter comparecido na maioria dos plenários feitos em Lisboa, incitando sempre a massa académica à luta». A edição foi prefaciada pelo major Vítor Alves, que reconhece «nestas páginas, a marca de autenticidade de quem viveu, em toda a sua dimensão, a necessidade de responder ao desafio de ser português – de sermos, enfim, signos da mensagem dos nossos descobrimentos.»
No tempo em que se faziam excursões promovidas por umas “tias de Cascais”, de Lisboa à Jamba, a convite de Savimbi, para irem ver o célebre sinaleiro, que parece não tinha mãos a medir para a congestão de tráfego que todos os dias se verificava no acampamento, a UNITA raptou, em 1983, um grupo de professores portugueses que cometiam o crime de dar formação profissional no Sumbe.
 Entre eles estava Dora Fonte, que em 2013 descreveu o episódio de que foi vítima num tão inspirado como equilibrado relato, O Rapto – Com os Kwachas até à Jamba (Húmus, Vila Nova de Famalicão, 2014), que de vários modos dá com eficiência uma parte do clima de guerra que se viveu no Leste. A certa altura, reflete: «Á medida que vão convivendo com os carcereiros, vão dando conta de muitas outras coisas: que as crianças que andam por ali a fazer serviços de adultos tinham sido raptadas, como raptadas foram a maior parte das mulheres que ali prestavam serviço. Por isso, quando antes de chegarem à Jamba, ficaram boquiabertos a observar todo aquele esplendor da natureza, vendo elefantes, búfalos, hienas e mabecos, sentiram que quem estava no Jardim Zoológico eram eles, pois os animais selvagens gozavam da mais completa liberdade. «Agora estavam eles ali livres a olhar para uma jaula rolante. Dentro dela íamos nós, prisioneiros dos maninhos, os maninhos prisioneiros uns dos outros. Presos todos nós!»
Entre eles estava Dora Fonte, que em 2013 descreveu o episódio de que foi vítima num tão inspirado como equilibrado relato, O Rapto – Com os Kwachas até à Jamba (Húmus, Vila Nova de Famalicão, 2014), que de vários modos dá com eficiência uma parte do clima de guerra que se viveu no Leste. A certa altura, reflete: «Á medida que vão convivendo com os carcereiros, vão dando conta de muitas outras coisas: que as crianças que andam por ali a fazer serviços de adultos tinham sido raptadas, como raptadas foram a maior parte das mulheres que ali prestavam serviço. Por isso, quando antes de chegarem à Jamba, ficaram boquiabertos a observar todo aquele esplendor da natureza, vendo elefantes, búfalos, hienas e mabecos, sentiram que quem estava no Jardim Zoológico eram eles, pois os animais selvagens gozavam da mais completa liberdade. «Agora estavam eles ali livres a olhar para uma jaula rolante. Dentro dela íamos nós, prisioneiros dos maninhos, os maninhos prisioneiros uns dos outros. Presos todos nós!»
A guerra no Leste também será objeto de inspiração em livros de autores ligados à UNITA, sendo que o mais importante é Patriotas, (Edições Cotovia, Lisboa, 1991) de Sousa Jamba, escrito originalmente em Inglês e cuja edição para Portugal foi alvo de autocensura pelo autor, por motivos pouco compreensíveis, uma vez que a questão mais polémica, que era a denúncia do sufocante universo concentracionário na UNITA, onde todas as vidas estavam dependentes da vontade de um único homem, o Mais-Velho, isto é, Jonas Savimbi, foi mantida.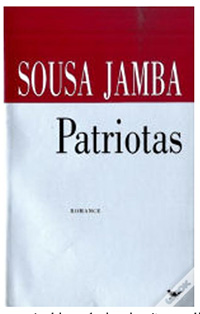
Trata-se realmente de uma obra tão cuidadosa como ousada, cuidado que não valeu de nada ao autor porque não escapou à condenação dos seus correligionários, como aliás era de esperar. Mas acaba por dizer o essencial que devia ser dito e assim contribuiu sobremaneira para o avanço da cidadania em Angola, que cada vez mais se torna fundamental, porque, ao mesmo tempo que relata a resistência dos angolanos do centro e sul contra a administração do MPLA em Luanda e dos militares cubanos, revela as dissidências e lutas fratricidas dentro da UNITA, com o relato que ficou célebre da queima das feiticeiras num acampamento da organização guerrilheira, episódio que apagará da edição em Português.
Até agora, apareceram mais dois volumes de antigos guerrilheiros da UNITA focando a guerra no Leste, se bem que integrada em outras memórias gerais do tempo da guerrilha. São eles Memórias de um Guerrilheiro (Dom Quixote, Lisboa, 2006), de Alcides Sakala, e Cruzei-me com a História (Sextante Editora, Lisboa, 2008), de Samuel Chiwale. Excelente como narração o primeiro, pela organização cronológica e por um certo rigor factual, é o diário de uma viagem alucinante pelo centro e leste de Angola, grande parte feita a pé, de armas na mão, tentando evitar o inevitável: a derrota militar e a morte do líder. A UNITA, sustenta Sakala, poderia ter continuado a resistir. Talvez não no Moxico, mas seguramente no Norte do país e a sul da cidade de Luanda, nas províncias de Cuanza-Sul e de Benguela. Mas por quanto tempo mais? pergunta-se, indicando a carga das sanções da ONU a pesarem sobre as costas dos homens da UNITA, “num mundo em mudança”.
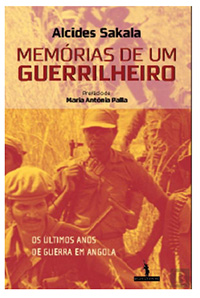 O segundo vale sobretudo pelas observações que o antigo dirigente vai tecendo especialmente sobre as relações com Portugal, onde, como sempre, há ambivalências, característica que foi sempre pontuada pelas gentes de Savimbi. Na verdade, Chivwale, que acompanhou Savimbi desde a fundação da UNITA, é pouco preciso na complacência como o movimento de Savimbi era visto pelas autoridades portuguesas, algumas cumplicidades que surgem referidas por generais portuguesas de ideologia radicalmente diferente, e também relatórios da PIDE/DGS, hoje tornados públicos, que só reafirma o que se vai sabendo há 40 anos pelo menos.
O segundo vale sobretudo pelas observações que o antigo dirigente vai tecendo especialmente sobre as relações com Portugal, onde, como sempre, há ambivalências, característica que foi sempre pontuada pelas gentes de Savimbi. Na verdade, Chivwale, que acompanhou Savimbi desde a fundação da UNITA, é pouco preciso na complacência como o movimento de Savimbi era visto pelas autoridades portuguesas, algumas cumplicidades que surgem referidas por generais portuguesas de ideologia radicalmente diferente, e também relatórios da PIDE/DGS, hoje tornados públicos, que só reafirma o que se vai sabendo há 40 anos pelo menos.
Além disso, o autor omite alguns fuzilamentos, nomeadamente os de Tito Chingunji e Wilson Santos, os “autos de fé” e consequentes rituais sórdidos de queima de pessoas em fogueiras e até mesmo castigos corporais exercidos por Savimbi sobre proeminentes dirigentes da UNITA, alguns hoje referentes na estrutura política, militar e empresarial da Republica de Angola, embora o próprio Chiwale explique, ainda que utilizando alguma condescendência, a forma como a BRINDE, serviços secretos da UNITA, lhe terá quase preparada a tumba, para além de outras formas ignóbeis com que foi tratado e que o levaram a um estado de degradação física e emocional a raiar o quase suicídio.
De qualquer modo, a acreditar em Alcides Sakala, parece que as traições e as conspirações que levaram à morte de Savimbi derivaram essencialmente do erro da UNITA em atacar o Kuito, em 1998, sofrendo ali uma derrota que Savimbi tinha antecipado e que os deixou sem retaguarda perante a contraofensiva das Forças Armadas Angolanas.
Até ao momento esta célebre batalha do Kuito Kuanavale ainda não foi objeto de nenhum livro de ficção, embora já tenha sido citada abundantemente e tenha sido abordada num volume publicado em Itália, A batalha do Kuito Kuanavale e o desanuviamento político da África Austral (Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2016), da autoria de Di Issau Agostinho.
Considerado como o maior confronto militar da Guerra Civil Angolana, ocorreu entre 15 de novembro de 1987 e 23 de março de 1988, na região do Kuito Kuanavale, província de Cuando-Cubango, Angola, onde se confrontaram os exércitos de Angola FAPLA e Cuba, FAR, contra a UNITA e o exército sul-africano. Foi a batalha mais prolongada que teve lugar no continente africano desde a Segunda Guerra Mundial.
Nesta batalha, o mito da invencibilidade do exército da África do Sul foi quebrado, alterando dessa forma, a correlação de forças na região austral do continente, tornando-se o ponto de viragem decisivo na guerra que se arrastava há longos anos. Por outro lado, a superioridade demonstrada pelas FAPLA no campo de batalha fez com que o regime do apartheid aceitasse a assinatura dos Acordos de Nova Iorque, que deram origem à implementação da resolução 435/78 do Conselho de Segurança da ONU, levando à independência da Namíbia e ao fim do regime de segregação racial, que vigorava na África do Sul. Fica para a história, o facto de ambos os lados terem clamado vitória.
Por último, não quero deixar de referir o livro Breve História da Angola Moderna (Séc. XIX-XXI), do historiador britânico David Birmingham, cuja recensão me foi vetada em 2018, por ter chamado a atenção para um pormenor interessante sobre a genealogia da família Van Dúnem. Com efeito, David Birmingham afirma que, ao contrário do que era acreditado até agora, o primeiro antepassado deste clã, não era holandês, mas sim um refugiado português de nome Baltazar, que fugira para a Holanda durante um período de perseguição aos judeus e adotara um nome holandês. Por volta de 1600, este Baltazar Van Dúnem ajudou os holandeses a penetrar o sistema de comércio atlântico e optou por se instalar em Angola.
RODRIGUES VAZ

