
Tributo a ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO
antónio cândido franco
O TRIÂNGULO MÁGICO
UMA BIOGRAFIA DE MÁRIO CESARINY
2018
ESTE LIVRO É PARA O ARTUR!
Sem ele a minha paixão pela escrita desta vida não chegava a ser irremissível.
“Porque Ferro é moderno, Salazar é moderno, Cerejeira é moderno.”
MÁRIO CESARINY, 1984
PORTALÓ
Conheci Mário Cesariny no final do século passado, primeiro na apresentação pública dum livro – o número especial de A Phala, dedicado aos 100 anos da poesia portuguesa (1888-1988) – e depois no seu quarto da Rua Basílio Teles, numa tarde em que fez questão de falar cara a cara comigo. Ia fazer 75 anos e era poeta tão prestigiado, tão reverentemente citado nos jornais, que me assustava. Nunca me atrevi a telefonar-lhe e foi preciso ele obter o meu número por interposta pessoa para se combinar a minha ida a sua casa. Recebeu-me em chinelos, sentado num catre, a fumar um cigarro sem fim, metido numa boquilha preta de plástico, que nunca lhe saía dos dedos. Vivia de forma monástica, num cubículo, onde no chão se empilhavam resmas de folhas e de livros. As paredes estavam amareladas pela nicotina do seu infindável cigarro e em cima dos móveis assentavam décadas de pó. Tudo à minha volta respirava uma pobreza voluntária, nada consentânea com a imagem de grande senhor que eu tinha dele – um Dalí à portuguesa, que vivia para o espectáculo mediático e para o dinheiro. Quando saí a porta e desci as escadas, com a luz da clarabóia a flutuar por cima da minha cabeça, tinha a certeza de ter visitado um ser invulgar e secreto que ninguém conhecia. Vivia no último andar dum prédio da Rua Basílio Teles, na companhia duma serpente marinha, como São Jerónimo vivera numa gruta com um leão e uma caveira.
Hoje, depois da sua morte, a situação do autor de Pena capital é como a daqueles países que todos referem mas ninguém viu. É um escritor falado mas pouco lido, se por leitura se entender uma atenção que é mais do que abrir um livro. O conhecimento da sua poesia está apenas no início, é um continente por revelar. Não há até esta parte um único guia fiável sobre o conjunto da sua criação poética. Existem contributos parcelares sobre livros seus e sobre um ou outro ponto do seu itinerário. Mas mesmo esses são demasiado subservientes a um cânone quase centenário, hoje repleto de teias de aranha, que data duma velhinha respeitável, mas paralítica, chamada Presença – nome que só por ironia hoje se pode acatar. Pouco é o que nesse acervo é para ser tomado como promessa de futuro. Tirando as abordagens feitas ao pintor, essas sim, iluminantes e ferazes até para o poeta, pouco mais há para salvar nesta pequena grande história trágico-marítima que tem sido em Portugal a recepção da obra de Cesariny. Para carregar, o que se sabe em Portugal de surrealismo é quase nada e está cheio de mal-entendidos, quando não de erros graves. Ainda há pouco, um professor de Coimbra, de responsabilidades largas nos estudos literários, escreveu sobre o surrealismo barbaridades de tal calibre que em qualquer outro lugar, da República dos Camarões às Ilhas Marianas, seriam impossíveis.
Cresci numa época em que o estudo da literatura se fazia sem o estudo da biografia. Não ponho em causa que se possa estudar a obra dum autor sem qualquer referência à sua vida. Acredito porém que há autores, e Mário Cesariny é um deles, em que os passos da vida se entrançam de forma tão íntima na sua obra, que a natural evolução desta tem toda a vantagem em ser apreendida no quadro da sua vida. Demais a existência de boas biografias literárias, que sejam ao mesmo tempo um guia seguro de entrada no universo das obras dos biografados, pode ter hoje um papel inestimável junto dum público cada vez mais divorciado dos escritores do passado. Talvez se possa deste modo renovar o estudo da literatura – tão decadente hoje como o tronco morto duma árvore de rico porte, que no presente perdeu qualquer seiva vital capaz de lhe enflorar os ressequidos galhos e cujo único resto visível dum passado de glória e de força é esse mesmo porte rígido e frio de medalhão morto. Mesmo nas universidades portuguesas que ainda mantêm cursos de literatura a disciplina já pouco vale e só lá aparece quase por favor. Ensina-se tudo menos literatura. Salvando a excepção total de Agustina Bessa-Luís, foi uma lástima que a biografia como a cultivaram com sangue Oliveira Martins, Raul Brandão, Teixeira de Pascoaes e Agostinho da Silva tenha declivado e perecido como género. O mesmo digo para a biografia como estudo literário – penso num Gaspar Simões e num Guilherme de Castilho – e que tanto podia ter dado ao longo das últimas décadas se em vez do meio mesquinho que a achincalhou houvesse dado com uma terra generosa e compreensiva que a tivesse feito frutificar.
Cesariny pertence a uma geração e a uma época em que os poetas e os escritores não tinham biografia. Abdicavam dela por causa da censura e da vigilância policial – como hoje a perdem por razões afinal não muito diferentes. A separação entre as letras e a vida era um escudo oportuno para essa perda, que assim se fazia sem demasiado mal-estar. O escritor contentava-se com a vidinha da chamada república das letras – edições, recensões, prémios, traduções, júris, nome nos jornais, entrevistas – e deixava cair a vida vivida, que em termos de manifestações práticas era duma miséria arrepiante. De tão insonsa, de tão banal e monótona, é impossível contar a vida da maior parte dos escritores portugueses da segunda metade do século XX. O que singulariza a experiência de Cesariny é o combate que desde muito cedo travou para ter uma biografia sua, para assumir uma vida cheia, sem censuras interiores, para ligar a palavra e a vida numa mesma busca de liberdade e de espírito.
Um modo assim livre e combativo acabou por pagar um tributo elevado à sociedade do seu tempo, com os duros ferros da prisão, uma péssima reputação e a marginalização social. Nunca teve medo da liberdade e deu de barato qualquer verniz para se apresentar aos seus contemporâneos. A vida de Cesariny tem desta forma um traço tragicamente heróico. É uma vida exemplar no seu timbre de revolta, de resistência, de luta assanhada contra um meio mesquinho e até de martírio involuntário. Foi um herói da liberdade – por isso lhe deram uma ordem honorífica que a homenageava – mas duma liberdade essencial, interior, ilimitada, que não se escreve e que não cabe nas fórmulas do direito jurídico e administrativo – sempre restritas e restritivas. Demais, este homem fez uma demanda, andou à procura dum segredo, levou no cofre do coração uma senha, não desistiu nunca de buscar um tesouro escondido e invisível e para tanto cruzou terras, atravessou mares, passou os sete círculos dos céus. Foi a seu modo um corsário do espírito, um aventureiro da alma e do além, um capitão de insurrectos que nunca se contentou com as fronteiras que lhe traçaram. Andou, navegou, voou e saltou de porto em porto, de estrela em estrela, num “navio de espelhos”, que tinha nos flancos estampado o Sol e a Lua e estava destinado a cavalgar até ao fim das idades e ao cabo último do universo! Que lástima que uma barca assim quimérica ficasse esquecida e não tivesse visita!
φ
Uma derradeira palavra para o que entendo por biografia. Na base de qualquer trabalho biográfico está o que se pode chamar de “inquérito”. Trata-se de recolher um conjunto de documentos fiáveis sobre a vida do biografado. Esse inquérito incide sobre tudo o que possa interessar para o conhecimento da sua vida. É preciso seguir um rasto que leve à herança, ao lugar e ao tempo, sem deixar de perseguir outra pista capaz de atender ao que de mais íntimo e intransferível possa existir no seu íntimo – as suas pulsões ingénitas e instintivas. O inquérito biográfico é em geral tão trabalhoso que dificilmente pode ser dado por fechado. A reconstituição documental duma vida só de forma provisória se pode dar por concluída. Há sempre novos elementos a acrescentar. É impossível e imprudente dar por terminado o conhecimento do acervo documental em torno duma vida. Qualquer biografia é por esse motivo sempre escrita antes do inquérito biográfico estar concluído e num momento provisório e particular do seu progresso. Isso mesmo vale para o trabalho que fiz sobre Mário Cesariny. Indaguei variadíssimos arquivos públicos e privados, recolhi numerosos documentos e testemunhos escritos e orais que antes da minha pesquisa eram desconhecidos, extraí deles novos dados, mas não esgotei de modo nenhum o inquérito sobre o meu sujeito, que deverá no futuro conhecer novos e sempre desejáveis desenvolvimentos.
Como quer que seja, não é a dimensão maior ou menor do inquérito biográfico, o seu carácter exaustivo ou não, que determina a qualidade e o sucesso duma biografia. A escrita duma vida, se enraíza os alicerces no inquérito, não depende dele. Nenhuma biografia se pode escrever como mera colagem de documentos. Só em tal concepção, a escrita duma vida dependeria do inquérito. Não é este pois o elemento determinante duma biografia. Há um segundo dado que relativiza a sua importância. Esse dado é o “retrato”. O que chamo retrato não é o mero documento, nem mesmo a sua apresentação descritiva, mas a interpretação e o tratamento que o biógrafo está em condições de lhe dar. O retrato depende assim de quem escreve, da sua escrita, do seu talento, do seu traço, do seu poder de construção, do seu vigor narrativo, da sua arte maior e do seu dom, e não da objectividade do documento.
Toda a biografia é bifronte. Tem uma parcela de rigorosa objectividade, arrancada aos arquivos, toda ela exterior, e tem um segundo dado, muito mais flutuante, muito menos objectivo, que só depende do biógrafo e da sua intervenção. Se este segundo elemento não fosse o determinante, então qualquer honesto e aplicado investigador de arquivo seria caso desejasse um bom biógrafo. Nada mais falso. Nem todo o excelente investigador de inquéritos é capaz de dar boas biografias. Longe disso. A biografia requer um dom de edificação, uma virtuosidade de narração, uma fluência de linguagem e de representação, um requinte vocabular, um ritmo de acção que só o segundo elemento, o que reside no sujeito, está em condições de fornecer.
É por isso que se podem escrever biografias magistrais com um inquérito pobre, limitado ao essencial, e é isso que sucede nas biografias de Teixeira de Pascoaes e nas de Agostinho da Silva, e se podem escrever péssimas com base numa portentosa investigação. Confundir biografia com inquérito biográfico é um perigo hoje muito comum e está na base da desfiguração actual do género. A maior parte daquilo que hoje se chama biografia não passa da restituição dos materiais do inquérito biográfico – mera acumulação de dados factuais a que falta o elemento determinante, o retrato. Na grande biografia o ornato subtil da perícia impõe-se à linha do rigor. Isto não significa que neste género a arte se baste a si mesma como sucede na ficção. O que isto quer dizer é que nunca um documento poderá por si só chegar para escrever uma vida. Mesmo que o elemento da representação e do sujeito, a escrita, tenha neste género de respeitar os contornos dados pelo inquérito, é ele, só ele, o ponto decisório do género. O inquérito é estruturante mas não decisivo para a escrita duma vida; só o retrato é a pedra de toque da biografia.
A biografia magistral é aquela em que o biógrafo é capaz de organizar num conjunto dramaticamente verosímil, refinado e primoroso, a verdade seca e rigorosa que foi arrancar ao pó dos arquivos! Só nesta articulação se decide o sucesso ou o insucesso do trabalho biográfico, muito mais difícil e exigente do que à partida se possa prever, se por exigência se aceitar a construção que toda a reconstituição requer. Assim julgue o leitor a peça que de seguida vai ler!
A CRIANÇA E A NOIVA ALQUÍMICA
Com a lucidez sobrenatural que o singularizava e que foi o toque do seu génio, afirmou André Breton que o espírito que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte da sua infância. Como quer que seja, não foram muitas as recordações de infância que nos chegaram de Mário Cesariny. Entre os livros que legou não há nenhum memorial de infância, como esses que todos os românticos puros restituíram, nem mesmo, de forma explícita e procurada, para já não pedir com meticulosidade de sistema, confidências dispersas sobre ela ou só de mera ocasião. É preciso catar nas entrelinhas, que são o acordar cataléptico das letras, e ler as entrevistas que deu, porta entreaberta para o insuspeito, para encontrar algumas alusões aos castelos desse mítico reino antigo que tem por nome infância e perceber que um dos livros cimeiros do poeta, Titânia, é para ser tomado como a recriação da atmosfera feraz e jovial que foi a da sua primeira idade lisbonina e da qual afinal nunca se desprendeu.
A certidão de nascimento de Mário Cesariny de Vasconcelos regista a sua vinda ao mundo na freguesia de Benfica, a 9 de Agosto de 1923, às 19 horas. A morada dada foi a Vila Edith na Estrada da Damaia, um chalé às portas de Lisboa, no meio dos montes calvos, porque os pais – Viriato Marques de Vasconcelos, beirão de Tondela, lojista e oficial de ourives, e Maria Mercedes Cesariny Escalona Vasconcelos (1891-1974), doméstica (assim diz o seu bilhete de identidade de 1931) – estavam de vilegiatura nos arredores campestres e saloios com as três meninas que então já tinham, Henriette, Maria del Carmen e Maria Luísa. A família vivia num prédio do centro da cidade, ao Martim Moniz, no início da Rua da Palma, ainda na vizinhança de São Domingos, numa malha que alguns anos depois seria arrasada pelo Estado Novo para dar lugar ao baldio careca que cindiu em dois o velho burgo da Mouraria, cerceando uma das parcelas mais corridas e azougadas da cidade, onde a folia abancava noite e dia nas vielas que ligavam as duas colinas – a da Rua do Capelão, na encosta do castelo, e a da Calçada de Santana, já a fugir para fora do perímetro da cidade velha. Na vastidão álacre desse mar humano rendera a alma Camões, ao que parece confiante em lugar tão rumoroso, e nos nichos recolhidos das tabernas cantara a Severa de seio nu e cravo de fogo na mantilha enquanto a vetusta nobreza se espolinhava a seus pés.
Numa entrevista tardia (Público, 30-11/1-12-2004), o poeta reconstruiu com algum pormenor essa primeira morada, que se torna assim, vista em retrospectiva a partir da idade adulta, um dos espaços eleitos do território mágico da sua infância. Revisitou-o pela importância que o lugar teve no seu imaginário e ainda porque o seu traço físico, a sua marca de pedra se apagara há muito e de forma irremediável nos destroços a que todo o quarteirão foi reduzido pela austera política do Estado Novo, nada afeito às loucuras dionisíacas do lado esquerdo da alma humana. Pela recriação percebe-se que se tratava dum prédio de vários andares, com loja no rés-do-chão, oficina num dos andares, escritório noutro e casa de habitação em cima. Aí viveu a sua infância e primeira juventude e aí formou e modelou o seu primeiro comportamento o meu biografado. Nada do que aí viveu e viu lhe saiu da alma – ficou para sempre filho do fado da mouraria e dos pregões da Praça da Figueira. O que há de lisboeta nos seus cantos, a luz branca que neles se encontra, essa aura que encandeia e cega para depois fulminar e que uns tantos quiseram filha dos versos Cesário de Verde, foi afinal no primeiro nicho da sua infância que o encontrou.
Embora homem de mister manual, o pai tinha cabedais que chegassem para trazer o prédio por sua conta. Sem veleidades mentais, sem requintes de cultura urbana ou de estudos, era como quase todos os do mesmo torrão natal homem prático e um pouco brutal, interessado no florescimento da sua arte e do seu negócio. A sua primeira mira estava no deve e haver da contabilidade que fazia no escritório e nas jóias que fabricava na oficina e vendia na loja. O resto corria-lhe ao lado. Ao invés, a mãe, estremenha criada em Hervás, um pueblo de casas caiadas e torre altiva de pedra nas faldas meridionais da serra de França, a norte de Plasencia, de paterna ascendência corsa, instruída, dada à música, fina conhecedora da língua de Racine, tinha outra palheta, mais vibrátil, mais rebelde ao vil metal, e que o filho chamou em socorro seu, como de resto chamará sempre a si essa estirpe materna que o leitor ainda conhecerá melhor, crismando-a em dedicatória póstera, no livro Pena capital (1957), “Mãe da Poesia”.
Outra recordação que ele puxou ao presente dessa sua primeira geografia encantada foi o espaço das praias nortenhas para onde a família se mudava nos três meses de Verão. Numa carta à pintora Vieira da Silva (Março de 1958; Gatos comunicantes, 2008: 44) conta com desvelo e pormenor as expedições que a família fazia à casa duns tios maternos que viviam na Póvoa de Varzim e que tinham também eles miúdos da mesma idade. Ele, o tio, doutor Vasques Calafate, era personagem sonante, que fazia um figurão de rei no pequeno povoado de pescadores que na época estival se transformava em estância balnear. Ela, Henriette Cesariny (1890-1964), irmã de Mercedes, era ave das Ardenas, espaventosa, cheia de brasa, que acabou por consumir o seu fogo à sombra das igrejas. Viviam bem, em casa espaçosa e central, com criadas e quatro filhos – dois rapazes e duas raparigas. Uma delas, Maria Helena, foi a alma gémea de Mário Cesariny. Era a mais pequenita dos quatro e alguns meses mais nova que o priminho, também o mais novo de quatro irmãos. Vibraram em tom igual e ligaram-se como peixe à água. Fugiam juntos pela praia de mão dada, às vezes dias inteiros, numa sede insaciada de frémito; passavam tardes escondidos no sótão da casa, muito juntinhos, remexendo velharias, paramentando-se de trapos caídos em desuso, deleitando-se em não serem vistos e em espiarem em silêncio através das frinchas da madeira os mais velhos.
Na carta à pintora, chama-lhe “a grande companheira da minha infância, tumultuosamente festejada”, uma espécie de protectora e de padroeira do seu sonho de criança. Nunca esta Helena foi esquecida pelo seu donzel; no final da vida ainda falava dela de alma em fogo, como quem reporta numa geografia imaginária um Éden celeste que se entreviu e logo se perdeu. Na entrevista a Miguel Gonçalves Mendes, para o filme “Autografia”, não se contenta em soletrar o nome, já de si mítico, Maria Helena, precisa de a paramentar com um alto atributo, “noiva alquímica”, o mercúrio que humedece o enxofre e prepara a estrela de oiro dos alquimistas. Também o espaço onde a vislumbrou, ou por instantes a alcançou, essa casa da Póvoa de Varzim onde os tios davam beija-mão, foi um dos motivos rodados do seu lembrar nas conversas que tinha com os próximos. A nota necrológica de José Manuel dos Santos (Público, 8-12-2006) – mais tarde prólogo de antologia (Uma grande razão – os poemas maiores, 2007) – testemunha bem a força votiva desta nortenha póvoa no recordar já final do poeta.
Outro ponto de peso nas confidências que deixou da sua infância é a sua relação com o pai. Na entrevista citada (Público, 30-11-2004), coloca o senhor Viriato no escritório do prédio da Rua da Palma a trabalhar muito esforçado nos livros da contabilidade, como se fosse essa a grande paixão da sua vida. O Verão passava-o a distribuir jóias pelo país e o Inverno era para lançar aos livros a mais-valia e vigiar oficiais e aprendizes na oficina. Só tinha um varão e depois de três meninas que pareciam as da fábula antiga, todas seguidas e de pouco intervalo, é de supor que já desesperasse quando o rapaz lhe surgiu em toda a luz e sensualidade dum Estio saloio. À mulher espanhola, exótica como um pássaro das florestas tropicais, deixava sem regatear as três filhas pimponas e fidalgotas, mas exigia para si o filho. Traçou-lhe logo a estrela: havia de seguir o negócio da loja e as tarefas da oficina. Fadou-o no berço e pôs-lhe na mão uma folha de oiro por destino. Seria ourives, comerciante e seu sucessor. O pai de Viriato, também ourives e lojista, assim fizera outrora com ele e fora pelo pai que primeiro abrira loja e oficina em Lisboa, onde acabara por ficar e casar pouco depois de chegada a República. Era agora a sua vez de fazer o mesmo ao filho. Para este homem simples tudo se repetia de pai para filho sem um sinal de interrupção. Muita da sua turbulência posterior e até algum do seu afastamento veio de verificar que este postulado que tinha por elementar não era verdadeiro
Depois das primeiras letras e do exame da conclusão do exame do 2.º grau de Ensino Primário Elementar, provas que concluiu aos dez anos, em 18 de Julho de 1934, o pai mandou-o à experiência para o liceu que lhe ficava mais perto, o Gil Vicente, nas traseiras do Largo da Graça. Bastava ao jovem tomar ao pé da Rua da Mouraria o Largo do Terreirinho, subir a escaleira que leva ao miradouro da Graça, atravessar o jardinete com a concha de água no meio, descer a Rua Voz do Operário e entrar no liceu, que era ainda o vetusto, a funcionar no casarão assombrado das traseiras de São Vicente, enxameado outrora de frades. Era uma criança com certas reservas, habituado apenas às expansões do gineceu de seda onde a mãe Mercedes mandava com figura de rainha, uma rainha boa e doce que governava com uma pauta de solfejo, e ele era recebido no meio das três irmãs como um príncipe hermafrodita que merecia todos os mimos. A beleza física de que se gabou como um filodemo ao longo da vida, e que na adolescência tomou proporções de terramoto, foi aí que a ganhou. Em carta não se importou de declarar (a Laurens Vancrevel, 11-6-1970): “fui muitíssimo (formidavelmente) belo!” Uma tal formosura ou é favor dessas eternas crianças que são os deuses ou empréstimo feminino.
Nesta época, já o conflito edipiano com o pai se desenvolvera. Diz ele na entrevista que ao regressar do liceu, gaiato de onze anos, muito menino de casa e de gineceu, passava pé ante pé no andar em que o pai trabalhava, de modo a não se fazer notado. Enganava-o o mais que podia. Não queria contas nem balcão; só o magnetizava o entretenimento do casulo feminino. Havia por lá um piano negro, de cauda, onde as irmãs aprendiam o trivial de qualquer menina da Baixa. O seu gosto pela música era tão afirmativo que frequentou a antiga Academia de Amadores de Música – e com muito mais ganas que o ginásio do Ateneu Comercial de Lisboa, na Rua das Portas de Santo Antão, a dois passos de São Domingos, em que também foi assíduo mas sem qualquer paixão. Atravessou assim vezes sem conta a velha Praça da Figueira, a ferver de vida, com as vendedeiras de canastra, os pombos que iam a Almada levar recados e os coelhos que liam a sina, as carroças que chegavam de Sacavém e dos Olivais. Tudo isso se lhe colou para sempre à vida e até à forma de falar. É possível ler os seus trabalhos plásticos a partir desta sua Lisboa primígena. Há cores que parecem reinventadas para recuperar uma tonalidade que a evolução da cidade soterrou para sempre.
Fosse como fosse, os espaços próprios do pai Viriato no prédio da Rua Palma, sobretudo os da oficina, não foram vinha vazia. Esse nicho onde se lavravam os metais preciosos, expondo uma panóplia de instrumentos orgânicos, vasos, moldes, tenazes, foles, ferros e alicates, calaram fundo na tenra cera do imaginário em formação do meu biografado, que deles se apropriou e a eles recorreu para elaborar imagens e vazar emoções. Essa oficina, onde o fogo estava quase sempre aceso na chaminé, foi ao lado do piano a flâmula mais temida e hipnotizante do castelo da sua infância, verdadeiro recanto onde se cultuavam os manes com todo o horror devido aos mortos. Mais tarde, na idade adulta, quando pôs no papel alguma da sua vida onírica mais impressiva, os sonhos que repescou da infância foram os que se centravam na oficina do pai – e não no piano da mãe. Pelo que emprestam de cor e de cheiro à sua primeira idade, pelo que restituem de vida emotiva e sentimental à sua infância, paga a pena espreitá-los pela janela larga da sua escrita (“Passagem dos sonhos”, 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão…, 1971: 31): Em criança sonhava com um recanto escuro da oficina do meu pai onde havia um fole accionado a pedal, e, numa velha armação de madeira, um grande pote de barro para onde escorriam as decantações ácidas da prata e do ouro fundidos, o total ladeando a chaminé que dificilmente expelia o cheiro dos resíduos um ano conservados em água suja. Nessa chaminé, o meu pesadelo criava uma aranha, ou algo que a escuridão revelava assim; poderia ser também uma presença humana, para a qual eu era irresistivelmente atraído. Mas o horror, aqui, era o preço da curiosidade, desfeita sempre, pelo meu acordar antes de atingida a zona maléfica.
Pouco durou a vida de liceu. O pai não o queria universitário nem liceal – mas tão-só ourives. Diz o filho na citada entrevista que tudo o que o pai desejava era ter a bitola alta ou baixa da inteligência do filho e assim à experiência o enfiou no velho passadiço vicentino no ano de 1934/35. Saiu a contento da prova, pois a única classificação negativa, a única excepção foi em matemática e mesmo assim dentro de estragos limitados; obteve um discretíssimo nove no primeiro período, que recuperou nos seguintes. As classificações restantes, não sendo altas nem brilhantes, foram positivas. Num texto de homenagem a Bento de Jesus Caraça sobreviveu caricata recordação do professor que então regia meninos na disciplina de matemática no velho Liceu Gil Vicente. Diz ele (J.L.A., Julho, 1968; As mãos na água…, 1986: 162-3): a leitura desta última obra [Os conceitos fundamentais da matemática], como a de outras de raiz idêntica que depois tentei ler, de outros autores, foi-me estragada, horrivelmente, pela maneira de matéria que me meteram à força na cabeça, desde a aritmética, desde a tenra idade; nunca mais pude abordar tal terreno sem ouvir um som martelo a cair num poço e sem ver reaparecer a cara isósceles do último professor (…); quanto ao primeiro, no Liceu Gil Vicente, um idoso que no fim do ano foi apoteoticamente reformado, devia de ser bom, usava um espelhinho redondo para ver, enquanto escrevia no quadro, o que é que os rapazes faziam nas costas dele, e a mim apanhou-me não sei já em que inocência que me pôs a chorar convulsivo a chorar para o resto da aula (…).
As classificações positivas do miúdo satisfizeram o ourives. Remeteu-o para a escola de artes decorativas António Arroio, na Rua Almirante Barroso, entre o bairro de Dona Estefânia e o Largo do Matadouro, a cursar cinzelagem, que era para ele, pai, o primeiro degrau no tirocínio da joalharia. Acentuou-se então o conflito edipiano entre filho e pai, não que os estudos do rapaz não fossem satisfatórios – obteve 19 em português e geografia no exame final de habilitação à Escola Superior de Belas Artes – mas porque a sua aversão ao ofício paterno, antes de mais no deve e no haver que se fazia no patamar da contabilidade, era cada vez mais vincada e irreversível.
Um último ponto sobre a infância de Mário Cesariny. Na entrevista já citada afirmou que o seu interesse pela poesia começou aos 18 anos, fora já do âmbito da sua primeira idade, mas também dá a entender que tinha o hábito de ler desde criança. Bosqueja mesmo uma história, que paga a pena reproduzir. Um dia, passando por um estanco da Rua da Palma – o proprietário chamava-se Albano de Sousa –, viu na pequena montra um livro atraente. Na capa uma chibata e um rosto humano sofrido. Pensou tratar-se dum cativante livro de aventuras subsaarianas e comprou-o. Leu-o e foi assaltado por uma luz fortíssima, que o abalou até às raízes. Acabava de ler Recordações da casa dos mortos de Dostoievski. Foi – diz ele – o ponto de arranque de tudo o que mais tarde se seguiu no campo dos livros e do pensar. Nunca até hoje se atribuiu qualquer importância a este livro na história pessoal do meu biografado. O homem primitivo de Dostoievski, o homem puro, isento de pecado original, o homem espírito, associal, feito de pulsões essenciais e estruturantes, foi porém o arquétipo duradouro e resistente que o acompanhou ao longo da vida – aquele que reemergiu sempre nas novas formas e nos novos nomes que ele foi descobrindo e adoptando.
Deste primeiro período da vida de Mário Cesariny pouco mais se sabe. Dele se regista um triângulo que tem por vértices a beleza, a rebeldia e a paixão da música e dos livros. São as lembranças empolgantes e secretas da prima da Póvoa de Varzim, a antipatia e o medo que criou ao pai e ao dinheiro, o arrebatamento que lhe dava o piano e a leitura, esta selvagem e orientada quase pelo acaso. São três lados iguais, que se equivalem, no céu irresoluto desta primeira vida. Se a infância é o reino ígneo das hipérboles fantásticas, em que mesmo o inverosímil capricha em se apresentar em pessoa, então é nela que se forma a índole do ser adulto. É na infância que se ganham para sempre os comportamentos estruturantes duma vida, que são em geral a primeira resposta adulta à visitação dos prodígios. Pense-se por exemplo no Mário em menino, bonito como um anjo da corte celestial, nariz ligeiramente arrebitado, lábios tetragonais, grandes e sensuais através dos quais resplandecia o marfim delicado dos incisivos superiores, olhos húmidos e negros, a chorar convulsivamente por via dum papão chamado matemática! Que é isso, senão o embrião da futura relação do poeta com o mundo moderno e com o numeral autoritário deste.
Mário Cesariny fez 18 anos em 9 de Agosto de 1941, em plena guerra mundial. Pela correspondência postal que então trocou com um amigo da mesma idade que conhecia desde o Outono de 1935, seu colega nas aulas da escola da Rua Almirante Barroso, Artur Manuel do Cruzeiro Seixas, sabemos que estava de vilegiatura na casa do doutor Vasques Calafate, na Póvoa de Varzim, o que não é de estranhar conhecendo o hábito estival que lhe vinha de menino e era comum à família. Estudava ainda na escola António Arroio, no curso de habilitação à ESBAL, onde se formara um círculo que fraternizava e evoluía em conjunto, Fernando José Francisco, Cruzeiro Seixas, António Domingues, Pedro Oom, Fernando Azevedo, Marcelino Vespeira, José Leonel Martins Rodrigues, Júlio Pomar, João Moniz Pereira, e outros. A poesia chegou-lhe nessa altura – assim o afirma na entrevista atrás citada. Escreveu uma primeira rajada de poemas, que confessou ter destruído por os achar muito maus. O conjunto não viu, pois, a luz nem o suporte original em que o escreveu – cadernos, folhas soltas, à mão ou à máquina – sobreviveu.
A publicação da correspondência do meu biografado para Cruzeiro Seixas deu a conhecer alguns dos poemas escritos nesse período e que coincidem por certo com aqueles a que ele aludiu na entrevista de 2004. Ainda em 1941, Mário Cesariny envia para Cruzeiro um conjunto de textos em prosa (carta de 21-8-1941) e em verso (carta de 28-8-1941), que serão no terreno fixo do escrito o que de mais arqueológico dele até nós chegou. Acabara de perfazer 18 anos e de conhecer uma jovem que virá a ter um papel crucial no seu futuro imediato, Maria da Graça Amado da Cunha, pianista, que lhe abriu os novos céus da música e lhe apresentou pouco depois Fernando Lopes Graça, que o jovem tomará como primeiro mestre. É ele que assim o dá, “A Fernando Lopes Graça/ meu primeiro mestre”, na edição original de Nobilíssima visão (1959), dedicatória que desapareceu nas seguintes. Aos textos de 1941 junta-se novo conjunto em 1942 (carta de 2-12-1942) e em 1943 (carta de 18-9-1943), a que se poderá ainda somar, por uma mesma atmosfera do verso e da linguagem, tão própria como precisa, a parcela enviada em 1944 (carta de 21-8-1944), esta a mais elaborada e extensa. Nenhum destes conjuntos sobreviveu em publicação ulterior e é de crer que se então não tivesse dado cópia nenhum teria chegado ao presente. Trata-se assim duma primeiríssima juvenília, que só uma circunstância ocasional e favorável preservou.
Que nos dizem estes poemas? E que nos informam eles sobre aquilo que terá sido o primeiro tirocínio poético de Mário Cesariny? É preciso dividi-los em dois grupos: os textos em prosa de 1941, que podem ser encarados como croniquetas, e os restantes em verso. O primeiro grupo, constituído por cinco composições em prosa, que ele chama “impressões curtas mas verdadeiras sobre o que tenho pensado e visto”, dá a ver um pulso ágil, notavelmente precoce e seguro na exposição de situações, na notação de casos reais e na expressão dos nós interiores. De resto as cartas que então escreveu a Cruzeiro Seixas e que fazem parte desse primeiro conjunto de escritos que hoje existem de Mário Cesariny mostram uma desenvoltura expressiva, uma fluência rítmica, um boleio da frase leve e brincado, tão solto como vigiado, que apetece aproximar do admirável. Sente-se nessas primeiras e precoces letras, escritas à margem de qualquer preocupação de posteridade, pura expressão da amizade de adolescentes, um virtuoso da escrita, capaz de manobrar a seu talante o instrumento da língua. Ainda hoje essas letras não secaram e nos parecem frescas. Há nelas um viço que não murchou e uma água que ainda flui numa corrente sonante, límpida e harmoniosa.
Os poemas em verso impressionam por sua vez pela individualidade que manifestam. Chamo individualidade ao sentido do irreconhecível. Ao lê-los é impossível captar as sombras e os espectros que se moviam nos seus bastidores. Nenhum eco definido, nenhuma máscara alheia. O que se lia então em Portugal? José Régio publicava em 1941 Fado; no ano anterior, Nemésio editava Eu, comovido a oeste. Pela mesma altura, arrancavam os Cadernos de Poesia e surgiam as estreias de Tomaz Kim (1939; 1940) e de Ruy Cinatti (1941). Alves Redol publicava Gaibéus (1940). Um ano depois surgia em Coimbra a colecção Novo Cancioneiro que publicou num único ano Terra (Fernando Namora), O homem sozinho na beira do cais (Mário Dionísio), Sol de Agosto (João José Cochofel), Aviso à navegação (Joaquim Namorado), Os Poemas (Álvaro Feijó), Planície (Manuel da Fonseca), a que se seguiram três livros no ano seguinte, Turismo (Carlos de Oliveira), Passagem de nível (Sidónio Muralha) e Ilha de nome santo (Francisco José Tenreiro). Fernando Pessoa chegava nesse mesmo ano, em 1942, com a edição da Ática.
Eis de forma sumária o que então se lia como novidade no minifúndio português do limiar da década de 40. O resto era o ramerrão poeirento das selectas escolares, com trechos de Garrett e de Herculano, os sonetos de Bocage e de Antero, as tiradas líricas de António Nobre e de Junqueiro. Nada disto terá sido alheio ao jovem que então fez o seu tirocínio e passou ao papel os primeiros versos. Era um rapaz que procurava explicações, disposto ao discurso e por isso à leitura apaixonada, sedenta, variada e sem direcção. Numa carta a Seixas (28-8-1941) tanto cita o Apollinaire de Alcools como de seguida o Gil Vicente do Breve sumário da história de Deus. Noutra (25-8-1941) discorre sobre a história da ciência com alusões a Newton, Kepler, Le Dantec, Comte, Abel Salazar, para passar ao que ele chama os músicos pós-impressionistas, com lucubrações sobre Schönberg. O que pasma é que nenhum ponto deste magma escaldante, a ferver, suba à superfície dos seus versos. Aquilo é dele e da língua que nele tinha. Não obstante a voz pessoal, os versos são incaracterísticos. Não chegam para mostrar uma identidade nem afirmar um caminho. Ninguém pode acusar os versos de pastiche mas falta-lhes o inconfundível, um estilo impositivo e rutilante que o demarque da cor baça da época e o ponha a cintilar no céu rarefeito dos poetas. São apenas gaguejos de recém-nascido. Não repetem ninguém, não são obra falsa nem de ventríloquo, e não são por esse motivo versos maus, mas o que são é tão elementar, tão embrionário que o timbre da voz do poeta ainda não se distingue. Que valor terá para a música coral o primeiro vagido duma grande cantora lírica? Assim estes versos do meu biografado.
De resto, o jovem Mário Cesariny que escreve estes primeiros versos não é poeta por um desejo consciente e voluntarioso. É poeta por surpresa. Ele não quer à força aparecer no mundo como autor de versos – ansioso por se gloriar e distinguir com os louros viçosos com que a poesia, ou a representação social dela, coroa os seus dilectos filhos. É poeta por uma inexplicável imposição do exterior que o esmaga de forma inexorável. É isto que ele confessa numa das primeiras cartas a Seixas (21-8-1941): Que sou poeta? Mas eu odeio a poesia! Eu não a trago, facho triunfante, dentro de mim, é ela que me arrasta e me comanda! Como eu deitaria fora esse carrasco mascarado! O que então cativa a sua vontade, o que o puxa e ele força, a porta onde deixa as suas premissas e bate as suas ansiosas pancadas, a casa onde pede entrada é a da música – essa sua velha mansão encantada desde os tempos em que abria muito os olhos com as manas em redor do piano e subia à Rua Nova da Trindade pelas escadinhas do Duque para as aulas de solfejo. Ama a música, não a poesia, e trá-la dentro de si como um fogo que o ilumina. A presença material do universo musical terá sido tão avassaladora nesta época que mais tarde quando recupera uma lembrança dos 16 anos e abre por instantes a cortina do seu passado, deixando à mostra o que lá havia, o que se vê em lugar bem propínquo é quase só música (Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o Castelo Surrealista, 1984: 58): Acho curioso que eu, então com 16 anos, tenha guardado da Exposição do Mundo Português em Belém apenas duas insistentes memórias: uma carruagem de caminho-de-ferro que era um ciclorama; e um recital de piano, Chopin, por Malcunzinski. Durante o recital, o calor sob os gessos era de morte e na execução estalaram duas cordas, uma de cada vez, com fragor imortal. Era a sonata em si bemol menor.
Daí o desmedido lugar que Maria da Graça Amado da Cunha e logo Francine Benoit e Fernando Lopes Graça – uma pianista intérprete e dois compositores – tiveram no final da adolescência de Cesariny. A poesia é só uma aparição, uma imposição inesperada que lhe surge de supetão, do exterior de si, ao virar da esquina da alma, e diante da qual ele não pode, mesmo querendo, oferecer sinal de resistência. É obrigado a corresponder passivamente a qualquer exigência, a obedecer à mais ínfima ordem desse inesperado ser que se chama Poesia e que tanto tem da rainha que é tirana como da sedutora que é maga. Reside aqui, neste entendimento do poema como acto cego, descarga eléctrica exterior, em que o poeta é receptáculo passivo e não agente, um nódulo crucial da arte poética de Mário Cesariny. Permanecerá sempre fiel à mesma ideia. Nunca ela, a poesia, deixará de ser para ele uma entidade autónoma, própria, com poderes adiantados e privilégios distintos, um ser exterior ao poeta, que comanda expedita, a seu bel-prazer, as operações do poema. Mais de 65 anos depois de dizer na carta a Seixas que a poesia, não o poeta, é que nele comandava o processo criativo, afirmará o seguinte (Expresso, 1-12-2006): A poesia é um segredo dos deuses. Não é trabalho, embora às vezes se possa morrer de trabalho. Creio que sou um poeta inspirado, no sentido romântico de “daimon” – génio. Isto só prova como na idade auroral da sua adolescência, quando uma força irrecusável o empurrou a deitar ao papel os primeiros poemas, os versos foram nele autênticos – só dele.
A opção radical pela música, a que se somou o encontro ocasional com a necessidade de escrever poemas, agravou muito o seu conflito com o pai. Estava a caminho dos 20 anos e o ourives queria-o à banca de trabalho e nos livros de contabilidade. Ele, que criara desde cedo o hábito de fugir ao pai, só pedia piano e livros. Mesmo a escola, onde se manteve até ao ano lectivo de 1942/43 pouca atenção lhe mereceu neste período. Faltava às aulas para ter lições na Academia da Rua Nova do Trindade, e depois em casa de Lopes Graça, assistir a saraus musicais e frequentar um Café há muito desaparecido, o Herminius, na Avenida Almirante Reis, cerca da Praça do Chile, onde se reunia a trupe da escola das artes decorativas. Certo de lhe dobrar a espinha, o pai recusava-lhe a bolsa e deixava-o na penúria. Era a mãe que o socorria com uns tostões. Também Lopes Graça, professor de piano e composição na Academia de Amadores de Música, o ajudava, dando-lhe lições de graça e integrando-o no coro que então regia. O convívio com Lopes Graça levou-o a conhecer em 1943 Bento Jesus Caraça, de quem foi aluno ocasional na Universidade Popular, e a quem 20 anos mais tarde ainda preiteava. Não tardou a comprometer-se na política anti-salazarista, já que o recuo progressivo do nazi-fascismo, a previsível derrota das potências do Eixo, a vitória das democracias e a consolidação da União Soviética como grande potência trazia a expectativa da derrocada para breve do fascismo em Portugal e em Espanha. Com apoio material e moral de Moscovo, o Partido Comunista Português fazia por se apresentar como a única força organizada que oferecia uma resistência real à situação existente. O futuro tinha de passar por ele – dizia; por isso nos anos finais da guerra, em meios frequentados por juventude conotada com o reviralho, como eram os da Academia de Amadores de Música e os da Universidade Popular, o partido contava com uma onda de simpatia onde colhia as adesões que podia enquadrar. O jovem discípulo de Lopes Graça foi um dos que aderiu. O período activo da adesão com tanto de lendário como de escondido terá tido lugar entre o primeiro semestre de 1944 e o Verão de 1945. Além da memória que o seu autor dela deixou, não sobreviveu nos recessos da época tão esconsos como capciosos qualquer registo digno de nota dessa adesão activa.
O dissídio entre pai e filho foi tão dilacerante que a família se rasgou e o pai ficou para um lado e a mãe para outro. Coincidiu com esse período a necessidade de a família abandonar o prédio da Rua Palma, dentro da área da Mouraria a abater. Mudaram-se então, no final de 1942, para a Palhavã, perto da confluência da Praça de Espanha com o início da Estrada de Benfica, hoje Rua Lima Basto, para o último andar dum prédio de esquina, de dois andares, sem elevador, na Rua Basílio Teles, que ainda lá está, igual a tantos outros construídos na década de 30. Era uma casa nova, num bairro sossegado da periferia, com casinhas baixas, de dois andares, todas iguais, a poucos passos do Jardim Zoológico e da mata de Benfica, com o vaivém constante dos eléctricos diurnos para o centro da cidade na Estrada de Benfica. Por perto, só mesmo algumas hortas, os restos dum antigo hipódromo, os chalés hieráticos e solitários da futura Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e os terrenos carecas onde se erguia majestoso e jesuítico o novo Instituto de Oncologia. Foi nessa casa que a família se instalou, a bem dizer já sem o senhor Viriato, que só lá ia de visita, fazer contas e arreliar a mulher, o filho e as filhas – duas já então casadas e com filhos e que desde então o passaram a detestar. Uma, a mais velha, na intervenção que tem no filme de Miguel Gonçalves Mendes não se contém e grita irada: “Odeio-o! Odeio a memória dele!” Henriette gritava assim contra o pai 60 anos depois dos eventos da Rua Basílio Teles. Com os olhos verdes em fogo, ainda lhe ouvi dizer que o pai estava a arder nas profundas do inferno. Para se odiar ao fim de tantos anos desta forma e com tanta raiva é preciso que a força do mal tenha sido abrasadora. A memória, a tantas décadas de distância, é um lenitivo, nunca uma punção de dor. Alguém dizia que um demónio filtrado pela peneira do tempo se acaba sempre por metamorfosear em anjo. Não duvido mas há casos extremos em que a memória se torna um trauma insuportável. O irmão na última entrevista que deu, levantou o véu sobre as arrelias da Rua Basílio Teles (O Sol, 7-10-2006): Não me dei com o meu pai, claro. Nenhum de nós se dava bem com ele. Quando casou com a minha mãe, gostava muito dela, mas depois não sei o que aconteceu. Talvez fosse o feitio dele. Batia-lhe. Éramos quatro filhos atrás da mãe, a defendê-la do pai. Por sua vez, Cruzeiro Seixas, que procurou muito o amigo no andar da Palhavã quando ele para lá se mudou e auscultou por dentro a vida da família, afirmou sempre que naquela casa se “falava aos berros” e se “batiam as portas”.
Quem vive o inferno em tenra idade torna-se cínico como um diabo ou inocente como um anjo. Nunca conhecerá, porém, o meio-termo humano, que só se acomoda ao artifício e à ordem fria e forçada da razão, nunca às cintilações do caos.
O GATO ILEGAL
Aceder aos bastidores dum poeta autêntico é como visitar as caves dum grande museu. Estão lá arrumadas a um canto algumas tábuas esquecidas que as paredes já não comportam. Em ocasiões especiais vêem a luz do dia e mostram-se então tesouros de estimação que emprestam novo sentido ao que as rodeia. Assim a bagagem secreta dum poeta recompõe as suas letras e põe um raio de oiro no que antes se apagara. Temos a sorte de possuir a chave que nos permite abrir a porta da antecâmara onde Mário Cesariny guardou alguns dos seus segredos. Há alturas em que não bastam os poemas dum autor, sobretudo se são indistintos; é preciso conhecer a tralha que lhe associou, as leituras e as reflexões que fez, as escolas e os autores que correu e amou, para se perceber como se deu a sua evolução e se processou a génese da sua idade madura.
Na nova casa, o meu biografado ocupou o quarto em frente da entrada, com duas janelas para a rua, onde instalou cama, livros e piano. Era a cela nua de Chopin num pobre povoado das Baleares! Ou numa gruta das Berlengas! Há quem se lembre dele a tocar como um doido, de janelas abertas, no Verão, até altas horas da noite. Ao alto da Praça de Espanha já se lhe ouvia o piano a irromper do silêncio, que ali, numa noite quente de Estio, com as estrelas a cintilar na escuridão do céu, os ralos a grilar na palha seca dos campos que ainda havia por perto, e a linha de comboio ao fundo, era no início da década de 40 do século XX quase campestre.
Numa carta a Cruzeiro Seixas (7-9-1943) confessa que, não obstante as tergiversações a que a criação o obriga, conduzindo-o por onde não deseja, é o classicismo como concepção harmónica das partes que o atrai e se lhe apresenta como a expressão ideal em arte. À imagem dum sistema fechado em que os planetas giram em órbitas regulares à volta da sua estrela, o clássico é o que vem depois. Reordena e estabiliza a desordem da criação inicial numa nova forma de equilíbrio. Supõe a beleza como meta final e a forma como processo. É uma arte da consciência e da superfície, toda ela fruto do trabalho e da fidelidade a uma direcção, a um equilíbrio estável e ordenador. Ora o curso ziguezagueante que o jovem Cesariny conhecia, e que melhor o caracterizava, não parece compatível com a atracção pelo clássico, que lhe pode ter sido instilada pela leitura que então fez – era inevitável – das poesias de Fernando Pessoa e dos heterónimos. Seja como for, o aprumo frio e áspero da forma acabou por lhe marcar uma parte da criação poética da época a que teremos ainda ocasião de regressar, pois foi ela que o autor escolheu como ponto de partida da sua obra publicada, quer dizer, aquela que entre as suas primícias de 1942-44 ele decidiu salvar da destruição.
Numa outra carta a Cruzeiro Seixas (21-8-1944), e numa época em que se assume já como poeta, pelo menos para os dois amigos mais próximos, Cruzeiro Seixas e Fernando José Francisco, acabou de ler Irene Lisboa e Vitorino Nemésio e não resiste em apreciá-los. São singularmente ricas as suas considerações críticas sobre a experiência poética de Irene Lisboa, uma mulher que publicava com um nome masculino, João Falco, e que por isso só podia desagradar ao ditador do Terreiro do Paço. Que diz ele? Que Irene Lisboa comete o milagre de escrever uma poesia sem técnica, ou com uma técnica de tal modo reservada e escondida que não se vê. É assim possível exprimir uma emoção que em geral os poetas muito dotados de estilo não conseguem, já que a linearidade escultural da forma se sobrepõe ao alvoroço da comoção. Eis como ele o diz (Cartas de M.C para C.S., 2015: 51-53): A João Falco não interessa, segundo me parece, a forma nem o estilo. Escreve e é tudo. No entanto eu vejo nela a autêntica e tão rebuscada poesia pura, sem disfarces nem enfeites e essa maneira é tão sincera como perigosa. Pois o que salva o pintor, o músico, o poeta, não é ainda e sempre a forma? (…) Ora é isto mesmo que nenhuma atenção merece à João Falco. Fala sem ligar meia ao estilo, à forma, à beleza, a nada. Nela nem sequer o esforço para dizer tudo. Se saiu bem, se não saiu, melhor. (…) Nos seus versos nenhum subterfúgio ou expediente, nenhuma técnica que justifique a palavra “arte”. (…) Tal abandono, tecnicamente perigoso, eleva-a por vezes a um estado emotivo tão grande que assombra.
Na altura em que formulou estes juízos, o meu biografado acabara de fazer 21 anos, aniversário simbólico, já que marcava na época a chegada à idade adulta. O que impressiona é a maturidade de reflexão sobre o fenómeno poético. Não que tenha lido tudo ou mesmo muito – numa carta a Cruzeiro Seixas (1-12-43) confessa ainda assim conhecer autores como Jane Austen, Henry James, Gide, John dos Passos, Thomas Mann, Huxley e Steinbeck – mas tem uma segurança de análise e um léxico que lhe permite compreender com clareza e um indiscutível alcance universal o fenómeno poético. Está consciente que em arte a emoção exige um suplemento de forma e que é nesta que o artista se revela e se trai. Possui assim as chaves que lhe dão acesso a decifrar qualquer poema e qualquer criação artística. Emoção e forma, termos que permutam aqui com arte e vida, permitem-lhe assim tomar o caso de Irene Lisboa por excepcional. Trata-se duma poesia sem qualidade formal, o que segundo o sistema do jovem crítico só por tal motivo estaria condenada a não existir. O milagre está em que, por via dessa negação da arte e da forma, negação que é um processo de consciência e não a expressão duma inabilidade, os poemas de João Falco são capazes de tocar a pura poesia que outros poetas com muito mais estilo e forma tentam em vão alcançar. Há nesta serpente que morde a cauda algo de premonitório em relação à experiência poética ulterior do autor da carta, também ele maximamente interessado em negar de forma consciente e sob vários nomes a forma – ou a forma pela forma.
Mas não é isso que para já aqui importa. Por ora interessa notar que alguém tão dotado e tão seguro no campo da leitura crítica, tão consciente dos valores universais que constituem a experiência criativa e com um léxico analítico tão apropriado ao encadeamento da sua expressão, não podia estar longe de se revelar em letra redonda como crítico. De feito, não foi preciso esperar um ano para o encontrar a subscrever textos críticos, se bem que na crítica de arte, num suplemento artístico, “Arte”, dum vespertino portuense, A Tarde.
Antes de observarmos esse conjunto, o primeiro que ele deu a público, sua estreia absoluta em letra de caixotim, regresse-se por um momento ao grupo da escola de artes decorativas António Arroio e ao Café onde se reunia – o Herminius. Todos os componentes do círculo estavam perto dos 20 anos; todos se interessavam pela arte e pelos seus problemas; todos praticavam a pintura, o desenho e a escultura, cuja formação seguiam na escola; todos liam com paixão – alguns chegaram a ser vexados por roubarem livros na desaparecida livraria Portugal, na esquina da Rua do Carmo com a Rua de Santa Justa. Cinco deles – Júlio Pomar, Marcelino Vespeira, Pedro Oom, Fernando Azevedo, José Maria Gomes Pereira – organizaram mesmo em 1943 uma exposição dos seus trabalhos pictóricos num quarto da Rua das Flores, ao Chiado. Os debates entre eles eram acesos. Precisavam de se perceber e de saber para onde queriam ir; tinham de se posicionar ante as correntes artísticas e os grupos do tempo e do espaço português, antes de mais toda a parafernália que vinha do princípio do século, como Orpheu e Presença, com muitos membros ainda activos e que todos os dias se mostravam, subiam o Chiado, frequentavam os cafés, faziam exposições, editavam livros, surgiam nas páginas dos jornais a dar entrevistas e a subscrever artigos. Eram então em Portugal a arte conhecida e até promovida em termos oficiais através do secretariado de António Ferro. Almada Negreiros, que tinha um nome quilométrico que chegava a Madrid, chegou a passar pela exposição do grupo na Rua das Flores, comprando um desenho a Júlio Pomar, um dos mais novos do círculo, então com 17 ou 18 anos.
Outra corrente então viva, se bem que numa marca não oficial e apenas nascente, era o neo-realismo. Fora surgindo, deixando os subterrâneos, na segunda metade da década de 30 como reacção ao esteticismo clássico e modernista de Presença e às vanguardas ultra-modernistas dos primeiros anos do século. Tinha antecedentes nas sobrevivências e nas metamorfoses do naturalismo oitocentista, que nunca desaparecera de todo e se mantivera activo na literatura operária da primeira República donde saíra um escritor tão afirmativo e surpreendente como Ferreira de Castro. Os romances de Alves Redol e Soeiro Pereira Gomes e depois o aparecimento duma nova geração coimbrã, a do Novo Cancioneiro, surgida em 1941, consolidaram a nova corrente, dando-lhe um estatuto de primazia e afirmando-a como a mais promissora novidade em arte. Em Lisboa, na Academia de Amadores de Música, interpretavam-se compositores soviéticos como Davidenko e Chostakovitch, que seguiam as directivas do realismo socialista, que por sua vez haviam servido de base à afirmação do neo-realismo português no início da década de 40. Ora a Academia de Amadores de Música e o grupo do Herminius, por muitas diferenças que mostrassem de forma, eram vasos comunicantes, cujos líquidos regulavam sempre pela mesma altura. Basta isto para justificar por si só a adesão do grupo ao neo-realismo e às acções políticas correlativas – luta contra o fascismo e apologia indefectível da União Soviética.
Esta adesão aconteceu no ano de 1944, que foi ainda aquele em que o meu biografado, à beira de chegar à maioridade, perdeu o vínculo à escola e ficou entregue a si mesmo, seguindo lições e passos de Lopes Graça e dando adesão ao Partido Comunista. Era um rapaz com excesso de dom e paixão para poder seguir o curso vulgar da existência, que se resume nas sociedades clássicas e modernas à rotação dum eixo, em torno do qual giram os dois bens essenciais da vida social histórica – família e trabalho. Tal como o jovem Antero quando fechou o curso de leis em Coimbra se sentiu incapaz de seguir uma carreira de juiz ou de administrador, também o Cesariny que chegou à maioridade no ano de 1944 achou impensável empregar-se num banco, numa secretaria ou num balcão de loja, ao mesmo tempo que procurava uma pequena do comércio ou das secretarias para ter filhos. Era esse o destino comum dos rapazes que tinham então a sua idade e se procuravam livres dos pais; não podia ser o dele, que tivera já várias paixões homossexuais, uma delas, absorvente e quase mística, cantada nos versos que copiou e enviou a Cruzeiro Seixas, e que afastara sempre de si o jugo paterno. O heterossexual estava para ele demasiado ligado à figura paterna – Cruzeiro Seixas sempre contou que Viriato Vasconcelos meteu o filho adolescente num quarto com uma prostituta, o que o desgostou para sempre – para o poder aceitar e seguir. Do mesmo modo, um emprego de secretaria ou de balcão nada mais era para ele do que um desperdício clamoroso do entusiasmo em que fervia. As acções musicais de Lopes Graça, então com um poder de atracção muito grande sobre a juventude, o Partido Comunista e a defesa dos propósitos da nova arte, o neo-realismo, pareceram-lhe empresa suficientemente grande e entusiástica para aplicar e merecer o fogo do talento que nele ardia.
No grupo que se reunia no Café Herminius surgiu a possibilidade de se organizar e manter um suplemento cultural num vespertino do Porto. À cabeça surgia Júlio Pomar, então a estudar na capital do Norte, mas sempre em contacto com o restante grupo de Lisboa. Coube-lhe dirigir a folha, “Arte”, que se começou a publicar aos sábados no início de Junho de 1945, integrada no jornal A Tarde, quando acabavam de ter lugar em Lisboa e um pouco por todo o país as manifestações populares de regozijo pela capitulação incondicional da Alemanha. Dos colaboradores, Júlio Pomar era o único que havia já comparecido nas páginas do jornal. A maioria – Pomar, Vespeira, Azevedo, Cesariny, Oom, Fernando José Francisco, José Leonel – saiu do círculo que se reunia no Café da Almirante Reis e é de crer que muita colaboração resultasse dos debates que entre si mantinham. O primeiro linguado de Cesariny apareceu a 30-6-45, no quarto número do suplemento e a sua presença manteve-se a partir daí regular até ao final da folha. O derradeiro, o sétimo, surgiu quatro meses depois, a 20-10-45, no vigésimo suplemento “Arte”, fechando o jornal seis dias mais tarde, numa sexta-feira, talvez por insolvência. Durou 290 números. Com excepção do último texto, “Nota sobre 3 músicos”, consagrado à música soviética, todos incidem sobre pintura, embora muitas considerações feitas possam ser aplicadas à arte em geral. Este jovem tinha uma formação exigente e possuía um rico e variado chaveiro que lhe dava acesso à compreensão universal dos fenómenos artísticos, o que não significa que estes textos não apareçam manchados por afectações e insuficiências, que levarão a que o seu autor mais tarde os arrume como “bastante maus” (“Tábua”, Mário Cesariny, 1977: 45). Os seis artigos obedecem a uma lógica interna, a um fio pré-estabelecido, e vão-se sucedendo como peças autónomas duma construção que só no final completa o seu sentido. Cada um deles é só um ponto do conjunto mais geral.
Em resumo dizem o seguinte: a arte do presente é individualista e está divorciada do público, que lhe voltou costas (“O Artista e o Público”, 30-6-45); é preciso conhecer os movimentos artísticos do século XX, como o cubismo e o futurismo, que fizeram uma revolução estritamente formal, no campo técnico, sem mexer nas ideias, para se perceber como se chegou à actual situação (“Futurismo e Cubismo” I e II, 21-7-45 e 29-7-45); há que descobrir a realidade, “as verdades do tempo”, abandonando a excessiva preocupação técnica para humanizar a arte e reconciliá-la assim com o público (“Aprendizagem na Arte”, 18-8-45); a obra plástica do mexicano José Clemente Orozco (1883-1949) é para o jovem crítico exemplo duma pintura evoluída, em que as aquisições formais inovadoras vão a par duma interpretação firme da realidade histórica, contribuindo para a libertação da humanidade e para a morte das tiranias divinas e humanas (“Orozco”, 15-9-45); a pintura nova é pois uma realização técnica inovadora que não deixa de lado o carácter humano da realidade – esta pintura nova está já a ser realizada em Portugal por “um neo-realista de Lisboa” (“Carácter duma pintura nova”, 6-10-45).
Pelos cruzamentos que mais tarde irão chegar, paga a pena a acrescentar que nem surrealismo nem André Breton eram ignorados do jovem crítico, embora o conhecimento que então tinha dum e doutro fossem de superfície e apenas elementares. No segundo texto dedicado a cubismo e a futurismo, alinha outros movimentos artísticos que enfileiram no mesmo erro dos dois – arte formal, sem dimensão humana e lição histórica. Neles comparece o surrealismo, então chamado nas alusões que lhe são feitas em Portugal, raras e de ocasião, “sobre-realismo”, nome que o jovem crítico d’ A Tarde adopta. Também Pedro Oom, em texto publicado na mesma época e no mesmo lugar (“Nota sobre o neo-realismo nas artes plásticas em Portugal”, 25-8-45) alude ao surrealismo. De resto, Mário Cesariny conhecia desde 1943 António Pedro (carta a Cruzeiro Seixas, 1-12-43), que desde 1940 fazia uma pintura de semelhança surrealista, com uma exposição em 1940, na Casa Répe, ao Chiado, com António Dacosta e Pamela Boden, e que parte do grupo da escola do bairro da Estefânia terá conhecido ou até visitado. Demais, o décimo primeiro número do suplemento “Arte” (18-8-45) tem na cimalha frase de André Breton – “Trata-se, no entanto, sempre da vida e da morte, do amor e da razão, da justiça e do crime. A partida não é desinteressada!” –, escolhida e traduzida por certo pelo coordenador. Mostra, todavia, que o nome do fundador do surrealismo era dito e ouvido no círculo do Café da Almirante Reis.
Outro ponto que merece atenção nos primeiros textos de Mário Cesariny é a referência a “um neo-realista de Lisboa”. Sucede isso no texto sobre a “nova pintura”, o sexto, em que se define o sentido geral do conjunto, se deixarmos de lado aquele derradeiro sobre os três músicos soviéticos. Não interessa tanto saber quem se escondia sob essa designação capciosa de “neo-realista de Lisboa” – é certo tratar-se de Fernando José Francisco – como perceber que se estava então a desenhar uma escola distinta da de Coimbra dentro do neo-realismo e que a teorização de Mário Cesariny era como que a sua voz pública, o seu primeiro sinal. Isto mostra a consciência que o grupo tinha da individualidade e da diferença dos seus contributos dentro do novo movimento. A folha portuense pode ser vista como o ponto de arranque de artistas como Pomar, Vespeira, Azevedo, Domingues e Fernando José Francisco. É nela que publicam os primeiros textos e dão a ver ao público as primeiras reproduções dos seus trabalhos, antecipando aqueles que exporão na 2.ª Exposição Geral de Artes Plásticas (1947), que marcou a afirmação do neo-realismo pictórico em Portugal. Ao tempo do suplemento “Arte”, o que existia da escola neo-realista estava acantonado na alta de Coimbra e no sector das letras, com uma colecção de poesia e outra de prosa. Em termos pictóricos, o que podia ser inserido dentro da corrente eram só talvez os trabalhos a cor de Manuel Ribeiro de Pavia, vizinhos das velhas e estáticas gravuras da literatura de cordel, a que se juntavam alguns desenhos de Álvaro Cunhal. Estava ainda por forjar de forma inequívoca a expressão plástica do novo movimento, que só surgirá em força à luz do dia com a exposição atrás indicada.
O meu biografado não veio então à liça como pintor ou artista plástico – não há uma só obra sua reproduzida nas páginas do suplemento, embora se saiba que desenhou e pintou vários quadros, um deles, “Quando o pintor é um caso à parte”, perdido e reconstituído em 1970 – mas como o teórico das realizações do grupo de Lisboa. É ele que publica os textos mais densos e consequentes deste novo broto. E fá-lo como se viu com um sentido geral da construção, em que cada peça marca com elegância e reserva um ponto de avanço sobre a anterior. Escusa-se a ser directo – não fala uma única vez em neo-realismo – e a impressão que temos é que não é tanto a censura exterior e oficial que assim o determina, até porque no final da guerra ela aliviou o seu crivo, mas a linha interior do seu pensar. Depois deste primeiro esforço, centrado nas artes plásticas, que são o lado mais formal da experiência humana por aquilo que ostentam, não é de estranhar que o jovem crítico tenha procurado desenvolver o seu labor de teorização, abalançando-se a tomar a literatura por reflexão. Era na literatura que o novo realismo se manifestara até aí de forma mais evidente e ruidosa, com a publicação de versos e de romances em prosa e com o surgimento de nomes que batiam o pé e pediam atenção. Era ainda no fio da literatura que o jovem crítico se encadeava e debatia com os versos que lia e escrevia desde pelo menos 1941.
Organizou a sua nova reflexão em sete notas, que deu a lume numa revista efémera (“Notas sobre o neo-realismo português”, Aqui e Além, nº 3 e nº 4, Dezembro 1945; Abril 1946). É um texto do maior significado para se perceber o seu ponto de arranque em literatura. Os textos anteriores, publicados entre Junho e Outubro de 1945, têm a elegância duma linha melódica de fuga para o silêncio – mas têm também o peso dum sistema de ideias na insistente afirmação do humanismo e não da forma como bitola de avaliação em arte. Há neles uma reacção anti-formal muito consciente, depreciando os movimentos de vanguarda do início do século XX, que se lhes dá novidade numa cena artística que vivia desde o final do século XIX extasiada de esteticismo também lhes retira largueza de compreensão. Os novos textos libertam-se do equívoco do conteúdo, que é disso que se trata quando se fala das premissas do tempo e da história. São por isso textos mais amplos, mais livres, mais dinâmicos. Assumirem a teorização directa dum movimento artístico muito recente ajudou-os a darem um pequeno passo para lá do lugar-comum da arte comprometida, pecha em que o seu primeiro conjunto se mancha. Desta vez o ponto da reflexão desloca-se para fora do campo de observação e os textos surgem numa posição mais ajustada a um terreno pessoal. Ao tomar o neo-realismo como “a expressão e a conquista duma realidade mais geral”, o enunciador não renuncia nem à crítica do individualismo nem à secundarização da forma, mas deixa em aberto um caminho imprevisível, ainda por fazer. O neo-realismo era em literatura demasiado recente para o novel crítico aceitar como definitivas, e até como expressão daquilo que do movimento se podia e devia esperar, as obras até então conhecidas. Essas obras padeciam dum mal: recorriam aos meios que em teoria combatiam. Faziam assim uma literatura nova com processos velhos. Logo, estavam por criar as obras representativas da nova corrente, que seriam também as mais maduras.
Mesmo com todas as condescendências, é aqui que pela primeira vez se desenha com clareza um neo-realismo contra o neo-realismo, quer dizer, um neo-realismo desenvolto e adulto contra um neo-realismo embrionário e visto como insuficiente. Eis o ponto mais complexo deste primeiro Mário Cesariny. Desenvolvê-lo-á na criação poética a que se entregou nesta época e com uma largueza de meios que faz figura de inesperada em meio tão acanhado como o do novo humanismo, eufemismo aceitável para as directivas de aço que vinham de Moscovo. Nos textos publicados no Porto começa-se a desenhar uma escola de Lisboa por contraste com a de Coimbra, mais limitada. Como quer que seja, essa nova escola não é de todo explícita nos textos publicados no Porto, ao passo que a situação dum neo-realismo mais avançado que o existente é o nó crucial deste conjunto vindo a lume na revista Aqui e Além. Não custa tomar estas notas como vizinhas daqueles textos críticos com que Fernando Pessoa se estreou na revista A Águia (1912) – e que pela mão de Álvaro Ribeiro acabavam de ser republicados em livro, A nova poesia portuguesa (1942), opúsculo que o jovem crítico de 1945 decerto leu e meditou. O papel mediador que o jovem crítico quis então ter junto da literatura neo-realista parece coincidir com aqueloutro que o autor de Mensagem pretendera reger no seio da nova poesia saudosista.
Observe-se agora a criação poética de Cesariny neste período. O que se conhece só mais tarde veio a lume, pois na época nada transpareceu. Essa criação apareceu pela primeira vez, mas só em parte, no livro Nobilíssima visão (1959) e no volume antológico Poesia – 1944-1955 (1961). Neste apareceu como “Poesia Civil” – civil pelo compromisso que então teve com as indicações da III Internacional e civil pela adesão ao neo-realismo, que era uma estética de pronta decisão cívica – e daí o tópico anti-formal. A “Poesia Civil”, como surgiu em 1961, era constituída por quatro livros: “Políptica de Maria Klopas, dita Mãe dos homens”, “Nicolau Cansado escritor”, “Um Auto para Jerusalém” e “Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos”. Ao conjunto destes quatro livros é preciso juntar os poemas de “Nobilíssima visão”, surgidos dois anos antes, e “Romance da praia de Moledo”, este em cruzamento com “Loas a um rio”, vindos a lume numa colectânea posterior, Burlescas, teóricas e sentimentais (1972), título que foi usado para cobrir parte da “poesia civil” (“Loas a um rio”, “Romance da praia de Moledo” e “Políptica de Maria Klopas”). Nos arranjos finais, Cesariny distribuiu a “poesia civil” e as primitivas “Burlescas, teóricas e sentimentais”, que na primeira metade da década de 40 se terão chamado segundo Pedro Oom “Líricas, bucólicas e sentimentais”, por dois livros, Nobilíssima visão (1991) e Manual de prestidigitação (1981; 2005) – o primeiro contendo os poemas de “Nobilíssima visão” propriamente dita, de “Nicolau Cansado escritor” e ainda “Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos e “Um auto para Jerusalém” e o segundo “Romance da praia de Moledo” e “Visualizações”, onde estão as “Loas a um rio” e poemas dispersos, alguns aparecidos na primeira edição de Nobilíssima visão (1959).
Todo este conjunto foi orquestrado entre 1942 e o final de 1946. Há pois duas fases distintas neste primeiro período da criação poética de Cesariny. Um primeiro que vai de 1942 a 44 e onde se incluem “Loas a um rio”, “Romance da praia de Moledo” e “Políptica de Maria Klopas”; e um segundo, de 1944 a 46, onde se incluem os restantes poemas, o último dos quais, “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos” é já do final do ano de 1946. O primeiro subconjunto é o que segundo Pedro Oom se chamou de “Líricas, bucólicas e sentimentais” e foi segundo testemunho do mesmo Oom e de Luiz Pacheco apresentado a João Gaspar Simões para leitura, sem que daí resultasse nada de conclusivo. É anterior à adesão ao neo-realismo e à entrada no Partido Comunista – corresponde à fase cimeira do Café da Almirante Reis e ao período final da escola das artes decorativas. Parte da sua significação coincide com o que se disse atrás dos poemas enviados por carta ao amigo Seixas. São poemas em que as palavras giram em órbitas regulares à volta da sua estrela e a forma tende à estabilização. É o período em que o jovem Cesariny aceita o clássico como supremo ideal estético. Já vimos que isso não se fez senão em contradição com a experiência mais funda e pessoal do criador, que era todo ele impulsivo e negro como o realismo de Dostoiewski podia ser. Por isso, poemas, como “Arte poética” e “Corneta”, integrados no “Romance da praia de Moledo”, e aceitando que os poemas são de feito desse período inicial como tudo leva a crer, pouco têm a ver com a beleza, com a forma lapidada e fria, com a luz e o vitral hialino do clássico. Não há neles nenhuma concepção de harmonia regulada e estável. É antes a crueza mas também a inocência da transgressão, aquilo que se poderá chamar a agressão contra a harmonia e a laceração da forma, que os motiva. A primeira parte do poema “Arte poética”, com subtítulo de “métrica”, é uma paráfrase ritmada, inspirada talvez nas lengalengas infantis de origem popular, duma oração cristã, o Padre-Nosso, cujo ingénuo efeito musical, fruto dum ouvido treinadíssimo pelo solfejo, não esconde, antes espicaça, um burlesco de infracção, que se ajusta na perfeição ao propósito do poema – restituir o som e o sentido da poética. Leia-se a estonteante abertura (2017: 32): creio em deus pá’/ um dois três quá’/ tod’ poderô’/ um dois dois três (…).
O mesmo se deve dizer para “Políptica de Maria Klopas”, um conjunto de dez poemas, que representa o momento de passagem para a fase da “poesia civil”, pois terá sido já composto em 1944, numa fase vizinha, se é que não coincidente, com adesão ao neo-realismo. Este painel de Maria Klopas, uma figura bíblica, citada num versículo do Evangelho de João, surge como o primeiro sinal da capacidade construtiva do poeta. Fizera até aí pequenas composições singulares, com notações lírico-jocosas, mas sem finalidade dramática. Com estes dez poemas cria um primeiro conjunto narrativo, que recria poeticamente um nódulo histórico-bíblico, a mãe de Jesus e a sua ligação a Eva, de que Maria Klopas (ou Maria Klophas) é no poema a dupla hipóstase. Nas várias versões que se conhecem do conjunto – o painel apareceu pela primeira vez na antologia de 1961, foi depois republicado na antologia de 1972 e finalmente integrado nas edições finais de Manual de prestidigitação (1982; 2005) – percebe-se uma linha de evolução no sentido duma maior dramatização do conjunto, com a introdução de didascálias de cenografia musical e a atribuição dos poemas a vozes distintas. Como quer que seja, este conjunto tem alguma coisa dum auto de Natal invertido, primeiro na nudez das suas queixas mudas duma mulher que se vê projectada para um destino que não foi por si escolhido – maria klophas/ não percebeu/ mas perguntar/ não se atreveu (2017: 49) – e depois no esquecimento com que o mundo a amortalha sem verter por ela uma seca lágrima. A ideia dum auto natalício às avessas, carnavalesco, acentua-se nas versões finais com “as estridências monocórdicas” da orquestra final e o apêndice burlesco da “Cantiga de São João”, cuja missão é dinamitar a seriedade do mundo num momento de assumida loucura ao mesmo tempo que subverte em direcções inusitadas a quadra popular.
Atente-se agora no segundo conjunto desta primeira fase da sua poesia, aquele que com toda a propriedade corresponde à ideia duma “poesia civil”. Fazem dele parte os seguintes livros, todos escritos já depois da adesão ao neo-realismo e contemporâneos da publicação dos linguados críticos no jornal A Tarde (1945) e na revista Aqui e Além (1945- 46) que o leitor já conhece: “Nicolau Cansado escritor”, “Nobilíssima visão”, “Um auto para Jerusalém” e “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos”. Peças maiores na criação do autor, merecem uma observação de pormenor, quer pelo valor intrínseco que apresentam, quer para se perceber questões contextuais das correntes que então se agitavam e foram determinantes para a evolução e até para o parto da sua poesia adulta mais sazonada. Esses livros são afinal a expressão prática do neo-realismo evoluído em que o seu autor pensava quando deixou em aberto nas suas notas críticas do final de 1945 o surgimento próximo duma escola neo-realista larga e madura, capaz de superar as limitações do embrião neo-realista que então existia em Coimbra.
Mário Cesariny recebeu e teorizou o neo-realismo duma forma literal, não se sabe se por uma estratégia de colagem à lógica do público ou se por uma operação essencial e exclusiva à gnoseologia do real. Porventura uma e outra tiveram acção prática e conjugaram-se para o resultado final, que surge como soma feliz de duas potências desavindas. Tal como o pensou na conclusão das notas de 45/46, o neo-realismo foi por ele definido como expressão duma “nova realidade”. Daí a forma literal, que não é aqui um sentido único, fechado, linear, mas tão-só fidelidade à letra. Ora a letra é uma incisão, cuja crosta esconde uma vasta antecâmara, onde, além de múltiplas direcções simbólicas, se antecipam muitas realizações futuras. A palavra “amigo” tal como surge nos cancioneiros medievais sobreviveu a séculos de literalidade e talvez consiga galgar o derradeiro obstáculo, o do dilúvio das mentes digitais, para ao menos fazer parte duma paleontologia do grande e louvável sol chamado amor que outrora moveu o sol e as outras estrelas.
Diz o novel crítico na nota de remate (Aqui e Além, n.º 4, Abril, 1946): “Neo-realismo. Traduzimos: expressando uma nova realidade.” Para se expressar uma nova realidade são sempre precisos processos novos. Estes novos meios de captação duma realidade ainda desconhecida que cabia ao neo-realismo dar forma, e cuja dialéctica é reconhecível nos termos então comuns do novo humanismo, quer dizer, colectivo versus individualismo, são o coração da nova arte e aquilo que falta aos escritores de Coimbra. Tentam estes captar a nova realidade com meios de natureza individual, típicos da arte do passado, e por isso falham. É muito curioso que a criação poética de Cesariny se tenha fundamentado na constatação dum falhanço. Ele pede à escola de Coimbra meios novos que ela não pode dar e por aí mesmo rasga para si um horizonte novo à criação. A percepção duma falta é o primeiro momento da sua superação; tomar consciência do ausente é a forma mais elementar e talvez até mais adiantada de o concretizar e tornar presente. O mais singular da sua experiência poética é, todavia, o ponto de partida. Em vez de se afastar da poesia praticada pelos coimbrões do Novo Cancioneiro, como se esperaria de crítico que lhes anotou os fracassos, ele encosta-se e aproxima-se o mais possível. Está aqui a primeira cambalhota vistosa da poética cesarinesca, que marcará a novidade circense dos seus processos. Trata-se duma estratégia ardilosa, contraditória mas eficaz, uma aproximação que é afastamento máximo, um plano destinado a saturar e a exaurir os meios usados pelos poetas da época, para melhor expor a sua estreiteza e os seus ridículos, selando assim em definitivo o seu caminho e levando os poetas ulteriores a rumarem a outras paragens. É de paródia que aqui se fala, na linha do burlesco que ainda antes da “poesia civil”, em poemas tão desconcertantes como “Corneta” e “Arte poética”, o poeta já chamara a si na subversão e na agressão das formas do mundo que nos são ingénitas.
Nasceram assim, na transição de 1944 para 1945, por um processo de saturação extrema, os poemas e as prosas de “Nicolau Cansado escritor”. Vieram a público pela primeira vez na antologia de 1961, para em parte voltarem a ser republicados na antologia de 1972, integrando mais tarde, com algumas alterações, embora insignificativas, as duas edições finais de Nobilíssima visão (1976; 1991). Tal como apareceu na primeira edição o conjunto é composto por duas notas iniciais, “Nota do fiel depositário” e “Em torno da poesia de Cansado”, assinadas respectivamente pelo “fiel depositário” e por Marília Palhinha, e por nove poemas da autoria de Nicolau Cansado.
Quem é este Cansado? Autor e personagem textual criada por Cesariny – na edição de 1976, fica-se a saber que tem por nome completo Nicolau Rosendo Gastendo Cansado –, de quem a biografia em verso jâmbico da autoria de Papuça de Arrebol se perdeu em 1944. É o “fiel depositário” – a partir da edição de 1976 chamar-se-á Araruta Província – que nos dá esta informação na nota inicial, ao mesmo tempo que informa que a obra em prosa de Cansado, superior à obra em verso, se perdeu também. Sobraram apenas os poemas que se dão à estampa, havendo suspeita de existir um outro conjunto de versos, “um feixe de ditirambos ao ‘pobre Federico’”, datado do Verão de 1943 e cujo paradeiro se desconhece (a partir da edição de 76 este conjunto ganha o nome de “Ditirambos hispanos”). Segue-se o estudo de Marília Palhinha, que o prefaciador apresenta como “incansável polígrafa e companheira do poeta, D. Marília Palhinha” e que passará a partir de 76 a “incansável polígrafa e amiga do poeta, Professora Doutora Marília Palhinha”. Surgem por fim os poemas conhecidos de Cansado, que se manterão ao longo das edições do livro (1961; 1976; 1991) com pequenas alterações, em que sobressaem a introdução de dois novos poemas – um dado por perdido, “Fantasia gramática e fuga (com eco)”, e outro, classificado por Palhinha em 1970 como “belíssimo”, “Poema bão”, restituído por Francisco José Tenreiro pouco antes da sua morte, ocorrida em 1963.
Estamos diante duma grande construção narrativa, com uma personagem central, Nicolau Cansado, a que se associam duas outras não menos cruciais, Araruta Província – primeiro só “fiel depositário” – e a polígrafa Marília Palhinha, depois “Professora Doutora”. As estas, ainda se juntam Papuça de Arrebol, biógrafa de Cansado, e Crocodilo, “pseudónimo literário do Ex.º Sr. Luís de Oliveira Guimarães”, em cujas mãos estiveram os “Ditirambos hispanos”. É por meio das três personagens principais – Cansado, Araruta e Palhinha – que Cesariny irá por um lado parodiar os poemas do Novo Cancioneiro, assim se aproximando e afastando deles, e a inanidade dos discursos académicos e críticos. É todo o sistema literário da época, sem excepção, do coração fofo das academias e das editoras até às margens pedregosas onde o neo-realismo se esforçava por se fazer notado, que assim aparece teatralizado. Se atendermos às dedicatórias dos poemas que uma segunda nota de Marília Palhinha acrescentou à edição de 1976, temos como destinatários Joaquim Namorado, Francisco José Tenreiro, Fernando Namora e Mário Dionísio, quer dizer, alguns dos principais nomes do Novo Cancioneiro, a que se juntam Casais Monteiro e Ruy Cinatti, poetas anteriores, um da revista Presença e outro dos Cadernos de Poesia, cujos processos e formas os coimbrões pareciam querer repetir sem proveito nem renovação.
A paródia verbal é a duplicação dum discurso; não existe sem imitação do estilo dum autor ou duma obra. Na paródia há sempre duas realidades discursivas, a original e a glosa que imita. Mas a paródia nunca é só uma duplicação intertextual; é uma duplicação com uma finalidade: produzir o riso, agindo como dissolvente e revelador químico. Para que o riso se instale é preciso que o contraste entre os dois discursos ponha a nu o que há de farsa e de burla, primeiro na glosa e depois, por um efeito de mata-borrão ou de contaminação, no discurso de origem. Toda a paródia é séria até ao momento em que se detecta o seu burlesco. E todo o discurso de origem perde a sua seriedade e a sua inocência a partir do momento em que se detecta a farsa da sua glosa. Nesse sentido os poemas de Nicolau Cansado têm um efeito arrasador. Basta pensar na glosa que é feita ao livro Terra, de Fernando Namora, para se medir a dose letal de veneno que o poeta injectou nos seus versos. Terra fora o livro de abertura do Novo Cancioneiro e tinha só por isso um alto valor simbólico. Leiam-se alguns versos de Nicolau Cansado no poema “Rural” (2017: 406): Como chove Cacilda! Como vem aí o inverno, Cacilda!/ Como tu estás, Cacilda!// Da janela da choça o verde é um prato/Que deve ser lavado, Cacilda!/ E o boi, Cacilda!/ E o ancinho, Cacilda!! E o arroz, a batata, o agrião, Cacilda!/ Já cozeste?// Eu logo passo outra vez,/ Em prosa provavelmente.
Quem era esta Cacilda? A personagem central do longo poema Terra de Fernando Namora, que, em 24 fragmentos numerados sem título, se arvora em gesta dos seres que se sacrificam pela gleba e não vêem compensado o seu esforço. É um dos brotos que enfia no fado frustrado dessa primeira figura arquetípica do neo-realismo português, esse Manuel da Bouça, que a podão grosso Ferreira de Castro esculpira no romance Emigrantes (1928). Ora o modo como Cesariny reduz a personagem a um vocativo monótono, triste e enfadonho, Cacilda, e a forma como anula, por meio do mesquinho aburguesar dos indicadores rurais e caseiros, qualquer saída de grandeza épica à história, ridiculariza de forma fatídica a personagem e o discurso que Namora tecera em volta dela. A duplicação discursiva, óbvia a partir do segundo fragmento, o do “ Badalão! Badalão!”, cumpre com eficiência a finalidade de contaminar de burlesco o texto primitivo. A réplica expõe as insuficiências ridículas do original e transforma em beco sem saída o caminho por ele aberto em 1941, mesmo que a sem saída deste beco só muito mais tarde se tenha visto, já que o poema só viu a luz em 1961. Esta mesma eficácia se depara nas restantes composições atribuídas a Cansado, todas magistrais e arrasadoras no uso da intertextualização paródica.
Paga a pena ainda dizer o seguinte. No início de 1945 o neo-realismo era uma estética muito próxima de vingar na sua versão coimbrã. Não é aqui o lugar para estudar o seu triunfo nem para sobre ele dizer muito mais. Basta saber que os jovens que o rapaz de Lisboa parodiou nesse ano se estavam a impor em todos os sectores como nomes reconhecidos, se não aceites e consensuais, alguns com longa e premiada carreira diante si, adentro do fascismo e das suas instituições, como foi o caso de Namora. O que é hoje desconcertante perceber é que a maior resistência ao neo-realismo não veio da direita católica salazarista, nem de poetas conservadores como António Manuel Couto Viana ou Fernando Guedes, mas do interior do próprio neo-realismo. Quem contra ele se levantou com inusitada violência e sarcasmo foram poetas como Mário Cesariny, Pedro Oom, António Domingues, Alexandre O’Neill, que se arregimentavam afinal no mesmo sector político e perfilhavam a mesma orientação estética. É o neo-realismo contra o neo-realismo. Não se julgue que se trata duma guerra de flores e duma disputa surda de influências. É muito mais sério do que isso. O que se joga é a eficácia dos processos de denúncia que animavam o neo-realismo e eram a sua qualidade essencial. Estes poetas de Lisboa não acreditavam nos meios poéticos usados pelos de Coimbra. Havia mofo a mais para quem se queria novo. Era preciso uma operação cirúrgica, um salto mortal que transformasse o mofo em mofa. As notas publicadas em 1945/46 na revista Aqui e Além são a primeira consciência desse mal-estar, tal como os poemas de Cansado, coevos das notas, são a denúncia dos limites do neo-realismo que então existia e a primeira tentativa séria de ilustração prática duma nova poesia realista construída segundo processos renovados. Pôr o bafio ao ar e bater os trastes velhos parece ser o propósito e o primeiro e decisivo passo dessa renovação. Nos poemas de Cansado a paráfrase destruidora importa assim menos que uma nova mediação que aí surge testada pela primeira vez e que os de Coimbra desconheciam em absoluto – o riso. A ironia, o humor, a sátira, o sarcasmo e a produção do cómico estão de todo ausentes – talvez com a excepção do “Coro dos empregados da Câmara” de Manuel da Fonseca – dos nove cadernos do Novo Cancioneiro (dez pondo na conta o de Políbio Gomes dos Santos, já de 1944). Ora o cómico será a partir daqui o meio mais usado por Cesariny para desenvolver e afirmar o novo realismo.
Observem-se agora os poemas de “Nobilíssima visão”, escritos logo de seguida aos de Nicolau Cansado, se é que não em simultâneo, no momento em que dava à estampa as notações sobre o neo-realismo na revista Aqui e Além, e que acabaram por baptizar um livro, Nobilíssima visão, que teve três edições (1959, 1976 e 1991), além da escolha que integrou a antologia de 1972. Cesariny juntou neste livro, a partir da edição de 1976, a parte mais substancial da sua criação do final da adolescência – os poemas de “Nobilíssima visão”, os de Nicolau Cansado e respectivas notas de Araruta e Marília Palhinha, “Um auto para Jerusalém” e “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos”. A edição assim estabelecida, em 76, apresenta uma nota introdutória que confirma a elaboração dos poemas em 1945/46 e os reduz a quinze. Daí alguns dos poemas que surgiram na primeira edição do livro, a de 59, terem sido deslocados para uma secção inicial das edições finais de Manual de prestidigitação (1982; 2005), “Visualizações”, que recolhe composições do tempo do “Romance da praia de Modelo” e de “Políptica de Maria Klopas”, quer dizer, do tempo mítico da sua primeira criação, anterior à adesão ao neo-realismo em 1944. Os arranjos finais da sua obra, de que a seu tempo ainda algo se dirá, são como um testamento tardio, feito com urgência e um pouco à pressa. É por isso natural que se notem faltas e até precipitações mas não incongruências.
Com estes quinze poemas, que acabarão na edição final de 1991 por se reduzir a treze, tocamos no coração da poética de Cesariny. É provável que lhe bastassem estes poemas, ou até alguns deles, para ter direito a um lugar arejado e vistoso na poética portuguesa do século XX – caleche apertada, com poucos lugares e muito boa gente em pé, à pendura. Embora os tenha criado em fase temporã da sua evolução, nem sequer fizera ainda 23 anos, idade boa para titubear frases escritas, alguns, como “Pastelaria”, “Rua da Academia das Ciências” ou “Tocando para a Rua Basílio Teles”, acabarão por se tornar na divisa de marca do poeta, fazendo mais pela sua lenda que muito do que se lhe seguiu. Ainda hoje há quem conheça Cesariny como poeta pelos versos de “Pastelaria” e não há recital seu que não os inclua. O mistério nunca esgotado deste poema vem daquela arte poética tão musical como provocadora em que ele logo de início dera provas de mestria com a paráfrase destemida da oração chamada Padre-Nosso. Que dizer de versos assim (2017: 378): Afinal o que importa não é ser novo e galante/ – ele há tanta maneira de compor uma estante. E destes: Afinal o que importa é não ter medo: fechar os olhos frente ao precipício/ e cair verticalmente no vício. Que são assustadores? Que enfrentam destemidamente o escuro? Até as palavras dos dois primeiros versos parecem tremer de medo do poeta, tanta a firmeza da sua voz e da ousadia em compor com o disparate uma imagem que não podia ser mais certeira. Como é que um poeta que tinha a coragem de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente:/ Gerente! Este leite está azedo podia querer fazer das letras e das palavras uma carreira certa?! Estava antes disposto a partir a loiça – ou a corromper o alfabeto. Niilismo? Não, já que o niilismo não sabe rir; é só um repelão sério de desespero. Este poeta tem revolta e grita bem alto que não, e até que nunca nem ninguém, mas ri muito. Que são as paródias de Nicolau Cansado senão comédia e riso?! Por isso fechou a porta da sua “Pastelaria” com aquele riso admirável de quem sabe e gosta/ ter lavados e muitos dentes brancos à mostra. “Rir de tudo” foi a receita que ele entregou ao mundo. Ora pintar o sete, expressão acertada para o que há de feliz no carnaval, é como dizer que no fim da estrada está guardado muito oiro para aquele que o não procurar.
Assim como assim, o poema do livro que mais sobressai nem sequer é essa impertinentemente sábia “Pastelaria”. “Tocando para a Rua Basílio Teles” encanta pelo labirinto do monólogo onde fala como se brilhasse um sol muito jovem, que tem consigo o segredo da manhã do mundo, como “Rua do Ouro” põe à mostra a ferrugem das entranhas de ferro do homem que venceu e, por vencer, saiu derrotado, lição nunca aprendida e sempre actualíssima nestes tempos em que a taxa de juro poliu as unhas e pintou os lábios. Mas é no poema “Rua da Academia das Ciências” que uma arte superior, tão engenhosa como a relação do espelho parabólico com o espelho plano e a ocular dum telescópio, maravilha. Sem esse poema nada se sabia hoje das meninas que em Lisboa foram as nossas mães e avós, joaninhas pintadas a vermelho, que ouviam rádio e punham chapelinho de fitas no alto do penteado, que calçavam meia de vidro e sapato preto de salto alto e frequentavam a Faculdade de Letras, então a funcionar na Rua da Academia das Ciências, ao pé de São Bento. Assim, com ele, sabemos que as meninas tinham em vez de olhos “plateias no Liz no S. Luís e no Terrasse”, cinemas lisboetas da época, que em lugar de coração “um saco/ com Jean-Paul Sartre e rendas a cinquenta o metro”, juntando a moda e a capelista, e entre as pernas, no lugar do sexo, “um juiz de paz/ arroz licores outro noivo e gritinhos”. Esse poema tem o valor incalculável dum osso de Cuvier. É um sinal prodigioso que chegou até nós de outras eras e com o qual podemos fazer reaparecer espécies e indivíduos que as revoluções e os abalos culturais da segunda metade do século XX fizeram para sempre desaparecer. Só um poeta com alma de visionário, cuja arte transmutava em humor o lado mais sombrio da existência humana, podia captar um real tão essencial que ainda hoje está intacto.
“Um Auto para Jerusalém” é uma das criações mais atípicas de Mário Cesariny. Foi a sua única peça escrita para teatro, se é que se pode chamar teatro à representação dum olhar. A peça teve por berço um teatro e só isso é já o bastante para marcar um destino. No Outono de 1946 surgiu em Lisboa uma colectânea de poesia, conto e teatro, Bloco, coordenada por Luiz Pacheco e Jaime Salazar Sampaio. Era mais uma das iniciativas da jovem geração lisboeta que acabara de fazer 20 anos no final da guerra e festejara estrondosamente a queda do nazi-fascismo. A colectânea, logo embolsada pela polícia política, fechava com uma densa narrativa de Luiz Pacheco, então aluno da Faculdade de Letras, na Rua da Academia das Ciências, chamada “História antiga e conhecida” e rebaptizada depois “Os doutores, a salvação e o Menino”. Tratava-se dum ardil efabulador, ou duma alegoria cheia de malícia moral, sobre a situação política portuguesa. A chave da salvação, que deitaria pela borda fora o velho tirano Herodes de quem todos se queriam livrar sem que ninguém soubesse como, estava na inocência da geração nova, não na doutrina dos doutos e dos sensatos, que falavam a medo e não se dispunham a perder privilégios. Passada num recanto da Palestina antiga com Romanos e Judeus, a história era afinal uma parábola bem conhecida dos portugueses do presente.
Nada podia agradar mais ao poeta que estava a escrever os versos de “Nobilíssima visão” e que tinha um conflito edipiano com a autoridade do pai e para quem a finalidade última da vida era a brancura admirável do sorriso. “Rua Primeiro de Dezembro”, um poema desse seu livro, tem um conciliábulo de pássaros no Café Portugal que parece a versão zoológica que um poeta era capaz de dar da sensatez. Dois pica-paus picam com entusiasmo na “dita dura dura que não dura” e nós ouvimos nesses versos o picar inane do bico no pau; um senhor avestruz engole uma pratada de ovos, enquanto um pássaro cantor diz que tem pena, o que até era verdade duas vezes. Tudo era escusado para estas aves simbólicas, salvo bicar entre dentes, lastimar-se e comer – como sucedia afinal com os doutores de Luiz Pacheco. O filho do senhor Viriato de Vasconcelos dedicava o seu tempo ao círculo coral de Fernando Lopes Graça, então rebaptizado Amizade, e que logo ao fechar da guerra, com a fundação do M.U.D., ganhara grande projecção, fazendo actuações em salas associativas de Lisboa e arredores. Foi numa dessas actuações que Cesariny conheceu, nos primeiros dias da criação do M.U.D., no Verão de 1945, Alexandre O’Neill, nascido em 1924, e que frequentava uma roda de rapazes estudantes e empregados que se juntava num Café da Avenida da República, A Cubana, e que logo confraternizou com o grupo do Café Herminius. O encontro entre os dois foi magnético e O’Neill foi de imediato a uma livraria da Baixa comprar um livro para presentear o novo amigo, The emperor Jones, de Eugene O’Neill, que lhe ofereceu sábia e afectuosamente dedicado.
Um dos pontos, até pela localização, onde o grupo coral de Lopes Graça cantava com regularidade era a sala do Grupo Dramático Lisbonense, que tinha sede na Rua Marcos Portugal, não longe do Jardim do Príncipe Real e estava também ligado aos círculos mudistas. A ligação entre os dois grupos tornou-se tão estreita que o grupo coral de Lopes Graça se tornou o Coro do Grupo Dramático Lisbonense. Conhece-se carta de Cesariny para Cruzeiro Seixas (8[18]-9-1946) marcando-lhe encontro, para “sarau”, na sala do grupo cénico. Ora foi nesta sala, pouco depois da saída de Bloco, que Mário Cesariny conheceu Luiz Pacheco. Corria nessa noite uma peça em um acto de Pedro Serôdio, pseudónimo de Avelino Cunhal, “Naquele banco”, escrita em Março de 1944, e de que um dos intérpretes era António Domingues, o mesmo que andava no grupo do Herminius e vinha da escola de artes decorativas e que Cruzeiro Seixas recorda como uma matulão que usou calções até muito tarde. Cesariny estava presente e Luiz Pacheco também. No final da representação, Cesariny abordou o jovem editor de Bloco e disse-lhe:
– “Li o seu conto do Menino Jesus. Não é nenhuma obra-prima, mas gostei. Olhe, e por raiva de terem apreendido Bloco, estou a escrever uma peça tirada do conto.”
“Um auto para Jerusalém” nasceu assim à sombra dum teatrinho, o do Grupo Dramático Lisbonense, e duma pecita de alfaiataria neo-realista, a do velho Avelino Cunhal, pai de Álvaro Cunhal, pouco depois vinda a lume na revista Vértice (n.º 48, Julho, 1947). Atendendo a que um dos seus amigos próximos, António Domingues, deu corpo a um dos protagonistas do diálogo, é de crer que Cesariny tenha tido algum papel na música que acompanhou a representação. Não é ainda de excluir – a imprensa da época não deu notícia do evento – a intervenção do coro do grupo cénico no espectáculo. Todavia, a peça do meu biografado nada tem a ver com o teatro de Pedro Serôdio e Romeu Correia, exemplos da influência do neo-realismo coimbrão na literatura dramática da época. É mesmo possível que aquilo que tenha agradado ao autor do “Auto” na fábula que fechava Bloco fosse a soberana indiferença, que nada perdia de irreverência afirmativa e de mensagem política, com que tratava os tópicos da narrativa neo-realista, então em plena afirmação com a colecção coimbrã Novos Prosadores. A trama de Luiz Pacheco, que cruzava uma inteligência simbólica rara com uma atitude de impertinência nada espalhafatosa, era para quem acabara de escrever os poemas de Nicolau Cansado uma atracção irresistível. Ligado por laços de sangue a um grupo teatral no activo, não surpreende que Cesariny tenha então farejado um instinto cénico fatal ao fio da narrativa, porventura na esperança duma representação próxima.
Que similitudes e que diferenças se encontram no trabalho de Cesariny e no de Luiz Pacheco? Ambos são um apelo velado mas muito perceptível à luta contra a ditadura de Salazar em nome da verdade e da irreverência da inocência. Daí a mediação que ambos fazem dum ponto da história bíblica, o confronto entre Menino Jesus e doutores da lei. Querem os dois afirmar aí a força irrepetível da juventude, que não é só pureza e acção mas certeza e vitória. E ambas têm um segundo nível de leitura: o psicanalítico. A luta contra o ditador é também a luta contra o pai autoritário e o complexo de Édipo. A novidade está na introdução duma figura marcada pela história recente e por uma carga simbólica iniludível – o Homem da Gestapo, que surge como o representante da ordem patriarcal, substituindo na peça os meros legionários romanos da narrativa de Luiz Pacheco. Outra novidade é a morte do Homem da Gestapo em palco, varado em cheio pelo porteiro do “Académico-Clube dos sábios de Jerusalém”. Essa é talvez a boa nova de Cesariny, já que na fábula de Pacheco a resistência aos centuriões não surte efeito e acabam todos na jaula. A morte em palco do representante da ordem patriarcal tem assim um efeito catártico e um sentido afirmativo do valor da revolta e da certeza da vitória – isto na versão primitiva, vinda a lume em 1964 (um fragmento, só com a abertura, até à entrada do Menino, saíra na antologia de 1961), calcula-se que em forma muito vizinha da que foi escrita no Outono de 1946, sendo de imediato proibida de circular pela censura. Nas reedições, em Nobilíssima visão (1976; 1991), já ulteriores à primeira representação de palco da peça pelo Grupo Sete, com encenação de João d’Ávila, em Março de 1975, Cesariny embutiu uma cena nova em que convoca Salomé, a sobrinha de Herodes Antipas, porventura a mais marcante figura do imaginário decadentista, e introduziu algum cepticismo na questão da morte do pai e da autoridade. Enquanto na versão de 1964, escrita no final de 1946, em altura afirmativamente combativa, o Homem da Gestapo cai e não se levanta, é mero trapo entre trapos, em 1976 e 1991, ele cai para no final se erguer e abandonar o palco pelo seu pé ou, pior, nele permanecer erguido, mostrando assim que está pronto para novo episódio. O novo final é um sinal de descrédito na morte do pai autoritário e dos seus representantes, tão peremptoriamente gritada na primeira versão da peça.
Assinale-se por fim a presença duma instância dramática inovadora, o Orador, que lá está desde os tempos em que o rapazinho do coro de Lopes Graça acompanhou a peça de Pedro Serôdio. É uma instância ambígua, que manobra em momentos estrategicamente decisivos a acção em sentido inverso à intenção do autor, criando um efeito de estupefacção e de simpatia no espectador, ao mesmo tempo que deixa suspensa a ideia duma entidade dupla, não autoral, que participa na criação poética. A manobra abre uma parte dos bastidores da construção da peça, que cria assim a ilusão de estar a ser feita no momento em que está a ser representada. O caso mais flagrante e eficaz é aquele em que ele, Orador, proíbe a ordem de prisão que o Homem da Gestapo dá aos doutores, negando e contrariando as indicações e as intenções do autor na peça. Nesse momento o Orador deixa de ser um mero e obediente contra-regra que está dentro da peça enquanto personagem igual a todas as outras para se tornar numa instância dialógica de comando das suas acções. O Orador acaba aqui por funcionar como uma voz das intenções mais fundas do autor, mesmo que à superfície o pareça contrariar. O estratagema desta oposição, autor contra autor, é ainda uma forma de afirmar a força do improviso. A liberdade – neste caso, o sentido libertário da história contra a autoridade do pai e do tirano – está acima de qualquer guião feito e a todo o momento pode irromper.
“Um auto para Jerusalém”marcou o início das relações entre Mário Cesariny e Luiz Pacheco, relações que virão a ter importância crucial nas duas décadas seguintes – e mais tarde se verá algum do desenvolvimento deste relacionamento até à sua ruptura. Uma relação que nasceu tão cativa da criação e tão promissora de admiração mútua não podia senão dar uma grande paixão – de ódio ou de amor. Por ora importa dizer que o melhor fruto dessa relação, a reactivação do abjeccionismo no início da década de 60, tem talvez aqui, no conto e na sua interpretação dramática que puxa ao extremo o sentido anti-patriarcal do original a sua mais vetusta raiz. Não há nada melhor para perceber as erupções do abjeccionismo na segunda metade do século XX português que o lema contraditório mas eficaz sob o qual o poeta então trabalha – neo-realismo contra neo-realismo. E com ele alinha todo uma geração lisbonense, a do Bloco em destaque, que aceita os supostos gerais do neo-realismo, antes de mais a denúncia humana que se propõe fazer, mas se mostra desagradada dos caminhos estéticos que estão a ser traçados e trilhados pela geração já anterior – a do Novo Cancioneiro e a dos Novos Prosadores, afirmada na primeira metade da década de 40.
Sem que isso seja mais que cronologia, chega por fim o poema “Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos”, que é já lugar-comum tomar como a jóia da criação poética deste primeiro poeta. Dos quatro livros incluídos nas duas edições de Nobilíssima visão (1976; 1991) – os poemas de “Nobilíssima visão”, os de Nicolau Cansado e respectivas notas, “Um auto para Jerusalém” e “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos” – a última composição terá a sido uma das derradeiras a sair ao papel, embora tenha sido a primeira a ser dada em letra impressa e uma das mais editadas do poeta (duas edições no ano de 1953, com reprodução facsimilada em 2008; reedições nas antologias de 61 e 72 e em Nobilíssima visão, 1976 e 1991, aqui com versos novos no final – 17 em 76 e 19 em 91). Se bem que incompleto, já que os versos finais se perderam, o meu biografado tomou este poema com mais de 150 versos como “despedida da teorética neo-realista” (“Tábua”, Mário Cesariny, 1977: 46). Daí a ideia de que o poema foi o derradeiro escrito sob o influxo do neo-realismo. Não terá sido tanto assim e tudo leva a crer que a sua data de feitura coincide com a construção do poema dramático tirado da narrativa de Luiz Pacheco, se é que não é anterior até, tendo em atenção que o seu motivo final, o homem que ao virar da esquina cola cartazes com a frase “Vota por Salazar”, se inspira nas eleições para a Assembleia Nacional que tiveram lugar em Dezembro de 1945 e às quais a oposição decidiu não concorrer. Sobre o ano da composição do poema, o quinto verso, “estamos no ano da graça de 1946”, desfaz qualquer dúvida mas nada adianta para o mês ou para a estação. Embora provisoriamente, datamo-lo do final de 1946, período ainda da confecção de “Um auto para Jerusalém”, aqui sem qualquer incerteza, pois a colectânea Bloco só foi distribuída no segundo semestre do ano e em fase já adiantada deste. Outra indicação sobre o momento da feitura do poema, embora tão ténue que nada de preciso se tira, encontra-se na “nota do autor” acrescentada em Janeiro de 1953 à primeira publicação, onde diz que “o poema é já antigo”. Por pouco que isto diga, e de feito nada diz sobre a sua datação, chega para se aceitar que sete anos após a sua feitura o autor o publicou tal como o fabricou.
“Despedida da teorética neo-realista” disse dele o autor, juntando que “em realidade abjecta, não há nada para reabilitar, sendo a única estrada de fortuna a da vagabundagem social, moral e política” (idem, 1977: 46). Se é que um tal adeus ao neo-realismo é possível no caso de alguém que esteve sempre sem estar, ou estando contra, o que fica muito perto de não estar, esse adeus é também um dar de costas ao futurismo e ao que neste havia de exaltação do dinamismo moderno e do movimento urbano. O poema é ou começa por ser um registo do acordar urbano, mas vazio e desprezível, não merecendo qualquer entusiasmo da parte do sujeito, que o vê desfilar ao seu lado com uma displicência e um cansaço que significam negação. Talvez não se tenha ainda entendido o letreiro geral do poema e o que nele a palavra “simplificação” pode querer dizer. Atendeu-se mais ao “louvor” que o poema também é, mas de forma discreta e até enganadora. E não digo enganadora só em relação ao “martiriológio” de Fernando Pessoa, já então aberto e já então merecedor dalguma desconfiança por parte do meu biografado, mas em relação a essa realidade que todos exaltavam com notas épicas e estrondosas. Daí que as leituras realistas do poema, puxando ao deslumbramento de Cesário Verde e o que nele passou para Campos, deixem fugir o movimento de decepção que nele se instala, muito mais escuro e desesperado. É nesta segunda linha que a “simplificação” se manifesta. Aqui simplificar quer dizer negar, secar, esterilizar. Não pode haver lugar habitável numa realidade legada por um colectivo castrador. Nenhuma profissão é possível, nenhuma forma de colaboração aceitável; só a revolta, tal como se vive em “Pastelaria”, é caminho. Depara-se aqui de novo com a situação de Antero depois de concluir o curso de leis em Coimbra mas incapaz, ao invés dos amigos próximos, de se arrumar num emprego, numa família, num nome, numa carreira pública. Falto ao escritório, pontualmente, todas as manhãs – afirma o sujeito do poema, para dizer que nunca lá foi nem pensa ir. E não foi. O único trabalho pago que teve, ao menos continuado, e de que até nós chegou notícia, monitor num colégio de rapazes em Estremoz, o Colégio Estremocense, do Dr. João Falcato, no Outono de 1949, durou cerca de dois meses e acabou em escândalo e sarilho.
Como ver no poema a “simplificação”? Ela está patente no seu coração, no ponto nevrálgico da circulação do seu sangue que se espalha depois por todos os vasos. Refiro-me aos seguintes versos (2017: 417): (…) a gente – certa gente – sai para a rua,/ cansa-se, morre todas as manhãs sem proveito nem glória/ e há gatos brancos à janela de prédios bastante altos!/ Contudo e já agora penso/ que os gatos são os únicos burgueses/ como quem ainda é possível pactuar –/vêem com tal desprezo esta sociedade capitalista!/ Servem-se dela, mas do alto, desdenhando-a…/ Não, a probabilidade do dinheiro ainda não estragou inteiramente o gato/ mas de gato para cima – nem pensar nisso é bom! Eis o gato em todo o seu rigor! Ele comparece pela primeira vez nos versos de Cesariny para indicar o desprezo que a realidade herdada lhe merece e para sinalizar a desfaçatez que é preciso ter para conviver com ela – a mesma que lhe faz gritar bem alto e sem vergonha, “Gerente! Este leite está azedo!” O autor do Jornal do gato acabou de descobrir o seu totem, a sua máscara, o seu animal de identificação. O gato, do alto do seu silêncio, despreza e goza a sociedade do dinheiro. “Gato ilegível ou ilegal” chamará ele mais tarde, no livro Alguns mitos maiores… a esse bicho sobranceiro que repudia as obrigações e os direitos da sociedade patriarcal.
A mediação zoológica é muito significativa da situação de Cesariny e da sua geração lisboeta. Este gato tanto é a consciência da falta de saída da sociedade burguesa, que arrasa a vida autêntica e a subordina à escravatura do trabalho e do lucro, como da situação daqueles que a contestam. Há um poema de Cansado, “Raio de Luz”, que começa “Burgueses somos nós todos”, onde nem gato nem rato escapam às malhas do burgo. O poema, o derradeiro da edição de 1961, chegou a ter, na primeira edição de Nobilíssima visão (1959), um outro título, “Litania para os tempos de revolução”. Cansado é aquele que, nas palavras da sua estudiosa Palhinha, “abandonou as concepções burguesas sem para isso ter mudado de vida” – ou sem para isso, aqui se junta para melhor esclarecer, precisar de mudar de vida. Escreveu por isso um poema, “Reabastecimento” em que se atesta de povo, em dia de folga, uma vez por semana. Assim (2017: 405): Vamos ver o povo/ Hop-lá!/ Vamos ver o povo.// Já está. Nos restantes dias, Cansado pode dedicar-se à sua vida de burguês sem preocupações e sem pensar mais no assunto. O povo é assim uma nova espécie de missa redentora em que se vai comungar ao domingo, dia em que todos os homens são irmãos. Nos outros não faz mal vê-los através da lente de Hobbes – o homem lobo do homem. Este tipo social que se atesta de povo uma vez por semana visa o neo-realista do Novo Cancioneiro, todo de estrato burguês, e tem mediação zoológica num poema de “Nobilíssima visão”, antes citado – é a passarada que se empoleira em Lisboa, nas traseiras do Rossio, no Café Portugal, a matraquear o vazio e a comer pratadas de ovos. O novo mediador, o gato, está já um passo além deste aviário domesticado. Fala pouco, não come à mão, ataca de surpresa, salta destemido. Desconfiado, crítico, assanhado, dá de costas ao mundo e foge para cimos inacessíveis. É o aristocrata das alturas. “Miando pouco, arranhando sempre, não temendo nunca”, como dele disse um dos seus geniais criadores poéticos – Fialho de Almeida.
De resto o bestiário do poema vai além do gato e do aviário – este só por contraste com o salto do felino. Rastejam por lá uns répteis de patas curtas, pele dura e resistente, cauda adequada à natação, cabeça mais comprida que larga, boca funda e elástica, maxilas fortes e dentes de aço. São os hidrossâurios que ao domingo, de ar satisfeito e feliz, vão à missa e passam os restantes dias a rastejar nos corredores dos bancos da Baixa e das avenidas novas, com a bocarra escancarada e a serrilha ameaçadora dos dentes à mostra. A antropofagia não é um estádio cultural das eras primitivas e transactas, que uma civilização mais benévola e inteligente substituiu por novas e mais humanas formas de convívio. O seu princípio – homo homini lupus – nunca esteve tão activo como hoje. A concorrência dos mercados nada mais é do que o instinto antropofágico da humanidade levado ao seu derradeiro estádio de perfeição. A economia de mercado é a forma mais eficaz dos homens se devorarem entre si. Esses sâurios que surgem no poema de Cesariny – “crocodilos a rir em corredores bancários” diz ele – são tão reais como o crítico gato, o ovíparo de café e o insecto proletário.
Percebe-se agora melhor o que o título do poema tem de armadilha. É que nem sequer se louva no seu longo curso um engenheiro formado em Londres e que se aguentou menos mal na vida moderna. Pede-se-lhe tão-só de empréstimo uma toada desenvolta, que ele próprio afinal já pedira ao velho bardo das multidões, Walt Whitman, aqui redivivas numa manhã da Lisboa de 1946 e no voto de um barco para o Barreiro. O louvor vai todo noutra direcção. Se louvor há, esse é para Mário de Sá-Carneiro, a quem é dedicada na íntegra a sétima estrofe do poema, talvez a mais calorosa e exaltante do todo. Quem é Sá-Carneiro? O “Poeta-gato-branco à janela de muitos prédios altos”. É o rei dos gatos, o aristocrata dos cimos, já que foi ele quem, pondo termo à vida, mais desprezou a prova do dinheiro, a “indecorosa licenciosidade comercial”. Merece por isso a vénia funda do sujeito: bravo e bravo, isso mesmo, tal e qual!/ Fizeste bem, viva Mário!, antes a morte que isto.
O suicídio é uma linha de terra e de fogo que esteve sempre muito cerca da poesia e da vida do meu biografado. Há uma carta a Cruzeiro Seixas (3-4-1942), em que ele se confessa com palavras impronunciáveis. Essa carta é também uma despedida trágica, que revela a verdade terrível que dentro dele havia (Cartas de M.C. para C.S., 2014: 39): Decidi acabar com tudo. Estou cansado de escrever porque acabo de escrever ao Z. F. [Fernando José Franscisco] a contar-lhe que vou matar-me. Talvez não creias nisto. É melhor para ti, talvez. Desculpa-me o deixar-te mais sozinho mas agora já não posso recuar. Que coisa triste a nossa vida. Agora acabou. É possível que este fundão que aqui se sente tenha sido cavado pelo conflito com o pai no momento da mudança para a Rua Basílio Teles. A depressão do terreno da alma em Cesariny não é porém fruto dum único momento mas duma situação muito mais geral que nesta altura se estende a toda a sociedade e às suas relações de poder e negócio e mais tarde se alargará a todo o quadro de existência natural. Ao longo de toda a sua vida, houve sempre representações fortes do pai, antes de mais as de Salazar e suas polícias, que accionaram nele o mecanismo da revolta e da desistência por via do suicídio. Se ficou e não se foi embora bem cedo, como Sá-Carneiro, foi porque tinha no humor um dispositivo de defesa muito afinado. Foi a orgânica leve mas implacável do riso que lhe permitiu sobreviver às humilhações paternas e ditatoriais sem perder ardor e agilidade. O riso é o estado de graça da humanidade. Sem o sentido que o provoca, a vida torna-se um peso tão grande que só a pressa da morte se justifica. Ora Mário Cesariny tinha sentido de humor bastante para brincar com o seu próprio suicídio como sucedeu na Páscoa de 1942. A grande e negra tragédia que os amigos sempre esperaram dele, ao modo de Antero e de Sá-Carneiro, nunca chegou a acontecer e sempre que esteve perto de suceder, como em Abril de 42, com as cartas de despedida para Fernando José Francisco e Cruzeiro Seixas, acabou sempre num imenso carnaval de derisão e festa. Diz Seixas que no dia trágico em que recebeu a fatídica carta do suicídio se dirigiu em desespero com Fernando José Francisco ao andar da Rua Basílio Teles à espera de receber a sinistra notícia da morte do amigo. Quem lhe abriu a porta foi porém um risonho Mário Cesariny a comer bombons! Cinismo? Não creio! Apenas a metamorfose da amargura por via da graça, essa outra noiva alquímica do poeta.
É altura de fazer um balanço final deste primeiro período da criação poética do meu biografado. Diga-se duma vez: as palavras que ele escreve são impublicáveis. Tirando o restrito círculo dos seus amigos, ninguém as aceitaria. Cesariny, que tinha atrevimento suficiente para desafiar o pai e o chefe, não ousou dar a lume poemas como os de Nicolau Cansado. Só se atreveu a levantar o véu e a mostrar os poemas já na década de 60, quase 20 anos depois de os escrever, numa época em que o vozeado em torno do neo-realismo subira já o tom. O efeito dos poemas de Cansado na vida cultural portuguesa de 1945 teria dado histerismo, se não pancada. O seu autor acabaria proscrito nas fileiras de que não queria sair e muito menos à força. A sátira seria tomada por calúnia e o seu autor riscado para sempre do cardápio dos eleitos. A sua vida, o entusiasmo de que era capaz e sem o qual não sabia viver, estava no grupo coral regido por Lopes Graça e na militância política que esse círculo desenvolvia. Todo o sentido da vida do jovem Mário se concentrava no trabalho do coro e na acção disciplinada do anti-fascismo. No seu processo da PIDE que está na Torre do Tombo existe alusão a espectáculo que o grupo deu na Outra Banda, em Almada, na recreativa Incrível Almadense, a 8 de Abril de 1946. No cacilheiro, com o bater das ondas, cantaram a Marselhesa e a Internacional. Este espírito de desafio, este arrojo franco e aberto, abrindo o peito ao céu que se via da janela e saudando as águas do Tejo, era a única carta capaz de inebriar um rapaz que só sabia viver quando sentia pulsar um tremor de entusiasmo. Nem mesmo a troco dos seus versos, ele estaria então disposto a perder esse trunfo e a cair em desgraça junto do seu grupo. Não jogou assim por estratégia, nem mesmo por sobrevivência, mas apenas pela inocência com que vivia a sua crença. É provável que na baixa infância ele admirasse no coração da Mouraria com o mesmo fervor e a mesma inocência o manto seráfico e estrelado da Senhora da Saúde.
A militância política e os deveres para com o grupo terão por certo sido razão bastante, se não maior, para se aguentar poeta inédito. Não teve nem podia ter pressas, tanto era o perigo que punha nos seus versos. Mais tarde lamentará estas razões e o açaime que elas lhe armaram. Preferiu assim publicar os textos críticos que o leitor já conhece e que o mostravam um inofensivo e alinhado paladino da arte humanista. No momento em que concebe a canção do “Louvor e simplificação” e se prepara para a morte em palco do Homem da Gestapo, inicia uma carreira de crítico musical na revista Seara Nova, que durará de 16 de Março de 1946 a 12 de Abril de 1947 e que no fundo dá continuidade aos textos críticos anteriores. É uma faceta muito mais aceitável para um militante anti-fascista e que pode até ser mostrada como modelo a outros jovens pioneiros do futuro. Desta vez surge debaixo da asa de Lopes Graça, responsável pela secção musical da revista, o que chega para provar que na transição de 1946 para 47 a relação de discipulato do autor dos poemas de Nicolau Cansado estava no auge. Publica 13 textos na revista, sete dedicados aos programas de “Sonata”, concertos de música erudita moderna promovidos por Lopes Graça em salas de Lisboa, e os restantes a motivos musicais, entre os quais sobressai o estudo que consagra ao mestre, “Fernando Lopes Graça e a música portuguesa” (Seara nova, n.º 994, 31-8-1946), que mostra quanto a música continuava a ser para ele a arte em que a sua vontade se dava. Era músico que ele se queria, não poeta. A poesia era só um desvio involuntário, uma imposição que chegava de fora e se lhe impunha sem ceder a súplicas. Mais tarde, no final da vida, dirá que é o geniozinho de visita, o demónico brincão de asinhas em brasa que lhe entra em casa sem pedir licença nem bater à porta.
– Odeio a poesia – assim confessara ele numa carta a Seixas já familiar ao meu leitor, decerto com aquele humor que nele equivalia a um generoso favor dos deuses. Acabava de fazer 17 anos e de encontrar sem querer ao virar da esquina uma musa de tabuinha encerada ao pescoço e estilete na mão chamada Calíope. Ora cinco anos depois, quando dera já meia dúzia de poemas decisivos à poesia portuguesa do seu século, a paixão intacta mas oculta permanecia. Ele odiava com a mesma força meticulosa e sem falha com que amava e isso nele era porventura o único sinal de insistência e de alegria. O ódio não se confunde ao detestar, menos ainda ao repúdio, e é sempre um privilégio tão raro como o amor!
O GRUPO SURREALISTA DE LISBOA
Fale-se agora dum segredo. O segredo é o invisível que há na vida do dia-a-dia. Podemos conviver uma vida inteira paredes meias com ele e nem dar conta da sua existência. Há segredos invioláveis que serão sempre invisíveis a quem os sonda e há segredos tão inacessíveis como os tesouros que se afundaram nas areias movediças do alto mar. E há ainda segredos que são só a sedimentação dum abandono. São estes os mais comuns porque são apenas fruto do esquecimento. É possível que o segredo de que aqui se fala seja só tão inacessível como um pérola bem guardada no seu cofre fechado. A quem o abra, nada lhe será vedado. Não quebra nenhum selo inviolável nem se arrisca a ficar com um dejecto perigoso. Aberta a concha, contempla a glória dum corpo brilhante e nacarado. O segredo de que aqui se fala chama-se surrealismo.
O surrealismo é o movimento criativo e poético do século XX que mais resistência foi capaz de oferecer ao tempo. Atravessou várias décadas, deu a volta ao mundo e ainda hoje, em pleno século XXI, há gente que trabalha em seu nome. É impossível considerá-lo dentro do espírito das vanguardas ou colá-lo ao modernismo. Nem o seu problema é a valorização da matéria verbal, a arte pela arte, como a praticaram Mallarmé e Rubén Darío, nem a sua finalidade coincide com a gratuidade da vanguarda. Mais que dissolver a arte na vida, propósito das vanguardas e do seu protótipo, o surrealismo supõe uma arte vital, ao serviço da liberdade de espírito, o que é contrário à espectacularidade do arbitrário. Mais desadequado ainda é considerá-lo uma forma nova da ordem que o espírito clássico encarna e que parece ser o sentido último do modernismo.
O facto capital que deu origem a esta nova corrente, sem a qual não teria levedado, não é do domínio estético nem filosófico. É um feito terapêutico. Trata-se aqui duma novidade absoluta, até em relação ao romantismo, com a desordem do qual o surrealismo parece ter alguma afinidade. Em 1916, André Breton (1896-1966), jovem estudante de medicina mobilizado para a guerra no Centro Neuro-Psiquiátrico de Saint-Dizier, tem contacto com a obra de Freud, na qual pressente uma revelação com todas as condições para ser assumida e aprofundada. O estudo e a assimilação das teorias freudianas, então ainda em amadurecimento, foram determinantes para o parto do surrealismo como corrente de ideias. Outros factores contribuíram para o seu surgimento, como o interesse de André Breton pela poesia e pela pintura e a sua ligação a Tristan Tzara e ao dadaísmo, mas nenhum foi tão capital para a formulação das suas teses centrais como a psicanálise. A definição que Breton arranjou para surrealismo, no primeiro manifesto público do movimento (1924) – automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, oralmente, por escrito, ou por qualquer outro modo, o funcionamento real do pensamento; ditado do pensamento na ausência de qualquer controle exercido pela razão e fora de qualquer preocupação estética ou moral – só como diálogo freudiano ganha sentido.
O surrealismo nasceu assim como um equivalente laico dos processos clínicos – uma psicanálise selvagem, sem certificados nem liturgias. O que estava na base da análise freudiana no segredo dos gabinetes médicos – associações verbais e imagéticas livres e sem censura – e que serviam ao médico de Viena para trazer à superfície a vida psíquica oculta e não consciente dos seus pacientes, caiu na rua com o surrealismo, passando a ter uma prática acessível e profana. A ideia duma revolução surrealista, distinta de qualquer outra, com exigências inalienáveis e intransmissíveis, partia deste labor de livre associação verbal e imagética, cujo objectivo era a recuperação de traumas recalcados em níveis profundos do psiquismo. A sua chegada ao nível da consciência permitia a cura catártica dessas feridas da alma. O ponto de partida do surrealismo foi assim o alargamento da realidade sensível a níveis desconhecidos, profundos, não sensíveis, a que as faculdades racionais, condicionadas por convenções civilizacionais e morais, não tinham acesso. Era preciso libertar a realidade do quadro estreito em que a fechavam, acrescentando-lhe novos e ignotos estratos.
Deste modo, o movimento nasceu sem ânsias estéticas, afirmando como horizonte a liberdade de espírito e o conhecimento dos seus processos, através da prática de associações livres de palavras, sons e imagens. O que magnetizava o surrealismo não era a literatura, a pintura ou qualquer outra arte mas a procura do autoconhecimento tal como a psicanálise o encarava. O surrealismo tinha um real próprio, o espírito, e propunha-se representá-lo através de imagens e associações verbais mas fora de qualquer intenção estética. A situação daquele que se entregava ao surrealismo era idêntica à de qualquer paciente submetido à análise. Precisava de encadear imagens e associar palavras para a realidade psíquica das zonas profundas e ocultas subir à superfície e ganhar representação consciente. A palavra e a imagem interessavam pois ao surrealismo como reveladores catárticos do espírito, nunca como arte estética.
Sendo um movimento com características singulares, que se situava no domínio da aventura humana do autoconhecimento, e nunca se entenderá o ponto de partida do seu fundador sem tal compreensão, o surrealismo acabou por dar lugar a um imenso choque estético em variados domínios. Ao procurar o funcionamento real do espírito, seu único propósito, o surrealismo recorreu à escrita e à imagem através do desenho, da pintura, da fotografia e do cinema que lhe serviram como instrumentos de fixação e de revelação do espírito, objectivo último da sua procura. Ao invés do que se passava no modernismo, que tratou a arte como um fim em si mesma, aqui a arte era apenas um meio visando obter outra finalidade – o modelo interior ou o funcionamento real do pensamento. Sem pretensões directas a ser uma corrente estética, o surrealismo acabou porém por ser no século XX o movimento que mais fundo revolveu e renovou a linguagem poética, narrativa, pictórica, fílmica e fotográfica. Muitas das suas descobertas e aquisições foram depois assimiladas por outras correntes – essas, sim, de natureza estética – que as exploraram e trabalharam em sentido artístico.
Como quer que seja, o surrealismo não foi sempre o mesmo. Teve fases distintas, abandonou práticas, desligou-se de causas que em determinado momento julgou coincidirem com as suas, ou serem mesmo essenciais ao seu desenvolvimento, descobriu novos caminhos, em suma, viajou, evoluiu e metamorfoseou parte da sua bagagem acessória. André Breton tinha tão-só 25 anos no momento em que descobriu o automatismo psíquico como chave de consciencialização ou expressão das formações do inconsciente e apenas 28 quando em fase já sólida das suas experiências surgiu a público com um grupo, uma revista, um manifesto, um escritório de investigações. Tinha ainda à sua frente, por viver, 42 anos de vida activa. Havia pois que esperar progressões e alterações no interior dum movimento tão jovem, tão singular e promissor. Na segunda metade da década de 20 e no início da década seguinte, ao mesmo tempo que ganhava audiência interna e até internacional, o surrealismo sofreu uma primeira evolução, com a adesão ao marxismo-leninismo, então em fase de grande dinamismo. Não foi casamento fácil para alguém que punha na descoberta interior do sujeito todo o peso da mudança. O surrealismo, elo fraco da nova junção, acabou por se desviar do seu campo específico de pesquisa, embora Breton tenha feito então com sucesso a adaptação da filosofia hegeliana à indagação do modelo interior. A mudança de título que se deu em 1930 no órgão do movimento – Le surréalisme au service de la révolution em lugar de La révolution surréaliste – mostra a pressão exterior e a instrumentalização política a que ele se prestou e foi sujeito nesses anos, em que muito se perdeu, conquanto tenham sido os de maior visibilidade jornalística para o movimento.
Com a ocupação de Paris em 1940 e a partida de André Breton para os Estados Unidos, assim como a de outros membros do grupo, como Max Ernest e Yves Tanguy, uma nova etapa teve lugar, esta mais decisiva para o aprofundamento das suas exigências próprias. Os seis longos anos que Breton passou nos Estados Unidos foram cruciais para a abertura a novos universos. Findaram então as ilusões políticas anteriores. Refractário aos valores da dominação patriarcal e da exploração capitalista, o surrealismo preferiu desviar-se do materialismo dialéctico e da noção de socialismo científico para desta vez se articular com o pensamento libertário clássico e com o utopismo social de visionários como Charles Fourier, pensador que caíra no esquecimento desde o meado do século XIX e que Breton reabilitou na segunda metade da década de 40. Sem abandonar as aquisições fundadoras resultantes da psicanálise e da tradição ocultista do Ocidente, muito presente no segundo manifesto do movimento (1929), o surrealismo dirigiu o seu interesse para as culturas arcaicas e para o lugar que a efabulação mítica nelas tinha. André Breton teve então um curto mas profícuo convívio no Novo México com os índios Hopis, que o apaixonou pela magia e o levou a encarar um surrealismo maduro, definitivamente fora da alçada da lógica científica ocidental, onde psicanálise freudiana e marxismo ainda se inscreviam. Tratava-se agora de retomar a mentalidade dos povos arcaicos, não no sentido espectacular das festas dadaístas, que haviam sido comparadas pela imprensa a rituais voudus, mas num círculo discreto de iniciados dispostos a abandonar as matrizes formadoras do pensamento ocidental. Daí o recolhimento, a privacidade, a discrição e até o segredo em que o surrealismo viveu e quis viver ao menos em França no período do pós-guerra – longe de qualquer espectacularidade jornalística – e que contrasta com a atenção que teve na fase entre guerras, porventura bem mais pobre e estéril em termos de ideias.
O testamento de ideias de André Breton, o livro L’art magique (1957), mostra um homem crente de que tudo o que até então procurara, antes de mais o auto-conhecimento que na primeira juventude a análise freudiana lhe prometera, se encontrava à espera de ser reabilitado e revivido nesse fundo primordial da aventura humana, onde segundo ele as fronteiras entre o desejo e a realidade não tinham lugar. Na alma desses povos não existia ainda nem o arame farpado das interdições nem a vigilância atenta e a repressão feroz que os guardas armados do princípio da realidade impõem no psiquismo civilizado a qualquer pensamento refractário ou inclinação trânsfuga.
Coube à jovem geração lisbonina que atingira os 20 anos no final da guerra, aderira em política às directrizes da III Internacional e adoptara em arte o realismo social, mostrando-se porém desagradada com o rumo que ele tomava a partir de Coimbra, introduzir entre nós o surrealismo, se por este se entender aquele segredo essencial de que atrás se falou e não uma moda intervalar. Não é que não houvesse então notícia do surrealismo em Portugal. Havia. Embora as citações fossem poucas e curtas, sempre a coberto do termo sobre-realismo, tradução literal da palavra francesa, as alusões existiam. Já se viu a questão no suplemento “A Arte”, coordenado por Júlio Pomar e colaborado pela roda de jovens que frequentava o Café Herminius, que chegou a escolher frase de Breton para encabeçar um dos números (18-8-45), e já se disse que António Pedro e António Dacosta haviam feito na pacata Lisboa de 1940 uma exposição “sobre-realista”. Idêntica linha seguira logo depois Cândido Costa Pinto, pintor e ilustrador. Tudo não passava porém de lugares isolados sem ligação entre si e sem sombra de sobressalto. Não existia nem conhecimento, nem consciência colectiva, nem desejo de quebrar interditos. A pintura que daqui resultava, talvez com excepção da de Dacosta, personalizada até no que tinha de ingénua, era uma pintura talentosa, tecnicamente bem executada, mas demasiado fiel a um imaginário que se identificava aos pintores associados então ao movimento – Chirico, Dalí, Delvaux, Magritte. Faltava a marca pessoal instintiva, o selo inconfundível da viagem por dentro, miolo deste segredo e único ponto que distinguia o surrealismo do mero compromisso artístico, a que este primeiro “sobre-realismo” português surge vinculado. Faltava-lhe ainda a turbulência de grupo, que fora o choque selvagem com que o movimento nascera em Paris.
Chama-se pedra de toque ao jaspe duro, opaco que serve para verificar a pureza do oiro e da prata. Todo o ourives a conhece como a sua menina e lhe dá a mão para a levar a passear no bolso. Assim esta vara de palavras e de imagens com que o surrealismo partiu em busca do seu abismo. Quem entre nós foi à procura deste jade de risco foi a jovem geração lisboeta que chegara aos 20 anos no final da guerra e que aderira à acção política anti-fascista e aos ditames do neo-realismo. Ao que um e outro contaram e recontaram, já que tinham aí um dos motivos exaltantes da sua vida, a saga começou numa mesa de Café entre Alexandre O’Neill e Mário Cesariny. É provável que o Café fosse o da Avenida da República, A Cubana, pois o autor da sátira às meninas da Rua da Academia das Ciências dá o grupo do Herminius disperso a partir de 1946. O primeiro equinócio do ano de 1947 devia estar a ter lugar e Cesariny ainda se entretinha a pôr o sobretudo e a cantar no coro de mestre Lopes Graça, ao mesmo tempo que despachava os linguados de crítica musical na velha revista de Câmara Reys. Uma tarde, O’Neill chegou ao café e deixou em cima da mesa, na frente de Cesariny, um livro. Era a edição da Histoire du surréalisme, de Maurice Nadeau. O volume – primeira história escrita do movimento – era uma novidade, acabara de sair no final de 1945 e tinha ainda a tinta fresca. O’Neill vinha de o ler e o abalo fora tão fundo, tão generoso, que não resistiu a passá-lo a Cesariny para ver se o efeito era idêntico. A réplica foi ainda mais violenta. Não admira que assim tenha sido. O livro abria com um aviso em que se dizia que o surrealismo era eterno e se destinava, não a transcender o real, mas a aprofundá-lo. Ora aprofundar o real, criar até um novo real, era a preocupação do jovem crítico que publicara um ano antes as notas neo-realistas da revista Aqui e Além.
De imediato o livro correu aquela roda de rapazes que se cruzava no Café com ruído, Cruzeiro Seixas, Fernando José Francisco, Fernando Azevedo, Marcelino Vespeira, João Moniz Pereira, Pedro Oom, António Domingues, quer dizer, todos ou quase todos os que haviam colaborado ou estado próximos do suplemento “A Arte” do vespertino portuense A Tarde e que logo após davam forma e alma aos primeiros colectivos surrealistas em Portugal.
O autor dos poemas de Cansado, mais tarde, no ano da morte de O’Neill, contou assim a história (Semanário, 18-10-1986): Foi, aliás, o O’Neill que um dia trouxe para o café e pôs em cima da mesa, com visível cara de caso, mas sem dizer palavra, a “História do surrealismo”, de Maurice Nadeau. Já a lera e passava-me a mecha, a ver o que sucederia. O que sucedeu foi o início duma gritaria tal que ainda hoje se ouve (…). Outra versão, mais íntima, mais comovida, está em carta para Laurens Vancrevel (13-5-86): Nunca esquecerei a nossa camaradagem, nos anos 46-48 (mesmo antes!), nem o dia em que ele apareceu no café com a Histoire du surréalisme, de Nadeau, debaixo do braço. Passou-me simplesmente o alfarrábio, e disse: Tens de ler isto! Isto era o surrealismo.
Que poder podia ter um livro como essa história do Nadeau, hoje quase banal e que Breton chegou a menosprezar, se bem que de forma ambígua? O poder dum livro não depende tanto dele como das circunstâncias em que surge e do leitor que o lê. Se isto for assim, o volume que então correu de mão em mão teve todo o poder que um livro pode ter. Mudou a vida para sempre daqueles rapazes. As más-línguas de hoje dirão que no momento em que o livro chegou a Portugal nem a palavra surrealismo se conhecia aqui, quanto mais o seu miolo. Mesmo que isto seja fazer vista grossa, o que se sabia era pouco e não chegava para ter sequer uma ideia segura do assunto como se vê das alusões que Cesariny e Pedro Oom lhe fazem em 1945. A história é uma arte de contar e por isso seduz o ouvido. Mas a história tal como a conhecemos desde Heródoto é também um monumento clássico, geométrico, com a sua ascese, as suas colunas dóricas ordenadas com rigor – uma ciência sóbria e triste. Quando troca o seu quê de cinza por alguma viva chama, como sucede na dramaturgia histórica de Oliveira Martins, vêm todos à grita jurar que aquela elegância não pode ser história. Clio tem por força de ser uma mulher feia e muda. Talvez por isso André Breton, que sabia que o mito não tinha história, encarou sempre esta dama com um misto de cautela e desconfiança. Não lhe voltou as costas, mas retraído e calado também não se aproximou.
Seja como for, em terra mexida e pronta a ser semeada, como era a dos muitos Cafés cheios de fumo azul da Lisboa do final da segunda grande guerra, o livro de Nadeau, seduziu e cumpriu a missão que trazia e mesmo a que não trazia. Notícia das várias etapas que o surrealismo vivera desde a fundação até às descobertas recentes nos Estados Unidos foi então dada aos arborícolas da Baixa e Avenidas Novas. A rapaziada que passara com um bocejo pela Mocidade Portuguesa e depois pelas organizações juvenis da oposição ao Estado Novo abriu de espanto a boca. Receberam o sentido anti-artístico de Dádá, os processos e as técnicas do automatismo psíquico que estavam na origem do surrealismo e da sua ruptura com a anti-arte de Dádá, a evolução desses processos ao longo de duas décadas, a adesão ao materialismo dialéctico e ao Partido Comunista, a história tumultuosa da ruptura com este e as críticas incendiárias à evolução da União Soviética. Aquelas letras eram uma lufada de ar fresco em meio miasmático, pútrido, paralisado, que não havia maneira de mexer desde o golpe de 1926. Até o neo-realismo, que gerara tanta esperança e tanta agitação, não era senão um fruto serôdio do sindicalismo operário da velha e inicial República; estava longe de ser uma novidade, não passando duma adaptação epigonal do passado. A forja e a bitola eram agora as novas directrizes de Moscovo, cujo ar além de póstero era muito mais enfadonho e sufocante.
A adesão de Mário Cesariny ao surrealismo foi imediata e incondicional. Nunca mais dele se desprendeu e toda a sua vida a partir desse momento se regeu pelas metas do movimento. Que razões podem estar na base dum conúbio assim indissolúvel? Antes de mais, a ideia de que o surrealismo não era um anti-realismo. Não desejava transcender a realidade, menos ainda aboli-la, mas aprofundá-la, somando-lhe novos estratos mais livres, mais absolutos, mais apaixonantes – ideia esta fundadora do movimento como o podia ser a camada subliminar da consciência na psicanálise. Uma tal proposição surgiu-lhe afinal como coisa sua. Encontrou-a nas primeiras linhas do livro de Nadeau mas estava já inscrita na sua mente. Só assim se entende que já nessa altura pudesse ter escrito os poemas de “Nobilíssima visão”. É por isso que não se sente qualquer palinódia na sua passagem do neo-realismo ao surrealismo. Ele pôde dar a lume “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos” em 1953, os poemas de “Nobilíssima visão” em 1959, os de Nicolau Cansado em 1961 e três anos depois “Um auto para Jerusalém” sem que ninguém na época notasse que se tratavam de criações neo-realistas. Qualquer pascácio das letras em Portugal jurava então a pés juntos que se estava diante de poemas surrealistas. O neo-realismo tal como o meu insubmisso o pensou na origem, um neo-realismo contra o neo-realismo já instalado, não anda longe do surrealismo ulterior a que aderiu. A diferença entre os dois é ranhura mínima e sempre mais de grau que de qualidade. Basta aquela “arte poética” ainda do tempo fundador das “Bucólicas, teóricas e sentimentais”, inspirada em toadas populares e infantis, cheia de infracções, para se perceber como a passagem se fez de forma feliz e contínua. Por isso em entrevista da idade madura (J.L., 3-8-1982) ele dirá que “não vamos dizer surrealismo, vamos dizer poesia”. Isto é uma verdade de prestidigitador e ao mesmo tempo uma profissão de fé. Surrealismo e poesia eram dois nomes distintos para a mesma antiga e veneranda liberdade. Foi com certeza neste transe quando ia a caminho dos 24 anos que Mário Cesariny duvidou da bela Euterpe. A musa da música tinha afinal muito de dirigido, de orquestrado, para quem tanto estimava a cegueira do acaso.
O surrealismo pôs na frente de Mário Cesariny aquilo que ele já sabia e queria, uma nova realidade que fosse muito mais livre e autêntica do que a mísera realidade quotidiana que ele pusera em poemas como “Pastelaria” e “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos” e que só lhe merecera um dar de pés – o suicídio ou o escárnio. Fora ele que dissera um ano antes, em Abril de 1946, na revista Aqui e Além, que a tradução do neo-realismo, mas do neo-realismo tal como ele o sonhava, era a expressão “duma nova realidade” e que a busca dessa nova realidade era o sentido mesmo do neo-realismo. Ora o que havia de aventura e de pesquisa no surrealismo, o que nele se propunha de descoberta e de revelação, de realidade profunda e absoluta, de camadas ocultas à consciência mas tão vivas e tão reais como ela, é que lhe garantiu que havia mais realidade para lá da que os répteis dos bancos e dos ministérios funcionalizavam. Bastava esta consciência para o movimento de André Breton lhe merecer um amor incondicional e indelével, que nada nem ninguém puderam em qualquer momento deter ou questionar.
Houve porém uma gaveta que o livrinho de Nadeau desarrumou por completo na vida do jovem Mário. Foi a da política. Aí a diferença entre o antes e o depois é abissal. Como se viu, a partir de 1941 este adolescente por intermédio da pianista Maria da Graça Amado da Cunha fez um percurso junto de Lopes Graça que o levou a tomar posições contra as potências do Eixo e depois contra o Estado Novo de Salazar, acabando por aderir ao Partido Comunista e à acção que este então desenvolvia dentro do MUD, uma frente anti-fascista interna a trabalhar desde o final da guerra. Já se percebeu que na idade em que o adolescente tem de começar a escolher os trilhos da vida adulta, o meu biografado se sentiu incapaz de optar por um trabalho assalariado, por um curso superior, por uma família e por uma sexualidade normalizada pela moral patriarcal. O seu complexo de Édipo erguera-se em luta renhida contra o pai, com as muitas mulheres da casa a secundá-lo. Nunca aceitou a necessidade dele próprio um dia vir a ser pai e nunca estabeleceu acordo de entendimento mesmo provisório com os valores paternos. Daí a revolta tão viva dos seus primeiros poemas – basta como exemplo “Pastelaria” – e a paixão acesa do anti-fascismo. Mussolini, Hitler, Franco, Salazar eram representações detestáveis da imagem do pai autoritário que ele combatia. Daí ainda se poder encarar a sua apaixonada homossexualidade como um desafio aos valores do pai e da perpetuação da autoridade deste em relação aos filhos. Através da homossexualidade ele teve a garantia de que nunca se encontraria no lugar horrível do pai. A única situação que no amor ele queria era a de amante – a de “homem mãe”, título de resto dum poema pouco posterior – e nunca a de pai – a de homem pai. Homossexualidade e poesia foram para ele duas realidades próximas, se não coincidentes. Na derradeira entrevista afirmou que as primeiras experiências homossexuais aconteceram em 1942 (O Sol, 7-10-2006), na mesma época que a poesia lhe surgiu como uma senda, embora involuntária. Se a homossexualidade lhe dava a garantia de que nunca seria no amor o pai, a poesia assegurava-lhe que no trabalho nunca ocuparia o lugar do patrão ou do serviçal. Quer no amor, quer no trabalho, vivia para e pelo espírito. Esta a sua revolução coperniciana que aconteceu no ponto de chegada dos 24 anos – número mágico da ordem cósmica e da totalidade, que rege o ciclo da noite e do dia!
O livrinho de Nadeau veio pela primeira vez chamar-lhe a atenção para o que até então lhe passara ao lado: Estaline! Até aí o guia da União Soviética era o herói de Estalinegrado e de Berlim. Com o livro de Nadeau passou a ser um pai, um pai tão horrível como Hitler, Mussolini, Franco e Salazar, um homem pai que estragara a pátria do socialismo e dela fizera um horroroso ergástulo. Foi na quarta parte do livro que se apercebeu pela primeira vez da feroz perseguição de Estaline aos velhos revolucionários de 1917, dos processos de Moscovo de 1936, do assassínio de Trotsky, do conservadorismo moral do regime soviético, da negação dos primitivos ideais da revolução com a reabilitação de valores tão execráveis aos olhos do jovem Mário como a pátria, a escola e a família heterossexual. Nadeau era prosélito de Trotsky e da oposição de esquerda, de resto como o Breton da década de 30, e não poupou no retrato. Ora, o autor dos poemas de Cansado, como se tira do texto com que fechou no Outono de 1945 a sua colaboração no suplemento “A Arte”, sobre a nova música soviética, acreditara piamente até aí que uma sociedade livre de exploração e de dominação estava a ser construída na União Soviética. Ele foi dos que acreditou com o sangue escaldante dum ardente e destemido leãozinho que a revolução aberta por Lenine era o farol que sinalizava a costa benquista do futuro. O livro de Nadeau funcionou assim como um poderoso emético que o obrigou a vomitar com náusea parte das teorias políticas que até aí bebera. Deixou o Partido Comunista e as actividades no M.U.D.; afastou-se de Lopes Graça, do piano, do canto e dos grupos que se reuniam na sede da Rua Marcos Portugal. Em seu lugar decidiu entregar-se à poesia e ao seu outro nome que acabara maravilhado e surpreso de conhecer – surrealismo. O movimento fundado por Breton apareceu-lhe como uma estrela fulgurante no céu de Maio, aquela pela qual ele esperara sempre com uma fé teimosa e entranhada. Era a sua nova noiva alquímica.
Olhando hoje as bodas que então tiveram lugar nessa Primavera de 1947 percebemos que o casamento de Cesariny com o surrealismo foi um acaso feliz. Ele tinha um bravo e apaixonado coração de leão, que recusava todas as felonias e todas as opressões. Nunca se podia satisfazer com um partido estalinista e mais tarde ou mais cedo a sua decepção seria imensa. Num espírito resoluto e irónico como o dele uma desilusão dessas se não desse suicídio faria dele um cínico irremissível. Assim nem precisou de magoar um dedo. Descobriu a tempo uma empresa que estava à altura do seu ardor e pôs-se ao seu serviço. Foi bem mais afortunado do que o velho Antero que tudo o que descobriu para servir foi o realismo de antanho, tão frio e tão seco como uma lente de microscópio e ao qual nunca se adaptou. Nem mesmo a revolução social, na qual ainda vislumbrou o deslumbrante raio de sol da sua vida, chegou a ser para esse pobre micaelense o pólo positivo do seu princípio activo.
Nada disto foi despropositado e veio fora de tempo. Há quem tenha o desplante de dizer que o surrealismo foi serôdio em Portugal. É ignorância ou desconsideração propositada. Quem conheça a história do movimento e o passo gigante que foi a estadia de Breton nos Estados Unidos e ainda o seu regresso afirmativo a Paris não pode levar a sério tal atraso. A 25 de Maio de 1946 o autor de Nadja descia no Havre para logo no dia seguinte entrar em Paris e regressar ao seu velho apartamento da Rua Fontaine. Na bagagem trazia a descoberta de Fourier e dos índios Hopis, dois ou três novos livros – um capital para nova etapa política, Arcano 17 (1944) – e o programa dum novo manifesto, os “prolegómenos a um terceiro manifesto do surrealismo ou não”, dado a lume do outro lado do Atlântico em 1942. Mais que não fosse pelo mito dos Grandes Transparentes, em que deixa de vez o antropomorfismo do pensamento moderno, esses preliminares valem uma ciência. Não tardou em sonhar um projecto de grandes dimensões, uma exposição surrealista internacional em Paris, que com a ajuda de Marcel Duchamp pôs em marcha no final do ano e cujo eco chegou a Portugal no início do ano seguinte por meio de António Pedro e Cândido Costa Pinto. Foi neste momento que Cesariny viu a caravana a andar. É provável que nenhum momento fosse tão auspicioso como este para entrar e seguir com ela. Se isso tivesse sucedido dez anos antes, o surrealismo português teria sido muito mais franzino. As obras de Pedro e de Costa Pinto aí estão, nos academismos, na colagem ao verniz da superfície, nas tergiversações, a provar o que ele teria sido.
Nessa Primavera de 1947, com a leitura do livrinho do Nadeau, quatro rapazes na pacata Lisboa das leitarias de bairro fizeram profissão de fé no surrealismo: Alexandre O’Neill, origem de tudo, Mário Cesariny, que veio logo de seguida, António Domingues e João Moniz Pereira, ligados ambos aos supostos teóricos do grupo que fizera o suplemento “A Arte”. Eis os quatro soldados que então juraram em Lisboa bater-se pelo surrealismo e não desarmarem sem antes verem o movimento a andar entre nós. Todos eles tinham pouco mais do que 20 anos, bonita idade para atear estrelas coloridas na noite espessa e escura que era então Portugal. O surrealismo subiu-lhes à cabeça como um licor forte e doce que os inebriou e lhes deu um vigor novo e desconhecido. A campanha avançou com o fervor que as causas ardentes estimulam. Encetaram-se pesquisas colectivas e pessoais no campo do automatismo verbal e pictórico. Era por meio dum jogo que o surrealismo tinha a singularidade de aceder às novas realidades do espírito. Dos resultados se dirá adiante, pois o meu biografado esteve à testa deles. Aproveitou-se ainda o grande evento de Paris que tinha lugar no Verão e que reunia os mais importantes nomes do surrealismo mundial. Com a desculpa dos estudos e da necessidade de os prosseguir, Cesariny e Moniz Pereira arranjaram os meios de partir para Paris no Verão. O homem que serviu de mediador foi Cândido Costa Pinto. Conhece-se carta (24-3-1947) de Costa Pinto a Breton, propondo participação sua na exposição, e resposta de Breton (12-5-47), aceitando com entusiasmo. Pinto em Junho partiu para Paris onde encontrou Breton, assinando com António Dacosta, este a viver em Paris, onde ficaria longos anos, a declaração manifesto que na abertura da exposição o movimento lançou, Rupture inaugurale, que formaliza o corte com a política partidária do marxismo-leninismo. Depois disso a aventura política de Breton e do surrealismo andará sempre e um pouco por toda a parte em companhia libertária – ou na sua vizinhança. Os quadros de Costa Pinto não chegaram a ser pendurados nas paredes da galeria Maeght mas foi ele que trouxe para Portugal os contactos que abriram caminho a Cesariny para em Setembro se encontrar com Breton em casa deste, na Rua Fontaine, encontro que selou de forma irrevogável o pacto do português com o surrealismo e abriu a porta à formação do Grupo Surrealista de Lisboa, porta que Costa Pinto já entreabrira nos anteriores encontros com o autor dos manifestos na galeria Maeght.
Moniz Pereira, cuja família tinha a satisfação do dinheiro, partiu para Paris ainda em Julho e só regressou em Novembro. Tão larga estadia só se justificava com estudos à mistura, decerto na Academia Grande Chaumière onde ensinara Fernand Léger. Por esta escola passava todo o menino de bem de Lisboa que se queria artista. Para lá fora Maria Helena Vieira da Silva no momento em que se decidiu pelo desenho e pela pintura. E lá conhecera Arpad Szenes, com quem casou em 1930. Cesariny só partiu em Agosto, porventura já após o seu aniversário, já que a primeira carta que se conhece de O’Neill e de Domingues para ele tem a data de 17 de Agosto, isto num momento em que nem Mercedes Cesariny, a mãe, conhecia ainda o seu endereço certo (v. Contribuição ao registo de nascimento…, 1974; in As mãos na água…, 1985: 285). Também ele tinha como pretexto as lições da famosa escola. Levava de Lisboa os nomes e os contactos que Costa Pinto lhe passara e acabou por ficar instalado, por certo por manobra do seu principal esteio nesta viagem, a mãe, num quarto do colégio de Espanha, na cidade universitária. Dos três contactos que Pinto lhe passara – Breton, Frederick Kiesler e Georges Heinen – só Breton ainda estava em Paris. Conhece-se carta (14-9-47) de Cesariny a Breton, a única conhecida até hoje do português para o francês, em que este se queixa de que Heinen partiu para o Egipto e Kiesler, vindo de Nova Iorque, já não se encontra no endereço provisório que ocupara enquanto se dedicara com Duchamp à montagem da exposição. Essa carta é um dos documentos mais calorosos e emocionantes que nos ficaram de Cesariny e dos mais reveladores da sua personalidade franca e leonina. Tinha 24 anos no momento em que a escreveu e um enxofre húmido e inflamável a trabalhar dentro dele. Escreve em francês, que é língua que bebeu quase no leite materno, no andar da casa da Rua da Palma, e que toda a vida praticará com uma graça inimitável. As cartas que mais tarde escreveu a Arpad Szenes e a Guy Weelen são peças macias e civilizadas, com um pico acidulado de génio e maledicência que só a língua de Rabelais, fina e flexível como um florete, lhe podia dar. A dado momento, diz a Breton (Três cartas inéditas para André Breton, 2015 : 63): Pour moi, je suis passionnément attaché au surréalisme et je n’attends que de vous entendre, que de vous parler. Si ça ne vous dérange pas beaucoup écrivez-moi deux mots pour un rendez-vous quelque part ; L’Expo surréaliste va fermer et je ne suis pas sûr de vous trouver là.
Quando se olha a data desta carta, já do meado de Setembro, é inevitável uma dúvida. Porque razão o meu biografado, chegado a Paris entre 10 e 15 de Agosto, esperou mais dum mês para procurar o autor de Nadja? Das primeiras coisas que o português terá feito em Paris quando lá chegou foi visitar a exposição da galeria Maeght, que abrira a 7 de Julho. Esperava aí encontrar Breton. Foi então informado que Breton e Elisa haviam deixado Paris – passaram o mês de Agosto num hotelzinho do Lion d’or em La Chaise-Dieu (Haute-Loire) atraídos pela extravagância mineralógica do lugar – e que só regressariam no meado de Setembro. Ao que sabe o autor dos manifestos não respondeu à missiva do jovem português, não por desagrado com o que lá se dizia que só podia cair bem a um ser aprazível e combativo que à imagem do Sol viveu sempre rodeado de satélites, mas porque cartas daquelas, no momento do evento parisino de 1947, com mais de 40 mil visitantes, eram às centenas e mal lhe ficava tempo para as ler. Por tal razão, e pela ansiedade em que fervia, o jovem Mário foi bater à porta da Rua Fontaine, que se lhe abriu. Breton dispôs-se a tratar com ele. Tiveram depois dois encontros, um no café da Place Blanche e outro na galeria Cahiers d’Art, e os assuntos que estiveram em cima da mesa foram o G.S.L., de que O’Neill e Domingues se ocupavam lá longe, em Lisboa, e a colaboração que o autor de Nadja podia dar ao empreendimento, de que tinha já conhecimento pelos encontros tidos com Costa Pinto. Aceitou de bom grado o encargo de apresentar por escrito o primeiro número do boletim surrealista que o meu biografado se comprometeu a assegurar dentro do grupo português a criar.
Outro encontro decisivo em Paris nesta época foi Victor Brauner. Costa Pinto passara-lhe o contacto de Heneim, que estava ligado ao movimento desde 1934 e que em 1947 aderira ao grupo “Cause surréaliste”, de que se tornou um dos responsáveis – os dois outros eram Alexandrian e Henri Pastoreau. O primeiro era quatro anos mais novo que Cesariny e Pastoreau da mesma idade de Heinem; representavam uma jovem geração muito atraída pela internacionalização do surrealismo. O grupo funcionava como secretariado independente de ligação. Essa vocação relacional explica o contacto de Costa Pinto e a insistência com Cesariny para encontrar Heneim. Na ausência deste, o autor de “Nobilíssima visão” falou com Pastoreau (idem, Mário Cesariny, 1977: 46), que o levou até Victor Brauner, cuja participação na organização da exposição da galeria Maeght fora de primeiro plano. Quem era Victor Brauner? Um pintor romeno a viver intermitentemente em Paris desde 1930 e que depois duma primeira inquietude vanguardista aderira ainda no final da década de 20 à introspecção surrealista. Acabara de criar um objecto de funcionamento vivo, um ser mito, o Lobo-Mesa, com presença irradiante, lado a lado com os altares voudus na exposição de 47. Desde a época da guerra que estava a reabilitar no contexto da pesquisa surrealista os seus picto-poemas de juventude, inspirados numa síntese futurista-dadaísta, e que no primeiro momento do pós-guerra estavam a evoluir para uma pintura onde as imagens surgiam como escrita cifrada do universo interior. Nascia assim uma nova inscrição hieroglífica. O encontro entre Cesariny e Brauner foi da maior importância para relançar o interesse do primeiro pela actividade pictórica, embrionária até aqui, se bem que decidida, mostrando-lhe que as fronteiras entre criação poética e plástica eram apenas convenção cultural. Poesia e pintura eram uma e a mesma coisa. A ideia duma picto-poesia é porventura a que melhor cobre no português as múltiplas experiências que nesse tempo encetou com as palavras, os traços, as imagens e as tintas e que mais adiante se comentará. A Brauner consagrou o jovem Mário ainda nesse ano de 47 uma homenagem pictórica, mais tarde perdida mas refeita em 1970. Será ele o único desse tempo inicial de Paris com quem manterá uma curta mas calorosa correspondência no seio do grupo de Lisboa.
Uma terceira figura tinha tudo para varar o jovem de 24 anos que esteve no Verão de 1947 em Paris. Falo de Antonin Artaud – mimo, poeta e índio branco, que passara uma década internado num hospício para doidos e só em 1946 saíra em liberdade, para logo ser homenageado no teatro Sarah-Bernhardt (7-6-1946) e pouco sobrevivendo à homenagem. Na estação que Cesariny passou em Paris, Artaud também lá estava, mas febril, seco, fantasmático, sem entrar em Cafés nem visitar galerias, escrevendo com o sangue as derradeiras mensagens de náufrago, uma das quais, Pour en finir avec le jugement de Dieu, proibida pelo censor gaulista. O português não se chegou então a dar conta dele, que morreu pouco depois, no início de 1948, aureolado pela glória de ter escrito nos tempos heróicos da revista Révolution surréaliste as cartas insurreccionais ao Dalai Lama e aos reitores de todas as universidades europeias. Partiu deste mundo com o prestígio de ter sido um dos raros surrealistas iniciais que não quiseram a ligação ao marxismo-leninismo e o único que partira a loiça num panfleto estrondoso, À la grande nuit ou le bluff surréaliste (1927). A sua luz superior era porém ter deixado a Europa nos tempos da peste castanha para ir viver com Tarahumaras no México e ser iniciado nos seus ritos de contacto supra-natural. Só aqui, no momento da morte do grande doido, o meu biografado deu conta dele. Artaud tinha tudo para se tornar um dos seus fantasmas pessoais, até mesmo o facto da primeira aparição pública de Breton depois do fim do seu exílio ter sido em Junho de 1946 no teatro Sarah-Bernhardt para homenagear o seu velho companheiro – acto a todos os níveis simbólico. Anos depois, em 1982, verteu-lhe para português um livro, Héliogabale ou l’Anarchiste couronné, e afirmou em entrevista (J.L., 3-8-1982) que Breton levou as coisas até um limite que parece final; o Artaud vai além disso, foi buscar outras civilizações, uma anti-linguagem. O meu biografado estava à época desta entrevista obcecado por um limite final, em que ele próprio se debatia. O autor dos Tarahumaras surgia-lhe então como o batedor que soubera transpor a derradeira barreira que separa o humano dos espaços ilimitados.
O regresso de Cesariny a Lisboa aconteceu na segunda metade do mês de Outubro, antes pois de Moniz Pereira. Quando chegou, havia já mais duas adesões ao grupo inicial, Fernando Azevedo e Marcelino Vespeira, ambos da escola das artes decorativas António Arroio, do Herminius e do suplemento “A Arte”. Entretanto Cândido Costa Pinto fora afastado das reuniões por transigência com o Secretariado Nacional de Informação de António Ferro. Ia caminho das quatro décadas de vida, e, embora tivesse sido dos primeiros a assinar as listas do M.U.D. em 1945, não dava mostras de estar disposto a deixar as exposições promovidas pelo regime – lugar-comum aliás dos pintores da oposição. A roda destes jovens dava de barato os consensos e fazia tábua rasa dos tiques que todos tinham. Quem os visse à distância, diria que se tratava duma trupe de meninos bonitos à espera duma desforra antes do casamento. Era porém confusão. O que eles eram não se via logo e só hoje se percebe. Tinham uma funda na mão chamada surrealismo e confiavam tanto nela que estavam dispostos a sair a terreiro contra o gigante Golias. António Pedro, interpelado por O’Neill, aceitou juntar-se ao grupo e cortar com Costa Pinto, de quem era então próximo. Na carta que Pinto escrevera em Março para Paris cita-o de entrada como um trunfo. Estavam as coisas neste pé, quando Cesariny desembarcou no Rossio com o seu sorriso de láparo malandro. Passara dois meses e meio em Paris, lera, escrevera poemas, fizera experiências com tintas, lápis e vernizes, realizara colagens, comprara livros e revistas. Vinha com um lote formidável de compras, tudo moeda que Costa Pinto lhe passara em nome do grupo a fazer. Trazia três números da luxuosa revista Minotaure, dois da revista Le surrealismo au service de la révolution, a edição de 1946 dos manifestos do surrealismo, também conhecida como edição Sagittaire, a primeira a ter uma abrangência e perspectiva de conjunto, se bem que lhe faltasse um texto capital que só em 1953 nasceria, “Du surréalisme en ses oeuvres vivantes”, e muitos outros livros, que perdeu de vista no momento em que deixou o G.S.L., o que não tardou assim tanto a suceder como o leitor verá.
Os cafés de Lisboa estavam nessa época entre o salão e o nicho. Alguns deles tinham barbearia, manicure, engraxador, tabacaria, restaurante, salão de bilhar e sala de jogo. Faltava-lhes só o cinema e o serviço de cama para serem uma cidade em ponto mínimo. Passava-se um dia no café sem se dar por falta de coisa nenhuma. De manhã fazia-se a barba, arranjavam-se as unhas, liam-se os matutinos, aguardava-se o almoço. De tarde recebiam-se os amigos em tertúlia, tomava-se café, fumava-se, discutiam-se os pontos do dia. Depois, enquanto se fazia tempo para jantar, liam-se os vespertinos e engraxavam-se os sapatos. À noite jogava-se o bilhar ou o dominó. Estes grandes salões da primeira metade do século XX eram frequentados só por homens e as primeiras mulheres, quase todas estrangeiras, apenas entraram nos cafés de Lisboa no momento da segunda grande guerra, quando os foragidos do nazismo aqui chegaram à procura de vistos para a América. Foi nos cafés que o G.S.L. nasceu. A saída de Costa Pinto deu-se ou seguiu-se a uma reunião no Café Smarta, ao pé da Avenida da Liberdade – a mesma em que Pedro entrou. No momento da chegada de Cesariny de Paris, o grupo em formação reunia-se numa pastelaria recente, muito atractiva, A Mexicana, que ficava no ponto de encontro da Avenida Guerra Junqueiro e da Praça de Londres, acabada ao tempo de construir. No texto “Para uma cronologia do surrealismo em português” (1973), o meu autor carimbará o surgimento do G.S.L. desta altura, final de Outubro de 47. Não tardaram porém a abandonar os Cafés, mudando os encontros para a confortável casa do mais velho, António Pedro, nas imediações do Campo Pequeno, onde se lhes juntou – Cesariny diz que só no início de 1948 – um jovem valete, José-Augusto França. A mudança mostra o ascendente que Pedro, quinze anos mais velho do que O’Neill, ganhava. Estava feito o G.S.L. tal como a história o fixou – O’Neill, Cesariny, Domingues, Moniz Pereira, Vespeira, Azevedo, Pedro e França (por ordem de entrada).
É altura agora de observar a criação de Cesariny neste período. Em dois meses e meio de Paris, com o tempo à sua disposição e com os potentes excitantes que tinha à sua volta, tanto em livros como em conversas nos Cafés, nas galerias e nas livrarias, é natural que a sua acção criativa tenha neste momento sofrido um poderoso empurrão. Foi uma febre que subiu muito alto, dando lugar a um conjunto de criações sucessivas, poéticas e plásticas, da maior importância.
Comecemos pelas colagens. A colagem ou collage, para a diferenciar do mero acto de colar, é um meio de composição que se socorre de recursos pré-existentes. Mostra antes de mais a artificialidade das fronteiras entre a poesia e pintura, pois a collage tanto diz respeito a uma como a outra. O processo não foi invenção do surrealismo, que apenas se apropriou dele, desviando-o para o campo dos seus interesses próprios – revelar uma outra realidade, esquecida, oculta, recalcada. O automatismo psíquico está na collage condicionado e subordinado a um conjunto de elementos prévios, ponto de partida do trabalho posterior de composição. A collage surrealista é uma vara de vedor em que o acaso e o descontínuo ficam livres para manifestar em plenitude as suas potencialidades subversoras e criativas de sentido duplo.
O jovem Mário deitou mão em Paris a este processo e fez um conjunto de recortes tanto de palavras como de imagens de modo a ter à disposição os materiais prévios da collage. Obteve assim frases de jornais, imagens de revistas e de cartazes com que montou depois poemas e quadros. O trabalho intitulado “General de Gaulle…”, colagem sobre papel, atribuída ao ano de 1947, em que se vê uma farda militar nazi, de cujas calças traçadas sai um pé de senhora calçado de sapato de salto alto, com a cabeça do general De Gaulle poisada no colo, pode pertencer a esse curto período francês, obtida com imagens recortadas em vulgares revistas da época, não obstante o seu autor ter declarado que ela ainda correu no coral de Lopes Graça. De seguro, sabe-se que essa foi a sua primeira collage (As mãos na água…, 1985: 313). A crítica à figura do pai atinge aí uma crueza difícil de suportar, ao recusar distinguir vencedores e vencidos da guerra. O recalque sexual da vida militar, emblema gritante da vida social moderna, em que fábrica e escola se equivalem à caserna, é aí satirizado de forma desapiedada e indecorosa – ele dirá, capciosa. A corrosão sarcástica que está presente no todo faz da imagem um dos documentos mais patéticos, mordazes e desiludidos do pós-guerra europeu, se não mesmo o trecho premonitório de episódios futuros da vida do seu autor que sob o olhar severo de De Gaulle passará mais tarde, em 1964, uma curta estação infernal no cárcere de Fresnes, como o meu leitor terá ocasião de conhecer.
Idêntico processo de composição, com recurso à reunião arbitrária por meio de colagem de elementos prévios, desta vez verbais, foi usado nessa época para compor um conjunto de poemas, só publicado mais de 30 anos depois em Primavera autónoma das estradas (1980), com o título de “encontrado perdido”. São quatro poemas, um deles de várias páginas, que parecem todos compostos com títulos de jornais e todos compostos em Paris, em 1947. Um deles, “sur la mort”, resulta mesmo da colagem directa dos títulos de jornal no papel, notando-se quer as diferenças dos tipos, uns em negrito e em caixa alta e outros em itálico fino e em caixa baixa, quer o desajuste dos corpos, alguns pequenos, típicos de notícias locais, e outros em letras capitulares de primeira página. André Breton, no manifesto de 1924, que o meu trânsfuga terá lido pela primeira vez em Paris, propõe como meio privilegiado de obtenção de imagens surrealistas – imagens que apresentam um grau de arbitrário tão elevado que se tornam motivo de estupefacção (é o caso do título do livro atrás citado, “primavera autónoma das estradas”) – o corte de títulos de jornal, inteiros ou não, que são depois reunidos da forma mais gratuita possível. Breton exemplificou o processo com a reunião (“assemblage”) de vários títulos e fragmentos colhidos nos jornais, obtendo assim um longo poema de três páginas reproduzido nas páginas do manifesto. Para lá das imagens pessoais chocantes e irracionais, como “la photo/criait/ je ne veux pas”, o que autonomiza e singulariza o texto é a introdução de imagens a acompanhar as palavras. Este processo – cruzar elementos imagéticos com palavras chegadas em directo dos títulos dos jornais e reunidas no papel de forma arbitrária – será praticado pelo autor até ao fim da vida. A cidade queimada (1965), livro constituído por nove poemas, apresenta quatro obtidos por meio da collage verbal com mistura de elementos imagéticos. Tal como em 1947, os materiais prévios, ao menos de natureza verbal, são oriundos de jornais franceses da época – as collages verbais do livro de 1965 terão sido feitas numa cela de Fresnes entre Setembro e Novembro de 1964. Muito mais tarde, em 1990, voltará a recorrer a idêntica técnica, desta vez com maior presença de imagens, obtendo vários poemas, de que publicou cinco na revista Espacio/espaço escrito (Badajoz, Inverno, 1991).
A collage verbal não resulta apenas deste método elementar – colar de forma arbitrária palavras previamente recortadas em jornais numa folha de papel – mas pode também recorrer a um processo muito mais sofisticado e de mais vastas consequências linguísticas, o desmembramento de palavras, cujos elementos são depois reunidos de forma arbitrária, criando um novo vocabulário. Cesariny serviu-se também deste processo de forma copiosa ou em Paris ou de imediato, nos momentos seguintes ao do regresso, obtendo um livro maior, crucial, Alguns mitos maiores…, que em breve se retomará. O processo já estava em circulação e a primeira vez que surge no seio do surrealismo é em Max Ernest, um collagista genial e experiente, que desde os cruéis tempos do dadaísmo se entregava à combinatória inopinada de fragmentos visuais e verbais. Obteve pelo método acima descrito – desmembramento de palavras usuais e recomposição de novas e invulgares com a reunião arbitrária das partes – a palavra “Phallustrade” que no Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938) definiu assim: É um produto alquímico composto dos seguintes elementos: auto-estrada, balaustrada e uma certa quantidade de falos. Uma “Falustrada” é uma collage verbal. O processo é porém muito mais antigo e os cabalistas judaico-cristãos já o conheciam e usavam.
Os restantes três poemas de “encontrado perdido”, criados em Paris, no Verão de 1947, singularizam-se por não apresentarem de forma directa os fragmentos dos jornais. Estão escritos à mão e dá ideia que depois de obtido o poema através do processo de collage verbal elementar das várias peças, Cesariny se entreteve a copiar à mão o resultado, desta vez sem imagens plásticas. Num deles, o primeiro, “Lait d’un dieu!”, chegou a reproduzir com fidelidade máxima os corpos e os tipos jornalísticos, tão diversos entre si em tamanho e desenho. Nos restantes usa uma caligrafia idêntica, sem os sobressaltos das diferenças tipográficas, mas os resultados parecem obtidos pelos mesmos processos Não custa admitir que o primeiro poema que escreveu segundo uma técnica comprovadamente surrealista – já sabemos que para ele a poesia era estruturalmente surrealista sem precisar do surrealismo e daí o efeito “surrealista” dos seus poemas neo-realistas e até dalgumas das suas composições iniciais como “arte poética” ou “corneta” – tenha sido “sur la mort”, logo seguido pelo “Lait d’un dieu!”. Este tem já a intervenção da escrita e do desenho que aquela requer para reproduzir títulos jornalísticos e não apenas o recorte e a collage, como reunião arbitrária dos materiais prévios. Os dois seguintes parecem representar uma fase intermédia para os poemas que escreveu de seguida em Paris e a que chamou “Les hommages excessives” [sic], que tiveram uma primeira publicação na revista Transforma(c)tion (n.º 6, Londres, 1973) e publicados depois em Primavera autónoma das estradas (1980). Esses dois poemas não têm qualquer aspecto tipográfico – isto na edição de 1980 porque na edição de Poesia (2017: 462-470) eles surgem numa versão desenhada, próxima do desacerto gráfico dos jornais – e a sua mancha afasta-se da mancha típica da collage verbal tal como Breton a apresentou no manifesto de 1924, embora tudo aponte para que se trate de poemas obtidos pela reunião gratuita de farrapos jornalísticos, quer dizer, collages.
“Les hommages excessives”, tal como apareceram na edição de 1980, são nove curtos poemas dedicados aos diálogos próximos do autor na época de Paris – Breton, Brauner, O’Neill, Azevedo e Jarry. Em função de cadernos vários, quase por certo cópias tardias, surgiram depois da sua morte várias versões do conjunto, uma com acrescento dum décimo poema, datado de 1975 e assinado com António Dacosta. Uma derradeira versão das “hommages”, com um poema dedicado a José-Augusto França, que nas versões anteriores surge apenas dedicado “à toi…”, apareceu na edição de Poesia (2017: 471-484), sem que nada da sua ossatura geral se altere. O que interessa reter destes poemas é que eles não foram com certeza obtidos através do processo típico da collage. Esta necessita de materiais prévios, que depois são reunidos de forma gratuita. No caso das “hommages” não temos materiais prévios seleccionados mas materiais que vão aparecendo à medida que o poema vai sendo construído. O resultado é porém o mesmo – imagens gratuitas apresentando um alto grau de choque irracional. Essas imagens confundiam-se com o funcionamento real do pensamento fora de qualquer controle moral, racional e estético. Só elas se libertavam da realidade do dia-a-dia, condicionada por milhares de anos de repressão e recalcamento, exumando estratos mais autênticos de realidade – realidade nova, esquecida e redescoberta. A novidade para o surrealismo é sempre a redescoberta do que já se soube e por força da pressão interior se perdeu. Daí a importância da infância como idade vital e maravilhosa. Aprender é esquecer – ou começar a desaprender.
Nas “hommages” percebe-se que Cesariny dominou muito rapidamente a obtenção de imagens com esse poder de gratuidade e de choque. Não lhe foi difícil colocar-se na situação de transe em que as imagens verbais surgem ditadas naturalmente pelo pensamento – é o que sucede a qualquer um no momento de adormecer e começar a sonhar. As censuras interiores abrandam e tudo o que se esqueceu, tudo o que se desaprendeu e recalcou pode invadir os terrenos vagos do “eu”. Por isso mais tarde ele fez questão de ser fotografado em pé, de olhos fechados, como se estivesse a assistir e a registar de forma consciente a passagem dos seus sonhos – esse teatro interior que é o real funcionamento do pensamento fora de qualquer controle exterior. A arte poética que desde 1941 ou 42 se lhe impôs como uma revelação irrecusável ajudou-o certamente a adestrar com rapidez essa captação do processo mental interior. Desde os primeiros poemas que o acto criativo era nele tutelado pela poesia e não pelo poeta. Ele habituou-se desde muito cedo a aceitar o poema como uma dádiva do daimon – o anjo demónico – e não como fruto da sua vontade. Daí a facilidade com que se adaptou ao processo criativo surrealista que implica um abandono e até um adormecimento da consciência a favor duma corrente mental que surge como fruto independente da volição consciente e que pode ser encarada como a manifestação dum anjo demónico. Um poema tão inaugural e tão infantil como “Corneta”, composto por volta de 1942/43, parece assim obtido por processos surrealistas, sem que nele haja o mínimo indício de surrealismo conhecido e consciente.
O que é novo agora, além da intensidade da entrega, é a multiplicidade de técnicas desenvolvidas para obter as imagens gratuitas, maximamente irracionais, ditadas pelo fluxo interior. Temos assim associações visuais invulgares, através de adjectivações inesperadas, como na homenagem a André Breton, em que este antes de dormir é visto como paleozóico ou muito helicóptero, ou através de acções impossíveis, como deitar água nas vírgulas, como sucede nos versos a Victor Brauner. Exemplos ou achados do género multiplicam-se nestes poemas e constituirão um dos pilares da poética de Cesariny. Outro processo usado nas “homenagens” para captar imagens explosivas, fora do terreno da racionalização domesticada do real, é a aproximação fonética. No poema consagrado a Fernando Azevedo joga com a palavra corbeau (corvo) lendo-a como corp beau (belo corpo). No poema sem destinatário – mais tarde dado como tendo sido feito para João Moniz Pereira – faz o mesmo jogo com a palavra littérateur (literato) lendo-a como lit-tracteur (cama tractor). O mesmo processo é usado na homenagem a Alfred Jarry em que se faz uma leitura de segundo nível dos primeiros versos do hino francês. Veja-se o efeito inicial: à l’Ozenfant de la Poupiii-e/ le jus de gloire est tari. Este processo de desmembramento e reconfiguração das palavras pode ser fruto do diálogo que então manteve por carta postal com Alexandre O’Neill e António Domingues, que em Lisboa se entregavam a experiências de composição por sugestão fonética e as comunicaram para Paris na já referida carta postal de 17 de Agosto (Contribuição ao registo de nascimento…, 1974; in As mãos na água…, 1985: 286-9).
O processo fonético teve porventura mais impacto em Cesariny que o processo visual. Embora a imagem visual esteja quase sempre presente na sua poesia, e com aquele efeito de loucura simulada que toda a imagem que chega de fora provoca, a componente sonora tem uma autonomia e uma firmeza que depressa terá desenvolvimentos inusitados. A formação inicial do autor era o piano e os seus primeiros modelos de identificação foram Chopin, Tchaikovsky, Stravinsky e outros. Quando chegou à poesia esta impôs-se pelo lado sonoro musical. Daí um poema tão antigo como “Arte poética”, do tempo das “Bucólicas, teóricas e sentimentais”, parecer uma pauta de solfejo para repetir tempos e notas. Recorde-se a abertura: creio em deus pá’/ um dois três quá’/ tod’ poderô’/ um dois dois três (…). Quando o automatismo psíquico chegou na Primavera de 1947, ele interpretou-o com esta carga que lhe modelara os primeiros versos. Em vez de se fixar apenas no campo visual, alargou a pesquisa ao espectro sonoro. O poeta tanto devia vigiar de olhos interiores abertos, à espera de poder captar uma imagem visual que surgisse ao acaso na corrente mental interior, como escutar na escuridão uma voz interior que do mesmo rio obscuro, da mesma margem desconhecida emitisse sinais sonoros. Não obstante a carga visual da sua poesia, Cesariny nunca se desprendeu desta parte audível da língua e do que nela magnetizava o mistério inefável.
Daí o jogo fonético a que se entregou de imediato, talvez com um prazer ainda mais evidente que aquele que se nota nas suas pesquisas da imagem visual, e que está para a sua arte poética anterior como o dodecafonismo pode estar para a música clássica. Interessou-lhe desconstruir os elementos sonoros da linguagem verbal tal como ela era usada no dia-a-dia pelos humanos. Fê-lo não por um experimentalismo janota e diletante, que se esgotasse em si, aquele mesmo formalismo que ele tanto castigara nos seus textos críticos de 1945, mas por uma razão muito mais vital. A linguagem verbal estava doente – em carta a Arpad Szenes (1974) dirá que “a maior doença detectada no nosso tempo é a das palavras” – e perdera a glória do seu estado original, pré-babélico. Era pois preciso reconduzi-la à sua força perdida. O labor do poeta era restituir à linguagem verbal a sua vitalidade original mesmo que para isso – e esse será doravante o seu trilho maior – fosse preciso ajudar a morrer as palavras moribundas de hoje. É isso que por exemplo faz com os primeiros versos do hino marcial francês: substitui palavras anestesiadas, cancerosas, instrumentalizadas, servindo a guerra, a pátria e o homicídio, por outras mais vitais, expressão da sua voz interior e do que nela há de universal, de inocência original e de vigor intocado. A técnica que lhe permitiu sarar as palavras foi de natureza musical. No centro da operação terapêutica das palavras, através da desmontagem e da recomposição dos seus elementos sonoros, estava o som e menos o sentido e o que este pudesse ter de cénico e de visual.
Os primeiros ensaios que ele fez com os fonemas frutificaram logo, ou ainda em Paris ou talvez no momento do regresso a Lisboa no final de Outubro, em novas e mais largas experiências, compiladas no livro Alguns mitos maiores… (1958). Sabe-se que este livro começou a ser composto em 1947 – na antologia de 1972, Burlescas, teóricas e sentimentais é esta a data que apresenta para o seu início – e que em 1949 o livro estaria já tão adiantado que António Maria Lisboa na conferência Erro Próprio fala dele como acabado e pronto para edição. Só obstáculos editoriais – diz – impediram a sua publicação até àquele momento (Poesia de António Maria Lisboa, 1977: 91). Como quer que seja, o livro, que em Dezembro de 1949, altura em que Lisboa escreve, se chamava Algumas entidades míticas propostas à circulação, ainda evoluirá durante alguns anos, com acrescentos e cortes. Na antologia de 1972, o seu autor dá-o como acabado em 1954. Na reedição do livro na antologia de 1961, Poesia, manteve os mesmos dezoito poemas da edição original de 1958; introduziu, porém, alterações substanciais no poema final, O Homem Mãe, que de cinco passa a onze versos. Este mesmo poema passa a ter um desenho na antologia de 1972, até aí desconhecido. Quando reeditou o livro na Assírio & Alvim, integrado na colectânea Manual de prestidigitação, manteve as alterações ao último poema e fez desaparecer dois, “O berlinde Berg” e “A estrela”, introduzindo um novo “O artesão”. O livro que começara por ter em 1958 – tudo a leva a crer que assim estaria já em 1954 – dezoito poemas acabou assim nas edições finais do Manual de prestidigitação (1981; 2005), as da Assírio & Alvim, com menos um.
O processo usado no livro Alguns mitos maiores… é novo na poesia portuguesa, embora aproveite uma técnica judaica de exegese da Torah, a cabala fonética, de que os surrealistas franceses tinham notícia e com a qual a técnica da collage verbal de Max Ernest tem afinidade. De acordo com as liberdades desta exegese, a Temúria e Notarikon, é lícito decompor segundo o som uma palavra em duas e recompor duas numa única. Cesariny obteve com este processo um glossário novo e surpreendente, pelo qual renovou o fundo da linguagem poética portuguesa, se bem que este léxico seja intransitivo e lhe pertença em absoluto. É quase impossível esperar que ele possa circular na língua vulgar, integrando os dicionários correntes. Trata-se duma língua poética nova, que recupera a partir da poeira do estrato actual, presente esse nos dicionários, um substrato pré-babélico, em que as suas forças originais irrompem e renascem.
Através da decomposição duma palavra em duas obteve achados deste tipo, em que restituiu à inocência original, palavras manchadas de sangue: soldado = sol dado; soldadesca = solda Desca; artesão = ar tesão; fascismo = faz sismo; assassinos = assa sinos; cabeça = cabe a eça. Por meio da aglutinação encontrou os seguintes neologismos (neste processo de osmose uma das palavras pode sofrer uma supressão ou uma contracção mas não tão funda que não permaneça reconhecível): raparigataúde, almirantexugo, noivadiagem, grafiaranha, aranhografia, homosexoalma, estupropulsor, hèlicereja, diatérmico, vírgulampéragem, crocodilupa e muitos outros. Em muitas destas novas palavras voltamos a encontrar uma inocência original que o léxico anterior à operação não tinha. O processo da justaposição também foi usado (picto-poemas; nave-gado; homem-mãi). Com as novas palavras compôs todo um conjunto de sequências semânticas que só numa primeira leitura são disparatadas. A mensagem subliminar está sempre presente e é por vezes duma eficácia imediata como no poema “a cabeça de arcafaz (sismo)”. O delírio fonético e semântico tem um controle consciente, que encaminha e acondiciona os achados. O poema obtido resulta do compromisso das duas instâncias – a do delírio verbal puro, fonético e semântico, e a da consciência acordada, vigilante que escuta e perscruta. Alexandre O’Neill, mais tarde, fixou num título feliz, Abandono vigiado (1960), este contrato entre as duas partes da alma, a do corrente psíquica subliminar e a da consciência de superfície, que é aliás o que se passa segundo S. Freud na efabulação onírica nocturna, também ela desconcertante e sem sentido apenas na aparência. Mais tarde, recorrendo ao mesmo delírio fonético, recompôs o seu nome numa nova sequência semântica – “O Mar e o Cesariny” – que usou para titular uma exposição sua em 1988.
Com o livro de 1958 estamos ante um trabalho de grande envergadura sobre a linguagem verbal e num dos pontos cimeiros da criação poética do autor. Desde as “palavras raras” de Eugénio de Castro e dos neologismos de Ângelo de Lima que não se assistia na língua portuguesa a uma renovação tão extensa do vocabulário poético. Todo um dicionário desconhecido nasceu neste livro. Se esta acção verbal pode lembrar a de Eugénio de Castro e a de Ângelo de Lima também se afasta delas. Mais que “palavras raras” repescadas em glossários fora de uso, o vocabulário de Cesariny é novo e pessoal, embora possa por vezes ser usado como código entre amigos (v. correspondência com António Maria Lisboa). Por sua vez, os neologismos de Ângelo de Lima são o resultado do desgaste e da transformação dum léxico heráldico e litúrgico (Ama Terassu, Omi-Rami, Ser Ressus, Star de Hierata), que produzem a solene impressão das ruínas das civilizações do passado, ou então são criações que resultam de alucinações auditivas puras (Luctula, Purfictrio, Anxe) e que podem não ter na base palavras conhecidas do estrato actual. O processo de formação dos neologismos cesarinescos segue caminho distinto. No ponto de partida estão sempre palavras vulgares, de uso corrente (soldado, texugo, aranha, grafia, almirante, lupa, rapariga, crocodilo, fascismo, hélice), o que carrega ainda mais o sentido preciso, se bem que subliminar, do novo léxico, que não é assim apenas sugestivo como em Castro e Lima. Trata-se como se disse duma operação terapêutica, dum jogo fonético, que visa depurar a linguagem verbal de hoje, reconduzindo-a a uma inocência e a uma glória perdidas. António Maria Lisboa fala deste jogo de sons como uma forma “de uma cada vez maior de assimilação do irracional” (idem), quer dizer, do que foi recalcado e esquecido pela consciência de superfície a que se chama razão.
A descoberta e o uso que o jovem Mário, aqui a tornar-se no “jovem mágico”, fez das palavras que havia dentro das palavras permitiu que o poeta desenvolvesse uma técnica própria – explorar afinidades sonoras para obter novas palavras e novos sentidos. Esta técnica estava viva na versificação tradicional, através das rimas, das assonâncias internas e dos processos fonéticos de contracção e supressão de sílabas, o que levou este poeta a dizer que surrealismo e poesia eram um e o mesmo nome. Porém, só com a escuta duma voz interior subliminar e secreta, com a consciência do automatismo psíquico tal como ele o bebeu em Paris, esta técnica reveladora subiu à tona, para se manifestar em plenitude, dando lugar aos exemplos das “hommages excessives” e do livro Alguns mitos maiores…. Esta descoberta de que havia palavras dentro das palavras foi depois aplicada à tradução poética – aproximar sons e não sentidos para obter palavras equivalentes em duas línguas. Traduziu assim o título Une Saison en enfer (1873) de Arthur Rimbaud por Uma cerveja no inferno. Do mesmo modo um dos sonetos mais difíceis desse livro, o que começa “Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises”, foi traduzido com o recurso a essa técnica inovadora, cega e irracional, mas de surpreendente efeito poético. É modelar o trabalho feito no segundo verso da segunda estrofe: – ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert!, que é vertido para português deste modo – copo de oiro sem voz, flores de gás, céu alvar! O jovem mágico leva a liberdade poética a forçar qualquer limite. Sem deixar de traduzir, prefere trabalhar as afinidades sonoras, não as de sentido. Mesmo na tradução o que nele domina é o lado audível do verbal. Nunca o poeta retomou em tanta plenitude os seus direitos originais de criador da palavra – não da palavra convencional, construída pela historicidade, pela arbitrariedade do sentido, pelo desgaste da nomeação, mas da palavra pura, ideal, que traduz magicamente o real que designa, convivendo sem distância com a essência das coisas que tanto indica como revela.
Outro ponto modelar desta atenção extrema ao que nos sons existe de sentido é o poema “a cabeça de arcafaz (sismo)”, do livro Alguns mitos maiores…. O desconcerto da composição do poema é apenas aparente e o seu delírio fonético só à primeira vista é disparatado e gratuito. O seu sentido desmonta-se a partir do seguinte segmento: Faz sismo: o ar cai. Caído o ar, fica o caifascismo. É um sentido subliminar, afinal nítido e exacto, apelando à queda do fascismo e figurando-a como inevitável. O poema mostra que no delírio surrealista, como de resto no psicanalítico, nada é gratuito. As incongruências são apenas de aparência; na base têm um conteúdo latente, oculto mas firme, que é possível coar, descodificar e traduzir.
No momento em que Alexandre O’Neill passou a Cesariny a história de Maurice Nadeau, o que aconteceu na Primavera de 1947, acabara ele de escrever uns meses antes “ Louvor e simplificação de Álvaro de Campos” e “Um auto para Jerusalém”. Começara já a pensar num novo livro que talvez ainda não tivesse título. Baptizou-o Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano, título com certeza encontrado no cruzamento do livro que no final de 1946 Henri Lefebvre, intelectual do Partido Comunista Francês – a exclusão só chegou em 1956 – publicou, Critique de la vie quotidienne, uma sociologia marxista da vida do dia-a-dia. É seguro que os textos de Lefebvre circulavam entre os comunistas portugueses, que na ausência duma escola de filosofia marxista em Portugal se socorriam dos teóricos franceses que estavam à mão, numa língua acessível e com mais viva tradição de pensamento. É difícil hoje saber se o encontro com o livro de Lefebvre se fez em Paris, no Verão de 1947, ou ainda na roda militante comunista em Portugal, antes da adesão ao surrealismo. Dada a autópsia nada meiga de André Breton nas primeiras páginas do livro, visto ainda o intuito científico que apresenta, já que a vida quotidiana é encarada aí do ponto de vista duma ciência social a criar, é quase certo que esse encontro terá tido lugar antes da adesão ao surrealismo. No momento desta, alguns poemas do livro estavam já escritos ou haviam sido desviados dos livros anteriores. Assim na primeira edição do Discurso…, em 1952 na editora Contraponto de Luiz Pacheco, um conjunto de poemas anteriores surgem metidos no livro, que apresenta os poemas numerados de I a XXI, com um poema final, “poema podendo servir de posfácio”, único com título e sem número. Foram assim integrados no novo livro poemas já conhecidos: “Pastelaria”, “Tocando para a Basílio Teles”, “Calçada do cardeal”, “Rua 1.º Dezembro”, “Rua da Misericórdia”, que mais tarde nas edições da Assírio & Alvim regressarão ao conjunto original, “Nobilíssima Visão”. É ainda o caso do poema “Herói”, que recuperará dedicado “A Poeta Dr. Joaquim Namorado” o seu lugar nos poemas atribuídos ao homem de letras e intelectual empenhado Nicolau Cansado. Falamos pois de seis poemas num conjunto de 22, o que mostra que o livro, mesmo projectado antes da Primavera de 1947, só teve continuação em momento posterior, depois do regresso de Paris, e ao mesmo tempo que se dedicava às experiências fonéticas de recomposição lexical.
Seja como for, os novos poemas compostos já após a leitura de Nadeau e do afastamento dos círculos militantes comunistas pouco ou nada se afastam destes poemas anteriores, mostrando uma vez mais que não houve ruptura marcada neste autor entre neo-realismo e surrealismo. Um poema como o aí consagrado ao poeta Mário de Sá-Carneiro, hoje dia de todos os demónios/irei ao cemitério onde repousa Sá-Carneiro, talvez a cumeada do conjunto, é o natural seguimento do que se observa e já se comentou nos conjuntos da fase dita neo-realista. Entre a estrofe dedicada ao poeta de Dispersão no Louvor e simplificação… e o poema do Discurso… a continuidade é evidente. Podemos falar do mesmo poema, com a mesma poética e a mesma raiva contra um dia-a-dia asfixiado pela sociedade do dinheiro – sem jeito para o negócio é o verso de fecho do poema dedicado no Discurso… ao colaborador de Orpheu – e que só tem saída ou no niilismo ou no riso, sendo este, o riso, a saída preferida até por preservação. O título do livro é assim irónico, uma paródia corrosiva – e por isso o manteve depois da recusa da versão estalinista do marxismo-leninismo e da adesão ao surrealismo –, como o podiam ser esses lugares que ele se entretivera a mimar nos poemas de “Nobilíssima visão” – Rua da Academia das Ciências, Rua do Ouro, Rua da Bica Duarte Belo, Rua 1.º Dezembro, Rua Basílio Teles.
O que ele diz ou dirá (Mário Cesariny, 1977: 46) a propósito de Louvor e simplificação… – em realidade abjecta, não há nada para reabilitar, sendo a única estrada de fortuna a da vagabundagem social, moral e política – cabe afinal com idêntico escrúpulo ao livro de 1952. A relação dos dois conjuntos, embora de fases distintas, uma anterior e outra ulterior ao surrealismo, é tão próxima que ele chegará a chamar o poema de 1946 Louvor e simplificação do real quotidiano (idem, 1977: 51). Nem tudo é comutável. Uma madeira com formato de trapo vale muitíssimo mais do que um trapo velho e seco com forma de pau. E o mesmo se passa com o 13 que tem um valor muitíssimo superior ao 31. Mas no meu biografado surrealismo e neo-realismo equivalem-se, dizem a mesmíssima criação. Louvar e simplificar Álvaro de Campos foi nele afinal tão paródico como perorar sobre a reabilitação dum real sem resgate!
OPERAÇÃO DO SOL
Os jogos eram até ao advento da cibernética objectos mágicos que uma sociedade utilitária organizada segundo o princípio do máximo rendimento não se mostrava capaz de reconverter em trabalho. Só hoje, por meio da excitação virtual, os jogos foram finalmente domesticados e integrados em práticas que pertencem ao reino da mercadoria e da produção. E quem diz os jogos, diz as viagens, as aventuras e até a vida, que é uma noção ainda mais furtiva que o amor. O lazer é hoje não apenas uma construção social e uma forma de representação; é a última grande arrancada da civilização e aquela que mais dá trabalho dá. Os surrealistas valorizaram muito a prática do jogo, pelo que nele havia de infantil, de desinteressado, de espontâneo, de livre. O jogo é a paixão do acaso e por isso a sua função é idêntica à das associações mentais livres. Jogar é revelar a vida não consciente e trazer à superfície as forças ocultas que dominam a paisagem psíquica subliminar. O jogo tornou-se assim, além de acção lúdica, um dos reveladores daquele real mais livre e mais absoluto que os surrealistas procuraram desencantar nos bastidores escondidos dum real montado segundo o ditame da eficácia económica. Pode pensar-se que os surrealistas foram sobretudo criadores de jogos. Mais que poemas ou quadros, interessou-lhes inventar jogos – e os poemas e os quadros só como jogo lhe interessaram, não como motivos de arte. Há uma brincadeira surrealista que ganhou grande voga, a do cadavre-exquis, que tinha antecedentes em certos usos das escolas infantis gaulesas. Breton definiu-o assim (Dictionnaire abrégé du surréalisme, 1938): Jogo do papel dobrado que consiste em compor uma frase ou um desenho pela mão de várias pessoas, sem que nenhuma delas possa conhecer a colaboração ou as colaborações precedentes. A primeira frase obtida desta forma – Le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau – deu o nome ao jogo.
A jovem geração lisboeta que chegou ao final da segunda grande guerra com 20 anos e que na Primavera de 1947 viu no surrealismo a abertura para um novo real, real esse que o neo-realismo não estava em condições de lhe oferecer, já que o real que estava a forjar era quase tão mesquinho como o da arte patrocinada pelo Estado Novo, aderiu de imediato a este jogo de criação poética e plástica, vendo nele aquele princípio de exaltação e de mediunidade, a que se juntava um cativante anonimato de grupo, que o real condicionado pelo trabalho, pela ordem, pela família e pela razão prática não podia dar. O nome do jogo foi traduzido para português como “cadáver esquisito”, expressão que pode ser da autoria de Cesariny dado o método usado. A expressão francesa não foi traduzida por via do sentido – se assim fosse, seria o jogo do “cadáver elegante” – mas por aproximação fonética (exquis/esquisito). O processo é o mesmo que ele usou para passar ao português o já referido soneto de Rimbaud de 1873.
Os primeiros cadáveres esquisitos que conhecemos em português, e larga fortuna terão eles até que ele os compile em parte na Antologia surrealista do cadáver esquisito (1961), pertencem aos iniciais que leram a história de Nadeau na Primavera de 1947 – Cesariny e O’Neill. Em 1947 temos dois jogos verbais compostos por ambos, “Espelhos” e “Salvados do incêndio do castelo do almirante Wolf”, o primeiro pela técnica da pergunta e da resposta (muito comum nas experiências do grupo francês), o segundo pela do inventário sem fim, a que se pode somar um terceiro, “Alguns provérbios e não”. Tudo leva a crer que terão sido compostos antes da viagem a Paris, no período inicial da descoberta do surrealismo. Quando hoje se lêem, parecem uma gota de álcool pronta a inebriar quem lê. Estes rapazes tinham um alambique que destilava com um grau de pureza nunca até aí detectado a essência concentrada da matéria verbal. Na publicação que deles fará em 1961, Cesariny dará o primeiro como “cadáver esquisito ortodoxo seguindo os termos de diálogo postos em curso pelos surrealistas franceses”, o segundo como “cadáver esquisito heterodoxo por co-laboração vigiada” e o terceiro como “cadáver esquisito ortodoxo por rima”. Um outro, “Adozites”, dado também como “ortodoxo por rima”, com intervenções de O’Neill, Cesariny e Fernando Azevedo, apresentado como sendo também de 1947, é com certeza do final do ano, posterior ao regresso de Paris, pois em Agosto, quando o autor dos poemas de Nicolau Cansado deixou Lisboa, Azevedo ainda se mantinha à margem das actividades do grupo. A primeira referência mais concreta à presença de Azevedo nos trabalhos do núcleo inicial que lançou o G.S.L. só surge na carta que O’Neill escreve para Paris a 1 de Outubro, dando conta que ele esteve na reunião do Café Smarta com António Pedro e Cândido Costa Pinto e que acabará por levar à saída expulsão deste.
Regressemos ao G.S.L. e ao seu destino. No rescaldo da leitura do livro de Nadeau, foi este pensado como um galeão aventureiro construído nos arsenais solares do Tejo. Estava destinado a levar uma tripulação de jovens corsários prontos a subverterem o mundo e a beberem em conjunto a vida nova. O cadáver elegante beberá o vinho novo – assim prometia a primeira frase obtida no castelo francês. E entre os objectos salvos por O’Neill e Cesariny no castelo do almirante Wolf estão um garfo sem sombra e um chapéu coral atado a uma medalha de cobre. O G.S.L. era a arca maravilhosa onde todos estes despojos se resguardavam. Já conhece o leitor os marcos iniciais: reuniões no Café A Mexicana no final de Outubro de 1947, já com a presença de Cesariny, e trânsito ulterior, por volta de Dezembro, já com Moniz Pereira, para o apartamento de António Pedro na vizinhança do Campo Pequeno, onde se lhe juntou José-Augusto França. Quem era António Pedro? O’Neill, numa carta para Paris, quando Pedro não passava ainda duma hipótese remota, chama-lhe um queimado e um mula velha, com aspectos muito mais conservadores do que os do C. Pinto. Por quê um queimado e uma mula velha? No final da década de 20 – fez 20 anos em 1929 – Pedro era simpatizante da ditadura militar e no início da década seguinte aderira ao movimento fascista de Rolão Preto. Depois, durante a guerra, em Londres, comentador da secção portuguesa da B.B.C., época em que o meu biografado o conheceu e com ele conviveu de raspão, cortou com o fascismo e apoiou os Aliados. Sempre fizera versos, sempre organizara exposições plásticas, sempre viajara para Paris. Desde o final da década de 30 que adoptara um estilo então em voga na Europa central e que se assemelhava ao surrealismo figurativo. Fizera por isso com Dacosta e Pamela Boden a exposição da Casa Répe, que ficou como a primeira mostra em que se nota em Portugal o parentesco “sobre-realista”.
O G.S.L. resvalou inadvertidamente para as mãos deste homem. Aquilo que de início era para ser um veleiro de sonho posto a descer o Tejo em direcção ao vasto oceano, tripulado por um par de jovens, tornou-se à força nas mãos deste homem vivido e mundano uma reunião de sala classificada, num dos bairros chiques da Lisboa moderna. Pedro tinha as qualidades do talento, e por isso as suas obras merecem a atenção e a admiração (ou não) que se deve à arte, mas faltavam-lhe os defeitos, afinal tão essenciais num movimento que nascera para ser viagem interior. Pedro quis sempre fazer “perfeito” e por isso o seu encontro com o surrealismo não podia ser senão um equívoco académico. Por volta da mesma época interessou-se pelo teatro e pelos problemas práticos da encenação e encontrou aí um campo muito mais propício e adequado ao seu empenho de homem multifacetado e histriónico. Era daqueles que só gostava de se ver a cavalo – nascera para ser a sua estátua. Reger um teatro, orquestrar actores como peões miúdos, ver o palco dum camarote tornou-se-lhe uma razão espectacular a que deu contínua atenção, o que não sucedeu com o surrealismo, mais ínfimo e secreto, que em pouco tempo foi olvidado no fundo duma gaveta. Eis um homem de pêra e bigode que quis sempre ver o mundo do alto dum cavalo. Ora o surrealismo, embora com escamas de dragão, tinha boca de peixe e patas de formiga.
Cesariny, que captara a faísca criadora do surrealismo e a activara com ânimo e génio nas acções de Paris, sentiu-se ludibriado com essas reuniões semanais ou quinzenais no salão de António Pedro. Falava-se de tudo com displicência fria e só muito de quando em quando de surrealismo. O’Neill, Cesariny, Domingues, Vespeira e Azevedo estavam ali por força dum compromisso que assumiram como uma missão. Pensou-se publicar uns cadernos surrealistas, fazer uma exposição no ateliê de António Pedro e editar um boletim – o tal que Cesariny se comprometera em Paris com A. Breton. Pedro tivera anos antes uma revista de arte, sem escola definida, eclética, aberta a todas as tendências modernas, Variante, que editara dois números. Logo aproveitou o boletim para relançar Variante, reconvertida agora em revista surrealista internacional. O jovem da Rua Basílio Teles aceitou a mudança e ainda escreveu para Paris a pedir para a nova revista a colaboração de Victor Brauner (carta de 8-1-1948), que lhe respondeu logo, a 15-1-1948, expedindo pouco depois para Lisboa um conjunto de colaborações internacionais (as cartas foram dadas em Contribuição ao registo de nascimento…, 1974; in As mãos na água…, 1985: 304-7). Nunca apareceu qualquer número surrealista de Variante, que se ficou pelos dois números já editados, e meses depois Cesariny devolveu o material para Paris sem sequer ter sido usado. O mau agoiro das revistas surrealistas em Portugal começou desta forma e nunca mais se livrou do enguiço que apanhou no berço. Com tanta e tanta revista surrealista que a França fez e deu, em Portugal a bem dizer não há nenhuma e a única que apareceu, Pirâmide (1959-60), foi excepção que só a contra-pêlo se fez, até dos coordenadores.
A zanga de Cesariny com o G.S.L. não pode ser focada só no desaire do boletim, por muito que este tenha amargurado o jovem que em Paris, cara a cara com o autor dos manifestos, se comprometera com ele. Basta pensar que de todo esse período que vai de Dezembro de 1947 a Agosto de 1948, em que Cesariny compareceu nos serões de Pedro, um único cadáver esquisito verbal saiu do grupo, “Conto de um sábado de Aleluia”, “cadáver esquisito heterodoxo por leitura em voz alta de cada parte escrita pelos intervenientes até à composição final”, em que intervieram O’Neill, Pedro, Azevedo, Moniz Pereira e Cesariny, para se perceber quão decepcionantes não terão sido esses conciliábulos. De feito dos cinco cadernos editados pelo grupo – catálogo da exposição de Janeiro de 1949, um poema de António Pedro, outro gráfico de O’Neill, um balanço crítico de França e uma palestra de Nora Mitrani traduzida por O’Neill – nenhum se compõe de jogos colectivos. Aquela arca disposta a salvar de todos os incêndios e de todas as ruínas os mais maravilhosos despojos, a barca solar dos novos argonautas a vogar entre um real de estrelas e de sonhos tornara-se afinal num pacato apartamento de burguês que nascera nas colónias. Folheavam-se uns livros, contavam-se umas piadas e esperava-se com muita gana pelo momento em que a criada servia as bebidas. Para carregar ainda mais o quadro, os valores políticos de Pedro, ele que envergara a camisa preta do nacional-sindicalismo, não iam além da social-democracia dos trabalhistas ingleses – com vénia ao rei e à rainha. Cesariny, que ganhara a sua crista de galo a cantar a Internacional, só se podia sentir incomodado. É quase seguro que nesta altura ainda não abandonara o marxismo (houve até quem nunca o deixasse no surrealismo gaulês, como Benjamin Péret) – conhece-se texto de 1949 de Cesariny, “final de um manifesto” (A intervenção surrealista, 1997: 157) onde cita “Vladimir Ilitch” ao lado de Freud, Sá-Carneiro, Rimbaud, Artaud – e tudo o que desejava era a reposição dos valores originais da revolução soviética amputados pelo estalinismo, tal como a crítica trotskista de esquerda por então o exigia. Em casa de Pedro conspirava-se afinal com menos perigo e muito menos entusiasmo que no coral de Lopes Graça. Ora um tal quadro cívico, repleto de senso comum e responsabilidade, só podia ser uma enorme decepção para quem tinha um coração de fogo aceso.
A decepção só tem duas saídas, ou a mentira ou o desgosto. No caso dum poeta de recursos imaginativos que nunca teve outra defesa a não ser o riso as verdades não eram senão as mentiras. A decepção só podia nele dar no nojo e na consequência superior deste que é a revolta. A inferior, a tristeza, que os italianos chamam malinconia, era a causa natural da morte e dos versos dos poetas do sentimento, que nele, um satírico, não tinham cabimento. No mês de Julho, com a momentânea solarização do que um ano antes sucedera, e tanto fora, Cesariny decidiu pôr ponto final na rotina. Escreveu a O’Neill e a Domingues expondo as razões do desagrado. A carta, que ele tornou bastante mais tarde pública, é uma declaração de luto e de revolta. Dos motivos apresentados, o primeiro, o “declarado abandono do automatismo psíquico como processo de revelação e descoberta”, é talvez o crucial. O G.S.L. num ano de vida não espremera mais que um cadáver esquisito. Em vez dos fenómenos do acaso e do jogo colectivo, que tanto entusiasmo haviam despertado na Primavera de 1947, o grupo deixara-se manietar pela preocupação estética, o espírito da literatura, a agenda responsável e a gestão corrente e mundana dum nome. Basta ler o opúsculo em que José-Augusto França deu conta das acções do grupo, Balanço das actividades surrealistas em Portugal (1949), para se perceber a tagarelice de superfície em que o núcleo se perdeu. As razões finais para a ruptura apresentadas na carta não têm porém menos importância. São elas “a grande desistência de um estado de revolta contra o meio pulvimerdento que nos rodeia.” Um espírito anti-edipiano como Cesariny não podia esquecer que a sua razão de ser era a denúncia da autoridade paterna nas suas várias manifestações morais, sociais, políticas e religiosas. António Pedro é visto a partir daqui como uma figura substituta do pai que tem de ser combatida e destruída. Ao longo dos anos e em sucessivas ocasiões, a última já no final da vida, em 2001, a propósito da exposição “Surrealismo em Portugal 1934-1952”, negá-lo-á ainda com mais firmeza e violência que aquela que usará contra Lopes Graça, outra figura que junto dele a dada altura substituiu o pai e que ele necessitou de deitar borda fora. O seu ulterior comportamento com José-Augusto França, que o leitor terá ocasião de conhecer e seguir e que tão característico e recorrente se fará, deita aqui amarra. O servilismo excessivo deste jovem alferes para com a representação do pai, António Pedro, tornaram-no detestável aos olhos de alguém que por então só entendia a linguagem da revolta anti-edipiana.
É provável que o rapaz da Rua Basílio Teles com esta carta aguardasse um levantamento geral. Confiava que pelo menos O’Neill e Domingues, com quem fizera os primeiros cadáveres esquisitos na Primavera de 1947, se rebelassem com ele e acabassem por arrastar Azevedo, Vespeira e Moniz Pereira, deixando isolados e desarticulados António Pedro e França. As suas relações com Moniz Pereira haviam-se deteriorado em Paris – ler a “hommage” que aí lhe dedicou é bastante para se perceber o duelo em que ambos andaram nas voltas parisinas – mas mantinha com O’Neill e Domingues cumplicidade próxima. Quando dias depois, a 8 de Agosto, na véspera do seu vigésimo quinto aniversário, escreveu a António Pedro a desligar-se do grupo, carta também ela tornada pública no opúsculo de 1975, percebeu que só Domingues o seguia. Os outros ou calavam a decepção ou riam-se dela. A cornucópia de promessas que o patrono – influente, seguro, bem visto e bem relacionado na imprensa – inspirava assim ditava. Improvisado sobre um arranjo de conveniência, o G.S.L. prosseguiu o seu ramerrão de inoperância até desaparecer pouco depois sem ninguém se aperceber. Nem os próprios deram conta do fim, tal era a dormência em que o grupo se arrastava. José-Augusto França em texto publicado em Fevereiro de 1950 na revista Seara Nova (n.º 1152-53) dá o círculo como pertencendo ao passado, para logo emendar a mão e deixar a dúvida se ainda vive. Nem ele, o mais próximo de Pedro, sabia muito bem em que águas, mortas ou vivas, o grupo se embalava. Nessa época, já ele e Pedro arrancavam com nova revista, Unicórnio – antologia de inéditos de autores portugueses contemporâneos, sem jactâncias surrealistas e que surgiu nos escaparates em Maio do ano seguinte. O meu biografado por sua vez dá como derradeira manifestação do grupo a mostra apresentada já sem ele em Janeiro de 1949 no ateliê de António Pedro e cujo catálogo, ao aceitar e seguir a intervenção da censura, foi segundo ele a sua certidão de óbito – embora fosse também o primeiro dos cinco cadernos editados pelo grupo.
A leitura do livrinho de Nadeau na Primavera de 1947 foi um relâmpago que fendeu os céus de Lisboa e deixou nos ares um sulco de luz violenta e sulfurosa. Os quatro que formaram o núcleo inicial que lançou o G.S.L. foram uma célula dum corpo mais vasto e mais robusto. Ter duas décadas de vida no final da segunda grande guerra foi em Portugal, como aliás em toda a Europa, uma questão de demografia. Essa geração era fruto da explosão demográfica que teve lugar depois do Armistício de Novembro de 1918 e da Paz de Versalhes de 1920. Só que essa explosão foi contida na Europa primeiro pela guerra civil espanhola e depois pela segunda grande guerra, enquanto em Portugal seguiu o seu curso sem barreiras. Quando em lugar de filhos se adoptam animais, é difícil imaginar o potencial criador duma explosão demográfica. A juventude não se revê nas formas sociais que herda do passado e exige sempre um novo equilíbrio. Foi isso que em Portugal sucedeu com a geração que fez 20 anos no final da guerra ou logo depois dela. Viram no surrealismo uma nova forma de organização e impuseram-no como uma inevitabilidade. Entre os jovens que haviam ficado à margem dos esforços do G.S.L., sem com isso deixarem de se interessar pelo movimento fundado por A. Breton, estava Pedro Oom, que vinha da escola de artes decorativas António Arroio, do Café Herminius e do suplemento “Arte” de que fora colaborador. Entretanto ligara-se a uma roda de rapazes mais novos, nascidos entre 1928 e 1930, que conhecera num dos Cafés de fumo azul do pós-guerra, com açucareiros de prata e mesas com tampo de mármore – o Café Lisboa Moderno. Encontrou aí António Maria Lisboa, Fernando Alves dos Santos e Henrique Risques Pereira, amigos desde o início da adolescência, por vizinhança de morada e de carteira escolar, e que eram então como quase todos da mesma idade leitores da revista Vértice, da Seara Nova e da literatura neo-realista em voga. António Maria Lisboa chegara mesmo a frequentar uma mesa de café onde aparecia Alves Redol, com a fofa boina preta de feltro e as suas camisas de flanela axadrezada. Fosse como fosse, sentiam diante do neo-realismo o mesmo sentimento de insatisfação que foi comum a uma parte da geração lisboeta que fez 20 anos no final da guerra. Quando Pedro Oom lhes falou de surrealismo, não devem ter acreditado que tal coisa existisse. Não podiam conceber que aquilo que lhes faltava lhes chegasse assim de repente à mesa de Café onde se podia esperar muito, da chegada do jornal ao engraxador que espirrava, mas nunca um anjo demónico. Mas foi assim, à mesa do Café, numa bandeja metálica de balcão, de mistura com café, torradas e açucareiros, que se serviu o surrealismo a esta roda de rapazes – como de resto já assim fora servido à de O’Neill e de Cesariny. Foi a escaldar e a fumegar que ele lhes chegou!
Germinava pois ao lado do grupo surrealista oficial um outro círculo de interessados no surrealismo, de que o meu biografado, sempre em ligação com Oom, não tardou a ter notícia. É impossível determinar com exactidão a data e o local em que António Maria Lisboa e Mário Cesariny, dois mitos egípcios do século XX português, se viram pela primeira vez cara a cara. É certo que isso aconteceu em 1948, já depois de arrumado o assunto do G.S.L. e quase certo num dos Cafés de então – a Smarta, o Chiado, o Martinho, o Nicola, o Portugal ou algum outro vizinho. Pode pensar-se um encontro fulminante em que um e outro perceberam de imediato que não mais se separavam. Mas também pode ter acontecido um encontro banal, apressado, entre dois cafés, em que nenhum dos dois se apercebeu do passo seguinte. Só pouco a pouco, em conciliábulos sucessivos, se foram dando conta um do outro, com espanto e interesse. Às vezes os grandes amores começam por um encolher de ombros e neste caso é bem possível que assim tenha sido. Diz-se isto porque o aparecimento dum novo núcleo surrealista demorou e a junção dos dois mais parece assim o lento e quase invisível crescimento duma árvore robusta que a passagem efémera dum bólide astral.
O tempo foi tão paulatino neste novo acontecer que ainda houve tempo para juntar ao novo grupo Cruzeiro Seixas, que andara sempre perto e participara nos trabalhos do grupo da escola da Rua Almirante Barroso, embora sem colaboração na exposição de 1943 e no suplemento portuense de Pomar. Era ele afinal o mais antigo amigo de Cesariny e de Domingues. Mas até um rapazinho quase imbele, da mesma idade de Lisboa, Carlos Eurico da Costa acabado de desembarcar por razões familiares em Lisboa, vindo do rio Lima, Viana do Castelo, e sem qualquer relação na roda da escola das artes decorativas, se juntou ao grupo. Como fez ele? Cesariny continuava a manter relações estreitas no Porto, na Póvoa e em Esposende, onde ia com frequência e continuava a ter família. Foi talvez por sua mão que Carlos Eurico já na Primavera de 1949 se juntou às tertúlias e foi ainda por indicação dele mas por razões de acaso que Isabel Meyrelles, também acabada de chegar do Norte, Matosinhos e Porto, onde acabara de concluir o sétimo ano dos liceus, no Liceu Carolina Michaëlis de Vasconcelos e de fazer estudos de escultura com Américo Gomes, acabou por ficar próxima deste grupo de rapazes. Vinha para Lisboa continuar a sua formação em escultura, desta vez com António Duarte. Tornou-se de certo modo a deusa negra do novo grupo. Deixando de lado Natália Correia, a conviver então na alta-roda e por isso sem real interesse para este meio, é ela a única e desembaraçada presença feminina no que houve de surreal no acanhado e patriarcal Portugal da década de 40. Isso chega para a pôr num pedestal que não se discute.
Esta Isabel, que arranjou ateliê na vizinhança da Escola de Belas Artes, na Rua do Ferragial, onde o novo grupo marcou alguns encontros – foi lá que se fizeram fotografar nos telhados pombalinos de Lisboa em posições vampirescas –, era uma Maria rapaz, com modos masculinos, que fumava cachimbo, frequentava os Cafés e era conhecida por Fritzi. Usava calças, cabelo curto, sapatos grossos. Estava apaixonada por Natália Correia, que lhe pedira às escondidas que a esculpisse toda nua, tendo o nu levado sumiço nas mãos do segundo marido de Natália, Alfredo Machado. Ainda conheci esta nobre dama com mais de oito décadas, cabelo sempre curto e rebelde como escova de arame grosso, mãos pesadas tingidas de barro e braços roliços de talhante. Não recordo se ao canto da boca trincava um coto de gauloise largando um fumo espesso e azul mas é possível que sim. Na juventude usava o cabelo quase rapado – daí a alcunha que correu Lisboa e lhe foi dada por uma alemã de passagem –, camisas largas, calça justa e sapato preto de atacador. Tinha um corpo seco e teso, com uma expressão travessa e austera no rosto, que tanto podia ser a dum cabo-de-guerra como a dum forcado de toiros. Afinal era uma mulher pronta para a luta, de olhinhos vivos e solertes no meio duma máscara de ferro. Cesariny chamou-lhe “camaradona” em carta para Seixas (23-6-1956), evocando as escapadelas que faziam para a Costa da Caparica, então um areal deserto com cabanas de pescadores nas dunas. Era aí que Cruzeiro Seixas e o seu grande amor da época, António Paulo Tomaz, um aprendiz de estofador que vivia na zona pobre da cidade, se refugiavam ao fim de semana, numa cabana miserável dum pescador, Manuel Moscardo, nascido no tempo em que Lisboa ia ouvir ao Casino Lisbonense as anterianas Conferências do Casino e que nunca conhecera um par de sapatos. Tirando a vaca com quem se habituara a fazer amor e a figueira que tinha no quintal de areia da barraca e lhe dava sombra e doce no Verão, todos os seus haveres cabiam na cova funda e estreita do barrete preto de campino que usava. Durante a semana era o rapaz da Rua Basílio Teles e Isabel Meyrelles que se escapavam para as dunas da Caparica e seguiam a butes para a cabana de Manuel Moscardo, que ficava já depois da Fonte da Telha e da lagoa de Albufeira, ao chegar aos arroios de água doce que estão antes da Aldeia do Meco.
Um dos pontos fortes para a formação do grupo foi a composição dum texto colectivo em casa de António Maria Lisboa, em que colaboraram Cesariny, Oom e Risques Pereira, além do anfitrião. Os colaboradores formam um quadrado, com dois lados distintos. Dum lado está Cesariny e Oom, que colaboram há uma década, e do outro, Lisboa e Risques Pereira, também com uma década de convívio. O quadrado é uma forma severa e estática, que na psicologia da forma significa organização e construção. Ao contrário do modelo ternário, dinâmico e veloz, o quaternário é sinal de estabilidade e firmeza. Foi este o primeiro momento em que as duas partes do grupo, a representada por Lisboa e a de Cesariny, se mediram frente a frente, percebendo as potencialidades que resultavam do seu encaixe e da junção das suas cabeças. Desse ponto de vista este encontro foi o momento simbólico fundador do grupo “Os Surrealistas”, que vingará como “anti-grupo” ou grupo dissidente, visto a sua gestação ainda ter coincidido com o período final do grupo de Pedro, cuja sonolência ele procurou abanar com todo o tipo de picardias e desafios. Recorde-se que a mostra do G.S.L. teve lugar em Janeiro de 1949, no momento da campanha eleitoral de Norton de Matos, e que a publicação dos cadernos do grupo se iniciou então. Muita da argamassa que ligou por dentro “Os Surrealistas”, pelos menos na fase inicial de protocolo, quando Lisboa e Cesariny ainda se estavam a estudar, foi feita à custa de Pedro e da sua hoste. Ter sempre à mão um inimigo é ter um pretexto fácil para viver – falso, frágil mas que serve como recurso nas horas vazias.
Que texto foi este? A afixação proibida, que em 1953, com desenhos de Cruzeiro Seixas e extra-texto de Luiz Pacheco, “Declaração inicial”, será editado na chancela Contraponto, a mesma que editou O Discurso… e Louvor e Simplificação…, dois livros que o leitor já conhece. O texto foi reeditado, sem desenhos e extra-texto, na Antologia surrealista do cadáver esquisito, como sendo um “cadáver esquisito heterodoxo (composto em voz alta) dado no Jardim Universitário de Belas Artes de Lisboa, em Maio de 1949”. Foi depois disso reeditado inúmeras vezes. Numa delas o meu biografado deu a conhecer o processo de composição (Poesia de António Maria Lisboa, 1977: 389): o texto de “A afixação proibida” foi ditado em voz alta pelos colaboradores que muitas vezes se valeram de livros abertos ao acaso e ao acaso colhidos no quarto onde se encontravam, em casa de António Maria Lisboa. A feitura aconteceu depois do regresso de Lisboa de Paris, onde esteve entre o início de Março e o final de Abril. A ida a Paris teve como função retomar o itinerário mítico de Cesariny em 1947. Foi uma forma de consagração para assumir funções ao lado do veterano. Levava uma missão que todos reputavam da maior importância: noticiar a Breton e Péret – este regressara em 1948 do exílio no México – a existência dum novo e muito mais autêntico núcleo de agitação surrealista em Lisboa. Os dois franceses ficaram encantados – além de venerável, o jovem Lisboa tinha 20 aninhos – mas ao mesmo tempo sufocados por tanta e tão rápida novidade numa cidadezinha ignota e triste, escondida lá bem atrás do Pirenéu e regida por um beato de sacristia, Salazar, de nome tão assustador como a electricidade de Outono. Acharam melhor dar o assunto por arrumado e fazer de conta que o surrealismo em Portugal era coisa inexistente e nem um nem outro se lhe referiram mais. Até a loucura tem a sua medida e mesmo os grandes doidos precisam duma ordem ou duma coreografia que lhes harmonize o tumulto.
Tudo aponta para que Lisboa tenha regressado a Lisboa por volta de 20 de Abril. Estava então a viver na Rua Actriz Virgínia, nas traseiras da Praça de Londres, com a mãe e talvez a irmã. Foi pois com o recurso aos seus livros, alguns acabados de trazer de Paris, que o texto foi composto. O conjunto tem sido apontado como o grito fundador do surrealismo em Portugal. A sua composição está para nós como os textos iniciais de André Breton e Philipe Soupault estão para o caso francês. É possível que sim. Tem um ritmo amplo, lento, ondulado e hierático, em que os parágrafos se sucedem como portentosas ondas dum mar encapelado mas ordenado. As imagens são soberbas e enigmáticas e as ideias parecem surgidas duma idade intervalar, dessas que proporcionam o aparecimento de forças e de figuras excepcionais. É um texto em que se sente vibrar a energia anímica do cosmos que tanto sopra nos subterrâneos escuros como vibra nas asas luminosas do vento zéfiro. Mas o que mais impressiona é a capacidade que ele mostra de juntar num todo harmónico as partes distintas, como se os seus quatro intervenientes estivessem ligados à mesma corrente mediúnica e falassem a uma só voz. Daí este texto poder ser lido como o momento simbólico da fundação do grupo. As ausências que se notam – Seixas, Domingues, Alves dos Santos, Carlos Eurico e os que chegaram depois, sobretudo o grande ilusionista chamado Mário Henrique Leiria, o “homem da lâmpada” – não têm importância. Bastam os quatro para os restantes estarem presentes. Eles são as quatro essências da criação – a água, a terra, o fogo e o ar, os quatro elementos que tudo compõem. Pode apontar-se ao resultado a ausência de espírito crítico, a falta de sentido argumentativo e de estilo especulativo, tudo características da cultura intramuros que se impôs depois de Descartes e que ainda hoje faz parte do nosso crivo, mas isso é não querer perceber a lógica interna daquele torneio e o terreno próprio em que o surrealismo se colocou.
Depois dum texto tão milagrosamente homogéneo, em que se percebeu que as duas forças maiores do grupo casavam de forma superior, é natural que o grupo tenha aberto rumo para mais amplas e decisivas intervenções. Não é à toa que o meu biografado terá uma eterna nostalgia deste grupo de rapazes e verá nele a concretização prática daquele veleiro de aventura que ele e O’Neill sonharam no momento da descoberta do surrealismo. A arca dos tesouros perdidos de todos os mares distantes, o baú dos despojos de todos os almirantes dos lácteos mares astrais, poisou por um instante numa das colinas de Lisboa. A primeira aparição pública do grupo aconteceu a 6 de Maio de 1949, na Casa do Alentejo, num debate promovido pelo Jardim Universitário de Belas Artes (J.U.B.A.) e orientado pelo pintor Guilherme Filipe. A sessão despertou interesse, sendo apresentada como a primeiro discussão pública sobre o surrealismo em Portugal, o que levou António Pedro, em carta estampada no Diário de Lisboa (6-5-49), a demarcar-se do evento. Cesariny e Lisboa contracenaram um com o outro, durante várias horas, diante dum público burguês, que veio estrear casacos e fatos e que os jornais deram de elevada categoria e educação. Nenhum outro do grupo interveio. A sessão abriu com Lisboa a ler uma resposta a Jorge de Sena, intitulada “Esclarecimento a um crítico”, resposta enviada à Seara Nova e nunca publicada e que mais tarde se perdeu. Logo depois, Cesariny, com a concentração acusadora que só ele sabia ter e que intimidava o mais severo diabo, leu poemas de Pedro Oom, de Henrique Risques Pereira, de Carlos Eurico da Costa, de António Maria Lisboa, de Fernando Alves dos Santos e dele próprio. Lisboa fechou a sessão, a recitar de forma fria e impassível, o cadáver esquisito feito no seu quarto, A afixação proibida. O público, que o rapazinho da Palhavã mais tarde classificou de “verdadeiro cavalo espantado” (As mãos na água…, 1985: 278), no final pediu explicações sobre a natureza surrealista dos textos lidos. Foram então marcadas novas sessões para seguir com o debate. O grupo não mais compareceu mas na sexta-feira 20 de Maio enviou um emissário com um gato preto. Este pormenor vale a maçada de qualquer debate e o esforço de qualquer explicação. Foi uma resposta à altura do surrealismo e que mostra as soluções geniais de que era capaz este quadrado de combate e sobretudo os seus dois endiabrados estrategas, um com 20 anos e outro com 25.
No dia seguinte à sessão um jovem chamado Mário Henrique Leiria, que estivera presente no evento, escreveu a Mário Cesariny contando-lhe que lia com exaltação André Breton desde 1942, que impugnava o esteticismo mundano do grupo de Pedro e que oferecia os préstimos aos organizadores da sessão da Casa do Alentejo. Embora o autor fosse um desconhecido, ou pouco mais do que um nome sem rosto, a carta, tocando notas sensíveis ao grupo, como a crítica a Pedro, valeu uma profissão de fé. Leiria foi aceite e tornou-se o mediador que faltava ao conjunto, até aí constituído só por dois lados distintos. O recém-chegado deu ao grupo um terceiro vértice, que acabou por inscrever um triângulo de aceleração e cor na estabilidade fixa do quadrado original. Foi ele que ajudou a equilibrar o peso de cada um dos lados, permitindo o avanço. O grupo assim reforçado preparou de imediato a sua primeira exposição. Iniciou-se um período de grande agitação, com a criação de objectos e de desenhos, ao mesmo tempo que se procurava sala, que acabou por se fixar num prédio em frente à Sé de Lisboa, na Rua Augusto Rosa, na antiga sala de cinema da Pathé-Baby. O choque da sessão do J.U.B.A., a coesão que o grupo mantinha, a graça inusitada e extravagante das suas acções e a força impositiva das suas duas personalidades centrais fizeram da mostra um centro de atracção, na órbita do qual giraram mais rapazes. Até Almada Negreiros, um vetusto senhor com mais de meio século de vida, nascido ainda no século da Maria da Fonte, apareceu para ver a I Exposição de “Os Surrealistas”. Expuseram doze nomes na mostra que teve lugar entre 18 de Junho e 2 de Julho: Fernando José Francisco, Cruzeiro Seixas, Pedro Oom, António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria, Mário Cesariny, Risques Pereira, Fernando Alves dos Santos, Carlos Eurico da Costa, António Paulo Tomaz, João Artur Silva e Carlos Calvet, este acabado de chegar pela mão do recém-chegado Leiria.
A exposição é talvez o momento cimeiro da acção do grupo, aquele em que o seu poder de atracção e de criação se mostra no auge da força. Por isso a maior parte das fotografias que se conhecem dele foram tiradas no interior da exposição ou no átrio da Sé, quase todas da autoria de Cruzeiro Seixas. São explosões de alegria, que saltam por cima de qualquer censura, como aquela em que Cesariny na rua, com as ameias da Sé por cenário, sobe abraçado a um candeeiro de forma fálica, ou são rituais iniciáticos, cerimoniais de silêncio e solenidade, como a muito divulgada e quase um ex-libris em que grupo se abre em leque, dividindo-se em duas metades, tendo ao centro Cesariny e Lisboa, separados por uma coluna, fronteira de fogos, à frente da qual se senta Oom, que foi a ponte entre as duas margens do grupo e as duas personalidades que o marcaram. Vale a pena reter três pontos da exposição. Primeiro a “Noite dos Poetas”, em que foram lidos no recinto da mostra para um círculo de interessados poemas franceses em versões portuguesas de Cesariny e de Leiria e que nos dão a conhecer as figuras de identificação do meu biografado nesta época – Breton, Artaud, Brauner, triângulo a que se manterá sempre fiel. Segundo, o objecto que Pedro Oom expôs, “Musiques érotiques – Primeiro objecto abjecto”, em que pela primeira vez se nota a presença dum artigo que virá a ter considerável importância para o desenvolvimento da acção surrealista em Portugal – o abjecto. O tópico é uma sobrevivência do neo-realismo, da leitura de Lefebvre e da sociologia do quotidiano. Há passo da Critique de la vie quotidienne referindo o real abjecto, noção que fará depois grande fortuna na síntese surrealista de Oom, no pensamento de António Maria Lisboa e até na acção do autor de “Nobilíssima Visão”, embora neste de forma ambivalente, sempre tensa, como adiante se verá. Terceiro e último: a presença na mostra duma figura tão invulgar e tão pouco artística como António Paulo Tomaz.
Quem era António Paulo Tomaz? O aprendiz de estofador, nascido em 1928, o mesmo ano de António Maria Lisboa e de Carlos Eurico da Costa, que vivia na Travessa da Pereira, junto ao Largo da Graça, na miséria, e que era desde há anos a paixão de Cruzeiro Seixas. Não tinha formação escolar, senão elementar – ler, escrever e fazer as quatro operações. Em criança fora ardina – andara a vender descalço jornais nas ruas de Lisboa. O pai, estivador no porto de Lisboa, alcoolizara e a mãe transformara o andar em que viviam em camas de aluguer. Dezenas pessoas dormiam e fodiam num espaço mínimo, em catres separados por colchas presas com molas em arames. Cruzeiro Seixas conheceu-o no final de 1945, ou no início do ano seguinte, e perdeu-se de paixão por ele. Há uma fotografia deste operário aprendiz, tirada por Seixas em 1946, em que ele aponta à câmara duas armas de brincar ao carnaval. É duma beleza rara e prodigiosa. Junta à perfeição suave das formas, moldadas numa cera dócil, a alegria autêntica dum sorriso terno e a inocência líquida dum olhar de criança. Antínoo não seria mais belo nem mais atraente. Seixas viveu um amor intenso por este rapaz e o seu afastamento entre 1945 e 1948, com fugas constantes para os areais selvagens da Costa da Caparica onde gozava de toda a liberdade, deve-se em boa parte às exigências do namoro e da corte que então fez a este ser irreal e maravilhoso. Esteve ausente do suplemento “Arte”, não fez parte do núcleo que lançou o G.S.L. e só regressou um pouco à força, por imposição do amigo da Rua Basílio Teles, no final de 1948 para se juntar aos que estavam na origem do novo grupo, “Os Surrealistas”. Com ele trazia o Antínoo da velha Lisboa e os desenhos loucos que ele se entretinha a fazer nas horas que passavam juntos. Foram estes desenhos que se expuseram como um talismã do céu numa parede da entrada da exposição. Cesariny chamar-lhes-á “as mais espantosas obras de arte bruta” (“Para uma cronologia do surrealismo em português”, 1973; As mãos…, 1985: 279). Para a sua importância basta o facto que foram os únicos, junto aos desenhos da mãe e dalguns outros familiares, que Seixas até ao final da vida se recusou a deixar de ter consigo.
O amor atrai o amor. Isto que era o provérbio do falanstério de Fourier é aqui a proposição que introduz uma situação. O rapaz da Rua Basílio Teles desenvolveu nesta mesma época uma fixação por Carlos Eurico da Costa – não sem antes, no início de 1949, num momento de crise entre Seixas e o amante, ter feito uma aproximação física ao jovem operário estofador, que não prosseguiu, pois a relação de Seixas e Tomaz não se chegou então a interromper. Eu ainda vi este Carlos Eurico numa entrega de prémios na Associação Portuguesa de Escritores. Era então um homem pesado, de bigode fino e grisalho, em que o álcool fizera alguns estragos. Tinha um jeito calado e irónico, de cristão-novo, que pode talvez explicar a sua duplicidade. Parecia alguém que se dedicara ao comércio em vidas passadas e escondera sempre com os livros de contas os seus actos. Há notícia deste amor na correspondência de Cesariny para Seixas. As confidências estavam só por si justificadas com a paixão com que o velho amigo lhe falava de António Paulo Tomaz. São dois pastores da Arcádia falando por sinais só seus ao espelho das alegorias. Um fala de águas, outro de chamas, que são os dois regimes com que Eros surge no mundo. Confessa o meu biografado (Abril de 1950; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 66): Foi extremamente belo o que entre mim e o Costa se passou na Barca. Peço-te encarecidamente que lhe escrevas no dia em que receberes esta minha. Ele está agora numa crise grande, em Viana, e precisa de ânimo e de notícias tuas. No final de Fevereiro de 1950 António Maria Lisboa deu por findo o seu manifesto Erro próprio, que foi lido no dia 3 de Março na Casa da Comarca de Arganil em Lisboa e depois, a 30 de Março, no Porto, no Clube dos Fenianos, leitura esta marcada e tratada pelo amigo que se encontrava desde o meado do mês no Porto, onde continuava a ir por força da família e dos amigos. Foi buscar António Maria Lisboa à estação de S. Bento no dia anterior à leitura no comboio que chegava de Lisboa às 21 horas. No dia seguinte, depois da conferência, partiu com Costa para a Barca do Lago, ao pé de Esposende, ao mesmo tempo que Lisboa seguia para Braga ao encontro de família, não tendo havido mais cruzamento. Na Barca do Lago, Eduardo de Oliveira, amigo de Eugénio de Andrade, deu-lhe casa, a ele e a Costa. Foi nessa ocasião que viveu o seu episódio com Carlos Eurico e foi nesse momento – ou um pouco antes, na altura em que esteve no Porto e marcou por meio de Eduardo de Oliveira nos Fenianos Portuenses a palestra de Lisboa – que aceitou a proposta de Eugénio de Andrade lhe financiar a edição dum opúsculo seu. O autor de As mãos e os frutos, de partida para Lisboa, tomava a seu cargo pagá-lo e vigiá-lo no início da composição numa tipografia lisboeta que conhecia bem, a Ideal, na Calçada de S. Francisco.
O poeta de “Nobilíssima visão” escolheu para se estrear em letra de caixotim um longo poema de amor, Corpo Visível, que pensava integrar num novo livro que por então congeminava e que veio a ser Pena capital, só vindo a lume mais tarde, em 1957. Na antologia de 1972, Burlescas, teóricas e sentimentais, dá o livro como composto entre 1948 e 1956; mais tarde na reedição de Pena capital (1981: 239) diz que o poema então escolhido para a sua estreia em livro é dos primeiros e data de 1948. Por quê Corpo Visível e não qualquer outro dos conjuntos que entretanto escrevera? Desde as primeiras composições de 1942 até às “hommages excessives” de 1947 ele tinha muito por onde ir. A escolha pode pois parecer modesta. Corpo Visível é um poema de cerca de 150 versos, em que se exalta o amor humano, e daí o título, como força de transformação do quotidiano. Preferiu esquecer aquele riso admirável que cantou em “Pastelaria” para afirmar a força do desejo. O desejo é o centro de toda a análise freudiana, já que o seu recalcamento é que produz a nevrose – essa equimose da alma que S. Freud se propôs tratar. Se há uma revolução surrealista ela só pode ter por fulcro a desocultação do desejo e do seu princípio activo, o amor. Por isso André Breton escreveu algures que o amor era a percepção do objecto interior no exterior. É um dos raros momentos em que se dá um equilíbrio entre a vida social e a vida profunda do indivíduo; a corrente psíquica, em geral tão retraída, não se encontra sujeita nesses instantes privilegiados a censuras muito forte e pode então subir à superfície e apoderar-se facilmente, quase sem enfrentar defesas, dos centros de vigilância consciente. O autor de “Pastelaria” não se quis assim apresentar nem como poeta satírico, onde o efeito da sua estreia teria sido muito mais estrondoso, nem como autor do laboratório fonético que Lisboa na sua palestra tanto vinha de enaltecer. Preferiu um poema como Corpo visível, que, estando longe de dar a medida da sua singularidade poética, exaltava porém a força livre do desejo. O amor era a única força capaz de transformar o ser e o mundo, um enorme caudal revolucionário que era preciso alimentar. Daí a frase que inscreveu na contracapa do livro, uma máxima de Donatien Alphonse François de Sade, tirada do discurso de Clemente de Justine ou os infortúnios da virtude e que é porventura a primeira citação séria e documentada que se fez em Portugal deste autor maldito.
O opúsculo viu a luz na segunda semana de Maio. O exemplar dedicado a Cruzeiro Seixas tem a data de 12 de Maio e a carta de Lisboa a agradecer o envio data de 15 de Maio. Terão sido dois dos primeiros exemplares que ofereceu. Estreava-se em letra redonda de livro aos 26 anos, com poema único, num caderno de dezasseis páginas, sem ilustrações – ele que tinha então um baú de poemas capaz de fazer a felicidade e a fortuna dum editor. O que se pode dizer hoje é que não tinha pressa. A poesia nele não era uma corrida nem uma prova de competição com prémio à espera no fim; era um jogo vital, que ele preferia deixar intocado e sobre o qual não tinha grande poder. Serão sempre premonitórias as palavras que ele enviou a Cruzeiro Seixas em 1941: Mas eu odeio a poesia! Eu não a trago, facho triunfante, dentro de mim, é ela que me arrasta e me comanda! Como eu deitaria fora esse carrasco mascarado!
Logo depois veio a II Exposição de “Os Surrealistas”, que teve lugar na Rua da Misericórdia, na livraria Bibliófila, em Junho/Julho de 1950. Expuseram: Risques Pereira, Leiria, Seixas, Cesariny, Oom, Fernando José Francisco e João Artur Silva. Um cadáver esquisito verbal, escrito numa mesa pé de galo sob a invocação de Mário de Sá-Carneiro, foi elaborado por alguns membros do grupo, Lisboa, Cesariny e Oom, a que se juntou Alexandre O’Neill, e que foi dado na Antologia do cadáver esquisito como “cadáver esquisito extraordinariamente ortodoxo”. Os serões de António Pedro haviam chegado ao fim e a passagem de O’Neill, que teria sido impensável na exposição da Rua Augusto Rosa, não é de estranhar, antes se aceita como um corolário do que se passara no Verão de 1947, embora as tensões estivessem latentes, como se viu pouco depois no prefácio que O’Neill juntou ao seu livro de estreia, Tempo de fantasmas (1951), e a que o rapaz da Palhavã replicará com um assanhado e corrosivo folheto, “Do capítulo da probidade”, recolhido depois em A intervenção surrealista.
Nascido em Dezembro de 1920, Cruzeiro Seixas, ainda em Lisboa no momento do folheto contra O’Neill, pensava já então alistar-se na marinha mercante e estava de partida mais dia ou menos dia. Adiantado de idade – fizera 30 anos em 1950 – as relações com António Paulo Tomaz sofreram nesta época perturbações e ele acabou por embarcar a sós no início da Primavera de 1952 para uma longa viagem de que só regressou 13 anos depois, vivendo em Angola de 1952 a 1964. Só um grande e impossível amor, desses fazem perder o juízo e a vida, justificam uma tão larga ausência. António Maria Lisboa por sua vez decidira partir de novo para Paris, confiante no poder que lá encontrara em 1949. Saiu logo em Janeiro de 1951, em pleno Inverno, e regressou no momento do equinócio com os pulmões arrasados. Tiritara de frio nos passeios, comera miseravelmente, dormira ao relento, andara quase sempre só; a viagem fora uma tragédia. Ao regressar, foi internado numa Casa de Saúde para pouco depois passar a um sanatório e ser dado como incurável. Depois dessa perda – Lisboa aproveitou os dois anos que teve de vida para realizar na mais absoluta solidão, numa cama de hospital, sem forças para se ter de pé, uma viagem por dentro – o grupo não mais se recompôs. Faltava-lhe um dos lados para manter activo o sentido eufórico da construção e do avanço que teve no momento da elaboração do texto colectivo A afixação proibida. A acção daquele grupo de rapazes vivia do equilíbrio e da mediação entre duas partes; sem uma delas, a orfandade instalava-se e o movimento tolhia-se. A dispersão acabou por ser o resultado natural do estado de paralisia em que o grupo caiu com a baixa hospitalar de Lisboa, logo seguida pela saída de Seixas para o alto mar.
Mário Cesariny viu-se de repente sozinho, a fazer a retrospectiva do que vivera nos anos anteriores. Acreditara que um movimento surrealista em Portugal era possível e estava destinado a ser grande novidade da segunda metade do século. As manifestações do ano de 1949 haviam confirmado a acção e excederam mesmo as suas iniciais previsões. Agora, Seixas estava em África, Lisboa fora amarrado a uma cama de hospital, sem forças para se levantar, Leiria metera-se na acção política directa, Carlos Eurico fazia jornalismo, Risques Pereira estudava num qualquer curso superior e Alves dos Santos empregara-se. O rapaz da Rua Basílio Teles viu-se de repente sozinho a uma mesa brunida de Café, a olhar o vazio. O Café era o Royal, na esquina da Rua do Alecrim com a Praça Duque da Terceira, ao Cais do Sodré. Perdera as ilusões sobre a continuação ou até a mera existência dum movimento surrealista em Portugal. Falou depois desse Café várias vezes e dedicou-lhe um poema, “Lógica do Café Royal”, que integrou na edição de Primavera autónoma das estradas, onde apresenta para data de feitura 1954. O poema parece pois fruto da demorada cogitação em que a solidão o mergulhou em 1952 e dos duros sucessos que pouco depois viveu, entre eles a morte física de António Maria Lisboa (11-11-1953), aos 25 anos, num quarto miserável e escuro da Rua do Sol à Graça. Outros há que adiante se dirão. O parágrafo final é sintomático do dilema que viveu nesse período. Diz assim (2017: 503): Encontrar a verdade em corpo e em alma é o único fim da boca humana, o único trabalho que deve prosseguir. Ia fazer 30 anos e tanto a mãe como as irmãs esperavam dele juízo e vida prática. Ele porém sentia-se tão incapaz para fazer família e carreira como dez anos antes, no tempo da mudança para a nova casa da Palhavã. Nunca houve na poesia portuguesa uma natureza tão estruturalmente idêntica à de Antero como a dele: preferia morrer de pé, ou já agora sentado, fitando o alto, de chaveninha de loiça na mão, que viver de joelhos, olhos baixos na terra, como escravo submisso das potestades mundanas – dinheiro, nome, prestígio, poder. Para viver precisava duma paixão a arder dentro de si – nem que fosse a da morte. Por isso dialogou cara a cara com a morte num dos poemas compostos nesta época, “Coro dos maus oficiais na corte de Epaminondas, imperador”, que ainda se comentará, dando a ver um duelo trágico e doloroso entre a atracção dos abismos e os antídotos do riso.
O suicídio voltou então a estar em cima da mesa como uma hipótese sólida de resolver as contradições. Sobreviveu porque o desejo, esse outro nome da vida real, esse derradeiro ponto do humor, foi mais forte do que a morte. Sem a sombra do desejo é provável que o autor de Corpo visível não tivesse resistido à perda de António Maria Lisboa. A queda dum dos lados do quadrado mágico arrastava o estatelar do outro. No coração do desejo tatuavam-se porém os sinais escritos, razão de ser da memória e de qualquer permanência, e nele se inscrevia também a exaltação do amor, o fim da morte e de todas as censuras, o equilíbrio entre a vida social, vivida pelo desejo, e a vida interior, feita da matéria desse mesmo desejo. Iniciou assim nesta época uma incansável peregrinação por todos os prostíbulos e urinóis de Lisboa, à procura da divindade da vida e do prazer – esse Eros arcaico que milénios de brutal repressão sexual haviam empurrado para as catacumbas frias dos lugares recriminados e clandestinos da vida social. É impossível não marcar o que houve de ousado na atitude deste homem. Teve a coragem de dar a cara, de assumir a sua liberdade, de enfrentar censuras, de contrariar preconceitos, de incriminar por falsos os valores consensuais, de afirmar a necessidade duma nova e mais livre educação moral, que afeiçoasse o ser a um novo mundo amoroso, cujo eixo fosse a alegria sublime do amor e do prazer e não a dor da necessidade e a pena do trabalho. Era a utopia de Charles Fourier, autor que descobrira em Paris, através duma exaltante ode de André Breton, e que se tornara desde aí um santo cultivado do seu devocionário pessoal. O erotismo é o sagrado em estado selvagem, sem as mediações grosseiras e frustrantes da religião e as sublimações castradoras da civilização. Foi ele o nó ao centro que permitiu a Cesariny prosseguir a busca do único fim da boca humana, da verdade em corpo e em alma. O café Royal tinha a vantagem de ficar no coração do desejo, onde estavam os marinheiros, as pensões, os quartos de aluguer, os lugares escondidos e censurados da vida nocturna. Mais tarde, já na parte final da vida, fez com o caso uma hipérbole. A chupar a boquilha onde enfiava o eterno cigarro, afirmou com um encolher maroto de ombros que se deitou com a Marinha portuguesa toda, sem excepção. Uma piada assim tem o tamanho do desmedido desejo que dentro dele havia e da inocente consciência com que o viveu. Em meu entender de biógrafo, uma tal graça merece bem ser lembrada com uma placa gravada no Museu da Marinha em Belém!
O único que ficou a seu lado nessa época foi Luiz Pacheco. Conhecera-o no Outono de 1946 – era então Pacheco estudante na Faculdade de Letras, na Rua da Academia das Ciências – no momento da saída da colectânea Bloco e da feitura de Um auto para Jerusalém. Era um desses rapazes magros e finos, de fato e gravata, que sabia ver os pormenores do mundo por detrás das suas lentes espessas de vidro. Assinara as listas da oposição, integrara o M.U.D. e gravitara na órbita do neo-realismo com a mesma dose de descontentamento de todos os que fizeram em Lisboa 20 anos no final da guerra. Convivera com António Maria Lisboa antes da segunda ida deste para Paris e era empregado na Inspecção dos Espectáculos. Tinha algum dinheiro que lhe vinha do ordenado certo e uma genica genuína para fabricar eventos e que muito agradava por exemplo a Seixas. No momento em que convivera com Lisboa no Verão de 1950, convívio tão intenso que o autor de Erro próprio chegara a dormir na sua casa de Benfica, pensara fundar uma editora e publicar uns cadernos periódicos de cultura e crítica, chamados Contraponto, que ele sonhava que fossem a aguerrida trincheira da geração lisboeta que se encontrara nas manifestações do final da guerra. O primeiro caderno apareceu no Outono desse ano e foi o acto fundacional da editora com o mesmo nome. De seguida propôs ao autor do opúsculo de 1950, Corpo visível, editar-lhe um livro, o primeiro com que a chancela se estreou. Assim apareceu a edição do Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano. O livro surgiu no Verão de 1952 – o carimbo das bibliotecas públicas é do início de Setembro – e foi logo seguido por novo pedido. Em Janeiro seguinte saía na mesma chancela Louvor e simplificação de Álvaro de Campos, que esgotou e fez reedição quase imediata, na Primavera. Na correspondência que então trocou com Seixas, Cesariny não deixou passar o pequeno sucesso. Diz sem reserva (10-4-1953): O Louvor praticamente desapareceu num mês. Bem se adivinhava que é também pelo preço do custo, e certa matéria mais de agrado de certo público. O Pacheco já vai em 2.as edições (com o Louvor), que vai mandar para o Brasil, e não sei que mais.
As críticas que apareceram não lhe mereceram referência digna de nota, como não merecerão daí para diante. A crítica é como o casamento, obriga a uma partilha e a uma perda de soberania. Por isso ou são feitas na maior solidão e atingem o seu alvo ou então são pingos de chuva que se perdem numa tarde Sol. É isso que se passa com a de Pedro da Silveira (Átomo, 30-10-1952) e a de Óscar Lopes (O Comércio do Porto, 2-9-1952), que hoje não existem. Não souberam compreender um escritor que escrevia com a vida que tinha; queriam literatura reconhecível e o rapaz da Palhavã, com a invenção dentro dele, dava-lhes revolta e uma novidade só dele, que se confundia à sua alma. Mesmo a de António Ramos Rosa (Ler, n.º 12, 1953), reproduzida esta pelo editor na contracapa da segunda edição do folheto, apenas toca o aspecto mais óbvio e por isso mais epidérmico do Louvor e Simplificação…. A crítica mais duradoura, a que melhor se despojou dos lugares-comuns, a que melhor soube ouvir, a mais humilde e a mais sábia, foi a de Gaspar Simões (D. P., 13-8-1952), que será daqui para diante o mais inteligente leitor da obra de Cesariny. O que espanta em Simões, que era um espírito sociável e até mundano que gostava de carros de desporto e de mulheres bonitas, é o estado de solidão de que se soube rodear e que lhe permitiu fazer uma crítica sem concessões à rotina nem à moda. Isto que o treinou num golpe de vista rapidíssimo e certeiro, mas nem sempre isento de escorregadelas e desacertos, valeu-lhe também a má vontade das sucessivas gerações mais jovens. Um talento crítico tão monstruoso como o dele tinha por força de ser um escândalo sem perdão.
Entretanto entre as duas edições do Louvor e simplificação… deu-se a primeira prisão de Cesariny. É uma história obscura, de que se ignora quase tudo e que anda aí mal contada. Faz parte dessas caves onde não chega a luz e para onde Eros foi desterrado por uma sociedade devota do trabalho, do dinheiro, da ordem, da razão e da demografia – essa que os políticos, ou os jornalistas por eles, enaltecem com um tique frio na voz. Os Jardins do Éden e os seus sublimes prazeres são hoje na melhor das hipóteses uma vaga nostalgia da origem e na pior e mais comum das versões um rosto desfigurado que vive aprisionado num dos recantos malditos dos nossos costumes. Numa dessas recônditas sombras, onde as armadilhas proliferam, foi ele caçado. Durante anos não se referiu ao assunto – a não ser no singular hipocorístico que a si próprio então se deu, o “Penado”, e com que chegou a dedicar livros seus aos amigos. Depois da Revolução, que resgatou algumas sombras e trouxe alguns subterrâneos à luz do dia, livrando uns tantos sítios da recriminação e do medo, tocou no assunto. Assim (Mário Cesariny, 1977: 52): 1953-58 – cinco anos de liberdade vigiada pelos serviços da Secção Central da P.J. de Lisboa, com obrigatoriedade de apresentações por “suspeito de vagabundagem”. Mas só nas entrevistas finais regressou ao caso e mesmo assim de pinças. Sente-se na fala reserva – nunca pormenorizou o que sucedeu – e mal-estar: (Público, 1-12-2004): Fui perseguido porque era homossexual e, ainda por cima, era contra o governo. Fizeram uma manobra muito bem feita. É preciso dizer que a Polícia Judiciária era apenas uma filial da PIDE. (…) Fui suspeito de vagabundagem, o que me obrigava a apresentações regulares na Judiciária, como as putas! Primeiro, uma vez por mês, depois, de três em três meses. Durou uns vinte anos e só acabou com o 25 de Abril. Exagerou nos anos em que o processo durou e defendeu-se com a polícia política, quando foi a dos costumes que o filou. Todavia não sei se hoje, a dos costumes, mesmo sem a outra, não o continuaria a arpoar sem dó em algumas das práticas que teve!
Helder Macedo, num depoimento dado depois da morte do poeta, disse o seguinte (Relâmpago, 2010: 139): Outro Mário, o Mário Henrique Leiria, contou-me o que teria estado na base da sua marginalização social (…). O Mário Cesariny teria cometido uma indiscrição nocturna mais evidente. Nesse tempo havia em Portugal uma instituição chamada “polícia dos costumes” cuja função era assegurar a “moralidade pública” (…). O Mário Cesariny foi preso.
Que “indiscrição nocturna” foi essa? E em que momento terá ocorrido? Na correspondência para Cruzeiro Seixas que então enviou para Angola Cesariny não contou a história. Seixas era o seu mais antigo amigo, o seu mais importante confidente, homossexual como ele e também cliente dos subterrâneos de Eros. Mesmo assim calou-se e nada disse – a não ser alusões discretas. Medo que lhe desencaminhassem as letras? Medo que lhas lessem? É provável que sim. Como quer que seja, por aqui se percebe a mágoa, ou o pavor, que a situação lhe provocou, a ponto de lhe bloquear a palavra. Há no entanto um passo que remete com certeza para a prisão ocorrida em Lisboa e para as suas imprevisíveis consequências (14-5-1953, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 82): Não estranhes se os meus queridíssimos assuntos contigo tenham de passar-se, por procuração minha, para o nosso comum amigo Luiz Pacheco – na Inspecção dos Espectáculos, Palácio Foz, Lisboa. Por coisas e loisas disto de portugueses e de apetites, eu posso ter de deixar de escrever-te directamente. Caso isso aconteça, nada temas! A discrição é aqui como um soluço; a voz está embargada por uma lágrima quente e não sai. Uma missiva de Luiz Pacheco da mesma época (29-6-1953), escrita para Seixas em Luanda, derrama alguma ou muita luz sobre o assunto. Diz assim (A Ideia, n.º 77/80, 2016: 16-17): Ele, Mário, apareceu metido aí numa trapalhada da noite para o dia, e encontra-se agora algures em parte incerta a fazer as malas para o estrangeiro. Uma complicação com aquela louca do Armando Ventura Ferreira, calcula tu o resto. Daí que alguma coisa ou correspondência que lhe queiras mandar farás o favor de me remeteres directamente. Mais tarde, na derradeira entrevista, Cesariny, sem referir qualquer nome, disse o seguinte, aludindo talvez à sua prisão de 1953 (O Sol, 7-10-2006): Houve realmente um amor importante, com uma pessoa que já morreu. Um amor que acabou muito mal, com a PIDE metida na nossa cama, uma coisa horrível. (…) A Grécia foi um amor que eu tive com um moço. Ele depois foi para a tropa e escreveu-me uma carta que a PIDE leu. Ele indo parar a África, porque dizia: “Não sei quando saio da tropa. Os nossos patrões, os americanos, é que devem saber.” A PIDE pegou naquilo e meteu-o na cadeia.
Contas feitas, Cesariny não chegou a sair do país mas a complicação valeu-lhe acusação de vagabundagem e cinco anos de inspecções mensais na Polícia Judiciária. Há momentos em que as forças de vigilância da consciência social descem como cães ferozes às catacumbas onde Eros e os seus desejos vivem clandestinos desde a fundação da Cidade-Estado. A missão que as forças de vigilância levam para essas batidas é uma única: afligir e mortificar os desejos, empurrando-os para sedimentos ainda mais baixos e esquecidos, se possível até à extinção total. Uma tal corrida tem na linguagem policial o nome de “rusga”. Foi com certeza numa dessas caçadas que o poeta foi laçado e aprisionado. O castigo e a humilhação que se seguem a tais razias nos antros de Eros são apenas o desquite com que os que sofrem de amnésia se vingam dos que teimam em manter viva a lembrança do Paraíso. É um remorso mais que um
Desta época, a do Cais do Sodré, que será até à Revolução dos Cravos o espaço urbano de eleição de Cesariny, espaço que ia até ao Bairro Alto, é a composição de Titânia, história poética que pode ter sido retocada, ou até escrita, a uma mesa do Café Royal. Um primeiro original estava pronto no meado de Abril de 1953, altura em que o enviou para Seixas, em Luanda, pedindo ilustrações. Queria editar o texto, com dinheiro emprestado, para estar pronto para a Feira do Livro. Escreveu a Seixas (10-4-1953; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 80): Por artes e bondades de um amigo, que empresta a devida massa, vou editar eu mesmo a historinha que junto te envio, a qual lerás com a atenção devida. Claro que ficarás interessado, que mandarás na volta do correio (se possível!) seis desenhos para incluir no livro. Por razões que se te tornarão muitíssimo óbvias creio que é de fugir a uma representação (figuração) de Titânia. As ilustrações vieram na volta do correio e em carta de 10 de Maio, Cesariny agradeceu-as. Os desenhos são lindíssimos e espantosos – diz. Também Luiz Pacheco, na missiva de Junho, os referiu. A edição, todavia, acabou por não sair. Cesariny continuava a mexer no texto e só o deu por acabado no Verão – 10-7-1953 é a data que figura no fecho da primeira edição. O original ficou na gaveta cerca dum quarto de século. Cesariny não escrevia para o público, menos ainda para os editores. Ele via a poesia como um duelo a sós, um jogo solitário entre ele e a Musa, que estava fora da lógica do dia-a-dia e lhe exigia absoluta disponibilidade. Titânia – história hermética em três religiões e um só Deus verdadeiro com vistas a mais luz como Goethe queria só em Dezembro de 1977 foi dada a lume – embora alguns capítulos tivessem aparecido soltos em 1957 numa rubrica que teve no Diário Ilustrado, “Crónica anacrónica”, sem os desenhos de Seixas e com ilustrações suas. Teve reedição em 1994 com pequenas alterações, como a junção dum texto inicial e de duas notas finais, a primeira reproduzindo cinco estrofes do Canto VI do Oberon de Martin Wieland em tradução da Marquesa de Alorna e a segunda, um excurso sobre os Pré-Rafaelitas ingleses, António Patrício, Joaquim de Flora, Blake, Swedenborg, Isabel de Aragão, Arnaldo de Villanova e outros – que foram as suas obsessões e afinidades no final da vida e são a desordenada mas acertada genealogia deste seu livro.
Titânia é um dos segredos do legado de Cesariny. Tudo se combina nele para ser uma obra rara que é necessário descascar por camadas. Temos um primeiro nível que é a cidade de Lisboa, a mais genuína, essa que o jovem Mário conhecera na infância na Rua da Palma e na Praça da Figueira e que estava ainda viva no Cais do Sodré e no Bairro Alto. E temos um segundo nível que é o teor saturado de erudição que o livro tem. Na base está uma fantasia de Shakespeare, Midsummer night’s dream (1600), que dramatiza um episódio amoroso dum casal de elfos, Oberon e Titânia. A floresta onde a acção decorre é um Éden mágico, cujas flores espremem sucos e filtros que inspiram o amor. Estes seres acordam e adormecem nos braços da paixão, como se a libido fosse o néctar que circulasse nos vasos deste mundo. Talvez o motivo mais tocante de todo o complicado enredo da fantasia shakespeariana seja o momento em que Titânia se apaixona por Bottom, o homem da cabeça de cavalo, dobrada citação de Eros e Psique na versão de Apuleio. Nestas florestas primordiais não há monstros nem deformidades que não sejam merecedores de amor. O enigmático enredo de Shakespeare exerceu uma forte atracção sobre os criadores posteriores, dando lugar a toda uma estirpe de Oberons e Titânias na música, na pintura e na poesia. Cesariny, que ouvira decerto desde muito jovem a obra de Purcell, The fairy queen (1692), criou com os instrumentos que tinha em si, o amor e o real, e que aplicara já em poemas como Louvor… e Corpo visível, uma história que se insere nesta grande família que subiu à tona com o dramaturgo inglês e se desenvolveu depois como um dos grandes símbolos da energia psíquica de origem sexual. A Titânia de Cesariny é só sua, porque aparece em Lisboa, levanta voo na Rua do Ouro, faz amor nas pensões e na casa da Zezinha. É uma Titânia que passa por Lisboa e vive um episódio lisboeta. Mas esta Titânia, que vai depois embora – “creio que foi para África”, diz o narrador no final –, pertence a uma história mais geral e muito mais antiga de que Shakespeare é apenas o ponto de partida moderno. Esta Titânia universal, que tanto ligou a sua vida a Lisboa como a Bagdad (Wieland), existe para nos fazer ver que os actuais subterrâneos de Eros, os da Lisboa que o narrador de Cesariny nos pinta e nos quais ele próprio se tornara um fugitivo, foram outrora jardins viridentes, imersos na glória dum Verão esplêndido e eterno, com seres encantadores que a nossa obsessão cega pelo lucro apagou e transformou em disformes e perversos monstros.
As reuniões do Café Gelo, no Rossio, começaram pouco depois. Desde 1954 que um grupo de estudantes que frequentava um pouco acima, no Chiado, a Escola Superior de Belas Artes tinha oficina numa água-furtada duma esquina do Rossio com o Largo D. João da Câmara, em frente da entrada poente do Teatro Nacional. Desciam para tomar Café no Gelo, que fora poiso de revolucionários no tempo do regicídio mas era agora um ordeiro ponto de encontro de comerciantes que vinham a Lisboa e se apeavam na Gare do Rossio. Apareciam João Vieira, José Escada, René Bertholo, Lourdes Castro, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte e outros, a que se juntaram os seus amigos que nada tinham a ver com tintas e desenhos, Manuel de Castro, Helder Macedo, José Manuel Simões, Herberto Helder, António Salvado, José Carlos González, José Sebag, António José Forte, João Rodrigues, Fernando Saldanha da Gama, Virgílio Martinho, Ernesto Sampaio, Eurico Gonçalves e outros. Tinham 20 anos ou pouco mais. Eram a nova geração, que se seguia à de 1945. Nasceram dentro do Estado Novo e nem sequer viveram as alegrias e as esperanças do fim da guerra, já que na altura usavam bibe e calção. Eram uma geração desesperada, gelada como o nome do Café onde reuniam, que não simpatizava com a arte responsável, correcta e bem comportada que se fazia no regime e na oposição. A sua adesão ia para as figuras do passado que haviam vivido à margem, como Mário Cesariny, que foram buscar ao Café Royal, e com ele veio Luiz Pacheco, e como Raul Leal, que aparecia num Café próximo, na Rua 1.º de Dezembro, o Restauração, e que também se juntou, por convite de Herberto Helder, à nova tertúlia do Gelo.
Com este convívio começou um novo ciclo da vida de Mário Cesariny. Encontrou de novo à sua volta gente interessada no surrealismo, alguns até ansiosos por reconstruir o movimento, como António José Forte, Virgílio Martinho, Ernesto Sampaio, João Rodrigues e mais tarde Carlos Loures e Máximo Lisboa. Depois da morte de António Maria Lisboa e da percepção da dimensão e da ferocidade da repressão fascista em Portugal, ele não cria na possibilidade dum movimento surrealista no espremido país de Salazar. Os problemas policiais na Primavera de 1953, a morte de Lisboa aos 25 anos, os pesadelos que se lhe seguiram – registados no poema “Passagem dos sonhos” (2017: 702) –, as humilhações, a acusação de vagabundagem, o desnorte em que se viu, esfriaram o seu entusiasmo inicial e deram-lhe uma nota venenosa e sarcástica, que foi a resposta defensiva que o seu natural humor encontrou num meio violento, injusto e repressivo. Como quer que seja, foi possível nessa altura com os desfasados jovens que apareciam no Café retomar algum trabalho colectivo – parte dos cadáveres esquisitos da colectânea de 1961 são deste período – e até dar a lume a única revista surrealista em Portugal, Pirâmide (1959/60). O nome desta, que é toda uma exaltante visão esotérica, foi tirado do poema final do Discurso…, “Poema servindo de Posfácio”, dedicado na edição de 1952 a Eduardo de Oliveira, o amigo que o recebera no Porto em Março de 1950 e lhe pusera à disposição a casa da Barca do Lago, dedicatória que desapareceu para sempre na reedição de 1961. O número de estreia de Pirâmide (Fevereiro, 1959), com organização de Carlos Loures e Máximo Lisboa e colaboração de Cesariny, de Lisboa, de Oom, de Luiz Pacheco, de Raul Leal, de Mário Sá-Carneiro e de Antonin Artaud (em tradução de Ernesto Sampaio) realizou o sonho do jovem que esteve em Paris no Verão de 1947. Foram precisos 22 anos para finalmente concretizar aquele modestíssimo boletim surrealista em que ele falara a André Breton. Portugal é o país onde se espera! Não há melhor definição para ele. E por isso tem um rei chamado D. Sebastião. Nenhum povo no mundo sabe esperar tanto como os portugueses. A questão não está na persistência e até na teimosia da crença, de resto cada vez mais diluída, menos ainda no anacronismo, como precipitadamente se diagnosticou, mas na desenvoltura da imaginação que cria novos motivos para esperar o seu regresso.
O ciclo do Gelo foi ainda marcado pelo desenvolvimento da actividade editorial da chancela de Luiz Pacheco. A Contraponto a partir do final do ano de 1953, altura em que se registou no Palácio Foz e editou A afixação proibida, alargou a sua acção editorial, sem perder de vista os seus autores iniciais, Cesariny e Lisboa. Do primeiro apareceram nesta época na editora duas obras, Manual de prestidigitação (1956) e Pena capital (1957), livros finalizados neste período e que o autor fez questão de pôr de imediato a circular, deixando na gaveta os poemas anteriores à adesão ao surrealismo, que só com a primeira edição de Nobilíssima visão (1959), em chancela renovada, a Guimarães Editores, para a qual foi convidado por Orlando Vitorino, começaram tímida e desordenadamente a vir ao de cima.
Já o sabe o leitor, Pena capital é um livro composto entre 1948 e 1956. Assim o diz a antologia de 1972. É de crer porém que em 1954 já estaria muito adiantado ou mesmo perto de concluído. Em carta para Seixas diz (23-6-1956): Há um ano que luto como o escorpião para fazer sair o meu livro Pena capital. O livro teve várias reedições em vida do autor (1961; 1972; 1982; 2004) e deu o título a uma das suas recolhas finais. É um dos seus títulos mais conhecidos. As alterações entre a edição de 1957 e a de 2004, a última revista pelo autor, não alteram a substância do livro e dos poemas. Na primeira edição, por exemplo, recolheu na terceira parte o Louvor…, que a partir da segunda saiu, integrando mais tarde a edição definitiva de Nobilíssima visão (1976; 1991). “Rompimento inaugural”, poema lido na sessão do J.U.B.A. da Primavera de 1949, perdeu o título original a partir da segunda edição e passou a “Concreção de Saturno”. As “Vinte quadras para um dádá”, que nas edições de 1957 e 1961 são 24, têm em 1972 uma versão mais curta, de 14, que o autor diz ser a primitiva de 1948. As edições de 1982 e 2004 têm três novos poemas, o último dos três, “autoractor”, poema publicado em 1961 na primeira edição de Planisfério e outros poemas e que passou a fechar o livro em vez de “Pena capital”, que passou a penúltimo. Na derradeira edição, as três partes em que o livro se dividia desapareceram e os poemas passaram a ser seguidos. Na mesma edição em dois poemas, “ do capítulo da devolução” e “ditirambo”, foram introduzidos dedicatários, Carlos Eurico e Daniil Harms. Ainda na mesma edição o poema “Autografia”, com os mesmos versos de 1982, passou a chamar-se “Autografia I” e “Autografia II” – alterações que não chegam para alterar em nada o espírito do livro ou dos poemas. Cesariny era no fundo um poeta cheio de pudor. Por pudor entende-se aqui o terror sagrado diante do poema. A sua noção da poesia – uma dádiva do anjo demónico – não o deixava desfigurar um poema. Ou o aceitava tal como o pequeno génio da poesia lho ditava ou o deitava para o lixo, o que também sucedeu bastas vezes. As intervenções ulteriores eram assim de pormenor – como a mudança dum título ou dum sinal de pontuação, o corte dum verso ou duma palavra, e em nada mudavam o espírito inicial dos poemas muito mais oralizante que escrito e daí os ajustamentos gráficos a que o seu autor ainda se permitia nas reedições em livro.
Pena capital é um dos livros mais pessoais de Cesariny. Estão lá poemas como “A um rato morto encontrado num parque”, “O jovem mágico”, “You are welcome to Elsinore”, “Autografia”, “A Antonin Artaud” que identificam o seu rosto. O próprio título do livro dá expressão gráfica à sua vida de então: cumprir pena por suspeita de vagabundagem, hipotecar a vida à polícia, estar sujeito a “pena capital”. Talvez por isso ele se tenha batido com tanto ardor pela saída do livro. Um livro de poesia tem voz, e uma voz que se espera absolutamente pessoal. Mas este tem, além de voz, o rosto do autor. Pena capital – com dedicatória A Minha Mãe/ Mercedes Cesariny Rossi Escalona de Vasconcelos/ Mãe da Poesia – é um espelho de água. Cesariny precisou dele para com ele devolver a soberania do seu rosto, intocado e intocável, a quem lho queria golpear. Na carta a Seixas atrás citada dá a entender que o livro estava composto na tipografia havia cerca dum ano à espera de papel. Pena capital devia ter sido editado numa chancela ligada ao poeta Daniel Filipe antes de Manual de prestidigitação, que estava ser feito na Contraponto, por Luiz Pacheco. Foi este que, findo o Manual, lhe salvou nas prateleiras da tipografia a composição do livro e o concluiu na sua chancela em Julho de 1957, data que figura no colofão – as bibliotecas públicas têm o carimbo de entrada em Outubro. O conjunto esteve a ponto de se perder. Em carta inédita de Pacheco a Natália Correia lê-se (12-8-1956): O Mário deve estar numa crise moral enorme, até porque o livro dele, em que tínhamos posto tantas esperanças, deve, a esta hora, estar já destruído. Mais tarde, em entrevista, o autor de Comunidade contou a história deste modo (O crocodilo que voa, 2008:176): Apareceu um gajo com muita massa, que estava ligado ao Daniel Filipe, suponho. Ele compôs a Pena Capital, mas depois aquela merda foi para o maneta e eu agarrei na composição e levei-a para a Ideal e foi editado por mim.
Nesta época não se conheciam ainda os exercícios de fogo real que ele fizera no tempo do neo-realismo, salvo o poema de louvor e simplificação do heterónimo e aquela meia dúzia de textos que ele metera na primeira edição do Discurso e que não bastavam para dar a medida da extensão de pimenta, raiva e revolta que essas composições têm. Por isso poemas como a meditação sobre um rato encontrado ao acaso ou a homenagem a Artaud, carregados de horror à vida do dia-a-dia, tiveram um efeito tremendo e valeram um murro forte. Eram a resposta do poeta aos que o queriam guilhotinar. A autografia como “escrita do eu” foi neste livro uma forma de reconfigurar um rosto público e pessoal. Se houvesse de escolher um único poema dos 32 com que o livro ficou na edição final, não se hesitaria em ir buscar os 14 versos (na edição de 2004) que começam com o dístico, Em todas as ruas te perco/ em todas as ruas te encontro. Esse soneto que nem título tem dá a medida desta arte poética, tão perfeita como as mais buriladas, ao mesmo tempo que ilumina a gloriosa inocência que o amor tem nestes subterrâneos. Para encontrar na poesia da língua um digno antecedente de tão sublime pureza é forçoso recuar ao século XVI e a um soneto como “Alma minha gentil, que te partiste”. Cesariny é sob este aspecto Camões. O mais ascético visionário do amor platonizante, que subia “da sombra ao real/ da particular beleza/ para a beleza geral”, era o que frequentava as “damas de aluguer”, as “ninfas de água” do “Mal-Cozinhado” e dos outros bordéis de Lisboa – tal como o eterno adolescente anti-edipiano da Rua Basílio Teles, o visionário cego que transfigurava o corpo “num corpo que já não é seu”, era o perdido dos urinóis do Rossio e o deserdado do Bairro Alto, do Cais do Sodré e imediações.
Manual de prestidigitação é outro dos segredos do legado de Cesariny. Se Pena capital é um livro público, todo voltado ao exterior, construído como uma resposta a uma agressão, e por isso um dos que mais perto anda de emparceirar com o primitivo neo-realismo do autor, o Manual é um livro secreto, iniciático, esotérico, cheio de duplos sentidos, que precisa de ser descascado por camadas. Tem aliás um vaso comunicante com Titânia. Um dos poemas do conjunto chama-se “Vida e milagres de Pápárikáss, bastardo do Imperador”, texto automático, colhido em zonas magmáticas de acaso e associações fortuitas, que produzem um efeito de non-sense disparatado. Ora na primeira edição de Titânia (1977: 39) encontra-se um passo em que este Pápárikáss surge como um elo da experiência pessoal de Titânia. O passo desapareceu na última edição (1994: 49). Titânia é um alter-ego do autor, uma personagem na qual ele implicou parte da sua vida. Teve até o cuidado de inventar que Titânia nascera duas vezes – a segunda sob forma de rapaz e com o nome de Titanin, um quase acróstico fonético do apelido Cesariny. Na vida de Titânia entra um episódio, “Esposa de Pápárikáss Pendurada de uma Janela a Arder”, que o narrador dá como parte do seu “tesouro de experiência pessoal”. Quando se cansa de lembrar esse episódio, Titânia parte para a invenção das “coisas mais absurdas”. Que absurdos são esses? Os automatismos. São eles o fio da construção do texto, incluindo o episódio da esposa de Pápárikáss. O segundo nascimento de Oberon (1977: 17-18) é exemplar deste processo de criação, que acaba por diferenciar esta Titânia das anteriores. De resto, o mesmo processo atravessa um livro como Pena capital, muito mais aberto ao exterior, mas que mesmo num poema que se quer tão referencial como “Autografia” tem versos tão enlouquecidos e “absurdos” como este “Sou …/ uma máquina de passar vidro colorido”.
Quem é Pápárikáss? Uma das personagens do livro editado em 1956, cujo poema inicial se chama “arte de inventar os personagens”. Outras há como Epanimondas (o imperador), Manuel, Julião (também personagem de Titânia), o prestidigitador, o papa, os oficiais da corte do imperador (Epaminondas). Nada disto tem o sentido que teria num qualquer outro livro regido pela razão lógica, estética ou moral. Aqui o processo é doutra ordem e o surgimento deste mundo obedece só ao ditado do pensamento, por associações de sentido ou de som. É o que se passa por exemplo na comutação de “manual” com Manuel (2005: 147). Ou nas disparatadas associações por analogia sonora em “Colapso” (2017: 156): Tudo está/ eternamente/ escrito/ (Spinosa)// Tudo está/ eternamente/ em Quito/ (Uma Rosa). Ou ainda na captação de acasos sequenciais em “Vida e milagres de Pápárikáss, bastardo do Imperador”. Se o mundo feérico serviu no caso de Titânia para fazer ver ao leitor como os monstros sexuais incriminados pela sociedade patriarcal do trabalho foram outrora, antes da queda e da História, seres luminosos e angélicos, aqui esse mesmo mundo activa um pensamento mágico arcaico, também ele esquecido e deixado de lado com a retrogradação duma comunidade que investiu toda a sua energia psíquica e a sua força física na produção com a máxima eficácia de bens materiais. O conhecimento, que é uma forma da alma, acabou por perder a sua força mágica, que era o seu poder prático de criação, para se tornar na forma nua e simétrica a que o meu leitor e eu chamamos hoje saber científico.
Gaspar Simões disse que a prestidigitação conseguida pelo autor neste livro era a magia da poesia tal como esta fora vivida nas épocas remotas e heróicas da sua criação (Diário de Notícias, 13-10-1956). Deu para isso o exemplo da rima no poema “Colapso”. Tinha razão e por isso Manual de prestidigitação é, com os jogos pré-babélicos de Alguns mitos maiores…, um dos livros mais poéticos de Cesariny. Não significa isto que a “escrita do eu”, tal como se lê em Pena capital ou nos poemas da fase neo-realista, não aflore no livro, onde o sujeito chega a dialogar o seu nome civil numa invectiva inquieta, como sucede na homenagem “A Antonin Artaud” – uma autografia insulada e feroz. Também o “Coro dos maus oficiais na corte de Epaminondas, imperador”, já referido atrás, segue estratégia de exposição autográfica idêntica, até com alusão directa ao seu nome civil – “Mário”. Afastou por momentos neste coro a cortina que escondia a sua consciência quotidiana, de modo a que o trágico e sarcástico diálogo que tinha com o suicídio pudesse ser observado de fora e que tão vivo foi na longa fase que se seguiu à sua prisão e à morte de Lisboa, a coincidir com a sua entrada na idade madura de trintão desocupado (2017: 164-65): vá lá vá lá Mário/ uma morte/ naniôra/ que não deixe o esqueleto de fora como nos casos de mau gosto/ (…)// vá vá vamos embora// custava-te menos agora/ e ainda ias para o céu. Se não foi então embora, se resistiu aos empurrões que ele próprio se dava para se deixar ir, se deu a volta à “crise moral enorme” que Luiz Pacheco aponta a Natália Correia na carta inédita já atrás referida de 1956, foi, e já o sabe o leitor, porque os cantos e recantos clandestinos de Eros vieram a voar em seu socorro e valeram mais do que a morte que ele encontrava dia-a-dia. Não se deve ainda esquecer a valiosa ajuda que lhe dava o pequeno génio da poesia – também ele, um Eros ridente e salvífico que o trespassava com poemas tão purgativos e solenes como este “Coros dos maus oficiais…”.
O ciclo do Café Gelo teve a demora que os conciliábulos fechados têm. Aquilo era um grupo quase secreto, à volta de duas ou três mesas de café, que se isolava do mundo e com quem o mundo nada queria. Basta ver o silêncio com que a imprensa da época ilaqueou o grupo. Metabolizava-se ali uma rotina que mesmo na sua turbulência interna tinha condições para perdurar. O equilíbrio não é uma questão de regra ou de saúde mas de hábito. As reuniões duraram de 1955 até Maio de 1962, momento em que o grupo foi expulso do lugar e a zona passou a estar sob vigilância policial devido aos incidentes que haviam tido lugar no Rossio, no dia primeiro de Maio, com manifestações violentas contra Salazar. Ao todo foi um ciclo de sete anos, tantos quantos os que duraram no antigo Egipto as pragas do Faraó. Além do número inicial de Pirâmide e dos livros da Contraponto, Cesariny teve ainda tempo à mesa do Café para fazer a sua colecção, “A Antologia em 1958”, que saiu entre 1958 e 1963, doze opúsculos, sendo o primeiro, Alguns mitos maiores…, a compilação dos seus jogos fonéticos iniciados em Paris e que no final de 1949, altura em que Lisboa deles fala em Erro próprio, estavam quase fechados. Só dez anos depois viram a luz do dia, em discreto folheto, hoje tão difícil de encontrar como o alfinete de peito de Inês de Castro. Se há livro que contenha um segredo, e valha uma dura prova, é este. Paracelso não fez um tratado assim, nem deixou nos seus livros chaves tão cinzeladas e capazes de abrir tão infinitas portas. É um livrinho com aspecto miserável, sem lombada, agrafado, de dois cadernos, 32 páginas, com uma legenda alterada de Camões na capa, “Aqueles que por obras valerosas/ se vão da lei da vida libertando”, mas com fôlego para ir até ao fim do mundo. A operação que aí foi feita sobre a linguagem verbal tem tal envergadura que as palavras brilham como pérolas. Dir-se-ia que estão virgens, na plena posse de todos os poderes, no momento primevo e glorioso em que só havia verbo – o do princípio. Os jogos feitos restituem ao leitor o milagre da palavra em estado puro e remetem-no para o tempo em que elas, as palavras, viviam por si só, sem coisas para designar, matéria que nem sequer ainda era e existia. Diante duma obra com tal alcance, diante duma operação com uma tal dimensão, é uma vergonha continuar a fazer essa inútil e pavorosa mentira chamada literatura. Isto, que João Gaspar Simões deixou nos intervalos da sua recensão (D. N., 8-1-1959), é o que de mais justo e acertado se pode dizer deste pobre opúsculo nascido no estábulo dos livros daquele tempo, entre a bosta e a urina do abjeccionismo, já que foi neste momento, ou logo depois, que o seu autor deu a lume Caca, cuspo e ramela, edição também da sua chancela.
Se este opúsculo foi a estreia da colecção, a publicação duma carta de António Maria Lisboa, nos dez anos da sua partida, foi a sua conclusão. O ciclo do Gelo acabara – o grupo mudara-se para o Café Nacional na Rua 1.º de Dezembro mas acabou por dispersar e se espalhar por outros Cafés, como o Monte Carlo na Avenida Fontes Pereira de Melo, já ao pé da Praça do Saldanha – e o meu biografado desandou para outras paragens como se verá de seguida. Entre o seu livro e a carta de Lisboa, de 1963, publicou, entre outros, as estreias de Virgílio Martinho, de António José Forte e de Luiz Pacheco, na mesma altura em que este, ali ao lado, nas mesmas mesas de Café, providenciava a estreia de Herberto Helder e se empenhava na edição da poesia de Natália Correia – autora que a colecção “A Antologia em 1958” também editou mas no ensaio. Um dos opúsculos é folheto já referido de duas páginas, Caca, cuspo e ramela (1959), e outro, A filosofia e a arte perante o seu destino revolucionário (1962), de Jean Schuster e Gérard Legrand, tradução de Luiz Pacheco, tem oito magras páginas, em papel de jornal e sem capa. Edições modestíssimas, com pequena tiragem de duas ou três centenas de exemplares, que se destinavam aos amigos, a alguns jornais e a uma ou outra livraria. Fosse como fosse, vivendo do que a mãe lhe dava – afastado há muito, o pai partia então para o Brasil com outra mulher – e das colaborações que dava aos jornais [O Volante (1955-59), Notícias do Império (1955), Diário Ilustrado (1957)] a mais regular, chegou mesmo a redactor, e a mais bem paga (em carta a Cruzeiro Seixas, 3-3-1955, diz que ganhava 800 escudos mensais – 4 euros) foi O Volante, Cesariny não tinha vintém para meter nestes opúsculos, por pouca despesa que dessem. Se pôde avançar com a colecção foi graças a um mecenas, Maria Helena Vieira da Silva, que no segundo semestre de 1958 lhe deu para venda um valioso guache seu, cuja venda reverteu a favor dos livros da colecção (v. Gatos comunicantes, 2008: 48).
O Café Gelo era uma gaiola apertada, em que todos se acotovelavam e conheciam demasiado bem. Observe-se a única representação que ficou do grupo, da pena de Benjamim Marques, e percebe-se o que aqui fica dito. Estão aos cachos em volta das mesas e uma mancha de estorninhos não se compacta mais. As mesas, em que só cabiam o pires, a chávena de loiça branca da bica e o açucareiro, eram tão minúsculas que uma única perna metálica ao centro as sustinha. Como eram gaiatos de 20 anos, quase imberbes, como esse Benjamim Marques que se auto-retratou no grupo, e tão angélico ficou que apetece pô-lo no coro do céu de saiote de renda e sapatos envernizados, e que ainda por cima viviam enclausurados entre quatro paredes, diziam o que lhes apetecia, que o incómodo era nenhum. Insultavam a Igreja e o governo, insultavam a oposição, insultavam-se uns aos outros; passavam as tardes e as noites a insultar tudo e todos com um tal excesso de carnaval e embriaguez que ninguém lhes ligava. É por isso que esta segunda geração surrealista teve um sentimento de desespero, de abjecção, de angústia que a anterior não conhecera, pelo menos no mesmo grau. Sessões como a do J.U.B.A., a da Casa da Comarca de Arganil e a do clube portuense dos Fenianos, todas elas feitas ainda no rescaldo da vitória dos Aliados, eram agora impensáveis. Estes estavam fechados numa jaula e não os deixavam sair. O único momento em que lhes abriram a porta, a campanha de Humberto Delgado, Maio de 1958, em que o governo teve de deixar a oposição fazer campanha, o Café saiu à rua em procissão e andou avenida abaixo e avenida acima a dar macacadas e guincharia. Cesariny cativou a ocasião para escrever e editar à sua conta um soberbo panfleto, Autoridade e liberdade são uma e a mesma coisa, interpelação directa aos escritores em quatro páginas que distribuiu à mão e colou nas paredes do Rossio – mais tarde recolheu-o com ligeiras alterações na colectânea As mãos na água… (1972; 1985).
O septénio do Gelo valeu-lhe ainda uma antologia, Surreal/Abjeccion-ismo (1963). Começou a pensá-la em 1958/9, quando editou o folheto Caca, cuspo e ramela, e fez dela um documento sem equivalente na acção surrealista em Portugal. Tentou aí uma frente alargada de gente, que ainda hoje surpreende pela abrangência. Sabendo-se as escolhas do meu biografado e a sua vincada personalidade, imagina-se mal como tal reunião aconteceu. Exigiu um diálogo firme, vertical, que esteve longe de ser a lisonja melada em que a conversa de falinhas mansas é vezeira. A primeira surpresa é a junção dos dois primeiros núcleos surrealistas da década de 40 – do G.S.L. vieram Alexandre O’Neill, António Domingues, Fernando Azevedo e Marcelino Vespeira e de “Os Surrealistas” estão António Maria Lisboa, Carlos Eurico da Costa, Cruzeiro Seixas, Fernando Alves dos Santos, Mário Henrique Leiria e Pedro Oom – a que somou os novos e os menos novos que encontrara no Café do Rossio, António José Forte, António Quadros (Grabato Dias), Ernesto Sampaio, João Rodrigues, José Sebag, Manuel de Castro, António Areal, Virgílio Martinho, Luiz Pacheco, Natália Correia e Manuel de Lima. Mas o inesperado nem sequer está aí, na presença dos colegas da escola António Arroio que ficaram no G.S.L., a que juntou um José Leonel Rodrigues, do tempo do suplemento “A Arte” e que entretanto endoidara. A surpresa maior está na colaboração de gente de fora, exterior ao surrealismo – ou francos atiradores como Afonso Cautela e Irene Lisboa, ou conotados até com o neo-realismo, como Luís Veiga Leitão e Joaquim Namorado, este coimbrão mesmo do Novo Cancioneiro. Para quem escrevera a vitríolo os poemas de Cansado – no momento da saída da antologia já publicados no volume Poesia (1944-1955) – era reviravolta de monta, muito pouco habitual em Cesariny. As presenças de Veiga Leitão e de Joaquim Namorado, as de maior pasmo, já que Irene Lisboa era uma velha obsessão de juventude e Afonso Cautela – nascido em 1933 – afinava pela sensibilidade e pela idade do Gelo, foram pensadas como uma chamada táctica para dentro, que não exigia em troca qualquer saída, quer dizer, uma tentativa de posicionar uma frente comum de ataque ao cerco sufocante da época sob a alçada maior do surrealismo. Este ia a caminho em Portugal – melhor, em Lisboa – de duas décadas de acção e o veterano da causa onírica sentiu-o suficientemente robusto, no rescaldo das reuniões do Gelo, da publicação de Pirâmide e da estreia de poetas como Manuel de Castro, António José Forte, José Sebag ou Afonso Cautela, para ensaiar semelhante ousadia. Foi um caso único de ambiciosa projecção no surrealismo português, muito mais intimista e secreto do que público e social.
Mais tarde, num anexo a uma carta a Laurens Vancrevel, fez um balanço quase arrasador da experiência (7-11-1971; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 88): De Surreal-Abjeccion(ismo), não tenho nenhum exemplar, mas devo (quero) dizer-lhe que, neste caso, se trata de uma experiência que falhou completamente, qualquer coisa como o ensaiar da junção de surrealistas com gente não surrealista, mas que, em todo o caso, podia constituir-se como uma espécie de frente unida contra um meio sobre o qual o mínimo que posso dizer é que é dos mais adversos. Esta tentativa foi muito mal organizada, uma vez que deu origem a imensas confusões. As confusões em que Cesariny fala estão hoje enterradas e são tão enoveladas – o nó é com Luiz Pacheco – que não vale a pena exumá-las. Nenhuma luz daí chegaria, a não ser que esses enredos foram mais de sentimento do que de ideário. Olhando hoje o volume de 1963, reeditado 30 anos mais tarde por Bruno da Ponte, seu primeiro editor também, ficamos com a ideia de que a empresa foi mais valiosa do que dá a entender a apreciação citada. O meu biografado sempre gostou de fazer antologias – os livros colectivos foram uma das suas paixões. Fez várias ao longo da vida, mais do que é vulgar num poeta, que é solipsista o bastante para não reparar nos outros, mas só esta, de 1963, tem a surpresa e também a desilusão dum clarão que ficou em suspenso e deixou uma magnífica promessa no céu da época, um dos mais apagados e tristes de sempre, com a morte de John F. Kennedy, a corrida espacial, o fumo das fábricas.
O mais significativo deste período foi porém o encontro com o poeta Raul Leal (1886-1964). Este era um dos sobreviventes da revista Orpheu, um companheiro de Mário Sá-Carneiro e de Fernando Pessoa. Bastava isso para o agigantar aos olhos de Cesariny que o recebeu na sua mesa do Café Gelo e com ele passou a conviver todos os dias. Mas Raul Leal frequentara os urinóis de Lisboa, fora perseguido como homossexual, delapidara várias fortunas com amantes – era filho dum director do Banco de Portugal – e naquele final de vida, passadas as sete décadas de vida, caído na miséria, surgia no Café do Rossio pelo braço dum antigo amante, um ex-pugilista, Francisco Brito, que vivia ao pé da Rua da Madalena, num quinto andar (informação colhida em carta inédita de Luiz Pacheco para Natália Correia). Escrevera uma literatura profética, vertígica, sem cotação na bolsa literária, assinada por Henoch, onde entrava um folheto de “reflexões “teometafísicas”, Sodoma divinizada (1923), que a propósito das canções de António Botto ideava um grau místico para a pederastia e defendia que Sodoma fora condenada não por ser viciosa mas por praticar o vício de forma banal. O pederesta alheado do divino era tão condenável como o chefe de família honrado que praticava um amor inorgânico. O burgo que findava na Rotunda e em Arroios, a Lisboa monárquica e republicana escandalizou-se tanto que os estudantes embuçados nas capas pretas saíram aos magotes à rua a pedir um auto-de-fé do folheto, editado pela chancela Olisipo de Fernando Pessoa. Uma tal visão e um tal escândalo só podiam merecer o desvelo do poeta que recriara em Lisboa os amores de Titânia e fora humilhado no Torel. Logo o meteu no número de estreia da revista Pirâmide, aí lhe encontrando uma família à altura – antes de mais esse Artaud de inspirada loucura, com quem tanta afinidade tinha.
A partir daqui Leal substituiu Sá-Carneiro no imaginário de Cesariny. Pessoa, por muito calafrio literário que lhe desse, e dava o seu tanto, estava um grau abaixo; não tinha a zanga nem a revolta do autor de Dispersão. Até na tensão com o pai, na manifestação dum insanável conflito edipiano, este Sá-Carneiro fora até aí a sua principal figura de identificação. Era o rei dos gatos, o “Poeta-gato-branco”, exaltado no Louvor… e retomado em poema do Discurso… como aquele que “recusou a beber o pátrio mijo” e “deu a mão ao Antero”. Corresponde a um momento em que o suicídio tinha um poder de atracção muito forte sobre o jovem da Rua Basílio Teles e que coincide com a certeza de que não tem qualquer vocação para a vida prática. É o “sem jeito para o negócio” com que ele fecha o poema de Discurso… e que tanto é para aplicar a Sá-Carneiro como a Antero como a ele próprio. Embora o poema “Coros dos maus oficiais…” ainda dê a ver nesta fase do Gelo o magnetismo que sobre ele tinha o suicídio, reactivado pelas adversas condições que se seguiram à doença de Lisboa, a força do erotismo e do desejo como solução para as antinomias abjectas do dia-a-dia começa na década de 50 a substituir a atracção da morte e a impor-se como forma de vida. Raul Leal apareceu-lhe assim como a figura que melhor encarnava nas gerações anteriores à dele a pulsão que o mantinha desperto. Substituiu assim Sá-Carneiro e passou a ser o seu ascendente patronímico – o anti-pai ou o homem mãe, a estrela em que se revia e que seguia.
Por esse motivo dirá mais tarde por interposta voz que o autor de Sodoma divinizada era Orpheu – e não apenas a revista que deu pateada na Lisboa da República mas o psicopompo e o mestre das regiões longínquas e inacessíveis, onde ocultas vivem as almas desencarnadas. Os outros eram apenas tretas da “arte e da era”.
O NÚMERO DO MEIO
No início da década de 60, quase quarentão, o homem da Rua Basílio Teles era um marginal social humilhado pela Polícia Judiciária e vigiado pela polícia política – o seu folheto de 1958, atirado às paredes como um grito de alegria no quadro da campanha eleitoral de Humberto Delgado, só agravou as suspeições perigosas que sobre ele recaíam desde os tempos do coral de Lopes Graça – e de que meia Lisboa conhecia a história. Aliás, ele não fazia questão de esconder nada e todos os dias, ao fim da tarde, ia sem preocupações aparentes ao Cais do Sodré esperar a vedeta que trazia a marujada da escola naval do Alfeite. Um círculo informado, dia a dia mais largo, começava porém a reconhecer nele um invulgar talento poético.
A sua estreia acontecera tarde, em 1950, tinha 27 anos, com um folheto que passou quase despercebido e de que o leitor tem notícia, Corpo visível. Sabemos que não havia nele qualquer pressa, menos ainda ambição para carreiras. Detestava a literatura como forma social de ser, com o seu cortejo de falas mundanas. As edições na chancela Contraponto, em 1952 e 1953, tiveram uma recepção morna que se podia ter perdido como os rios se perdem nas areias do deserto. Tanto Pedro da Silveira (a quem Cesariny numa carta a Cruzeiro Seixas, Março de 1953, chamou “crítico pepineiro”) como Óscar Lopes têm um tom frio e desdenhoso – Lopes chega a acusá-lo de “amoralismo literário” em 1952 – que se podia ter tornado norma e que acabaria por condenar durante um tempo a poesia de Cesariny. Houve todavia Gaspar Simões. Era respeitadíssimo, vinha dos tempos heróicos do modernismo, conhecera e fora orientado por Fernando Pessoa e praticava um magistério regular, que mesmo os grandes da época não desdenhavam seguir. Aquilino Ribeiro chegara a confessar em público que emendara a mão depois de críticas menos abonatórias de Simões. Ora este crítico, logo em 1952, saudara sem restrições a poesia de Cesariny e acompanhara desde aí num crescendo de elogios a sua criação, acabando por classificá-la em 1957 um “caso de prestidigitação genial”. Foi Gaspar Simões quem primeiro impôs Cesariny à admiração pública e lhe deu um estatuto tão alto de criador que as nódoas morais em que a sua reputação naufragava empalideceram. Ao génio tudo se perdoa, mesmo o não tomar banho e o não mudar de camisa, quanto mais o ir para cama com marujos quase imberbes. A apresentação física e a correcção social não valem uma teoria de Einstein ou uma frase de Lavoisier. Também a higiene moral, a conduta irrepreensível e os bons costumes não valem uma elegia de Bocage ou uma estátua de Miguel Ângelo.
O poeta de Pena capital não andava na vida à procura de elogios. Tinha um rumo distinto que passava pelo desejo amoroso e não por uma carreira nas letras, na arte ou no comércio. Zombou pois desse seu novo estatuto de menino genial das letras no “Coro dos maus oficiais…”, ironizando com as “boas probabilidades/ de vir a ser/ dos melhores poetas pós-fernandinos”. Acabou porém por beneficiar dele, conquanto indirectamente. A oferta que lhe chegou, por intermédio de Orlando Vitorino, da Guimarães editores, uma casa séria da Rua da Misericórdia que editava autores venerados à esquerda e à direita como Manuel Ribeiro, Ferreira de Castro e Agustina Bessa-Luís, foi o primeiro sinal da sua aceitação em meios até aí muito renitentes à sua presença. Editou então numa editora respeitável dois livros, Nobilíssima visão (1959), onde deu a conhecer uma primeira mostra dos seus poemas neo-realistas, e Planisfério e outros poemas (1961). Outra editora, a Delfos, vocacionada para sucessos de livraria, propôs-lhe uma reunião da sua poesia num único tomo, coisa que se propunha apenas a poetas consagrados, com público e boa crítica. Nasceu assim Poesia (1944-1955), volume editado no final de 1961 e que reuniu a “Poesia civil” (“Políptica de Maria Klopas, dita Mãe dos homens”, “Nicolau Cansado escritor”, “Um Auto para Jerusalém”, este em fragmento inicial, “Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos”), O Discurso…, Pena capital, Manual de prestidigitação, Alguns mitos maiores… e “Estado Segundo”, inédito da mesma época de Pena capital. Ficou um fólio a caminho das quatrocentas páginas, de grande dignidade e sobriedade. O volume tinha no início um retrato de Cesariny, desenho à pena de João Rodrigues, conviva do Café Gelo. Tem nesse retrato uma beleza austera e senhoril, quase insuportável. Se quiserem saber como Cesariny foi belo, dessa formidável e inacreditável beleza que fazia estarrecer o próprio, afastando-o temeroso de qualquer espelho, observem esse retrato. Parece um rei mendigo, um índio de outras eras zodiacais a quem roubaram todas as pradarias e a quem nada resta senão esperar à mesa do Café, de mão encostada à face, com funda e saudosa nostalgia, a chegada do nada ou da noiva alquímica – a Titânia alada dos seus sonhos. Fosse como fosse, foi esse livro que deu dele pela primeira vez a imagem dum poeta decisivo, de obra completa.
É também deste período a sua estreia como tradutor pago. Antes vertera para português textos que dera a conhecer aos amigos, como os poemas de Artaud, Breton e Victor Brauner lidos na “Noite dos poetas” da exposição de “Os Surrealistas”, em Junho de 1949. Agora fazia contrato para dois autores, Rimbaud e C.-F. Ramuz – o primeiro em chancela de projecção, a Portugália, Uma época no inferno (Junho, 1960), com o título mais tarde alterado, Uma cerveja no inferno (1972), o segundo com peça musicada por Igor Stravinsky, História do soldado, encomenda do Teatro de São Carlos em Dezembro de 1962 e que só foi dado em livro em 2002, altura em que voltou à cena no Teatro da Cornucópia.
A relação de Cesariny com Rimbaud merece uma paragem e alguma reflexão. Não tratar com algum cuidado esta ligação é perder um dos fios estruturantes da linguagem de Cesariny e até da sua personalidade. O caso está longe de poder ser resumido a um mero episódio editorial. O contrato com a editora Portugália e a saída da primeira versão do livro em 1960 é apenas um acidente dum itinerário mais complexo e rico, que começa antes e prossegue até muito depois. Já em 1952, o editor da Contraponto, Luiz Pacheco, lhe pedia traduções de Rimbaud para publicar dois anos depois, em 1954, de modo a assinalar o centenário de nascimento do poeta criança. O labor com Rimbaud prolongar-se-á muito para além de 1960, com os contratos seguintes, primeiro em 1972, com a editora Estúdios Cor, em que ao livro primitivo se juntou a tradução portuguesa de outra obra do autor francês, Iluminações, e depois, a partir de 1989, com as reedições dos dois conjuntos na Assírio & Alvim, com alterações que testemunham o convívio que o português continuava a manter com o texto rimbaudiano e da perturbação que este seguia em causar-lhe. Trata-se pois duma relação visceral, que se situa no plano das afinidades, das obsessões inexplicáveis, que se vivem de forma fatal e se fazem um elemento ingénito da vida e do destino. Rimbaud é um dos rostos que o meu biografado foi buscar à arca do passado para o tornar vivo em si. Faz parte da sua pequena galeria de figuras de identificação, junto a Mário de Sá-Carneiro, Artaud, Raul Leal e Teixeira de Pascoaes. Falta aqui propositadamente André Breton. Este foi para ele um fermento que o ajudou a levedar mas não parece ter sido para ele um “eu” com o qual se identificasse e cujo percurso desejasse repetir. E o mesmo se dirá para esse Dostoiewski que leu em criança por engano e que foi uma madrinha involuntária que o fadou com condão de varinha para um itinerário a que não mais se furtou, mas está longe de ser um rosto e uma máscara de identificação.
É impossível precisar uma data, um ano, para o encontro de Cesariny com Rimbaud. Na fase neo-realista não se dá nota de qualquer referência ao poeta francês, o que não quer dizer que não tivesse notícia do seu nome – também a tinha de André Breton. O livro de Nadeau, lido com espanto aos 23 anos, jogou com certeza aqui um papel, pois ao lado de Jarry e de Lautréamont Rimbaud é largamente citado no quarto capítulo da primeira parte como precursor do surrealismo. Apercebeu-se aí da necessidade de o ler com atenção, como de resto aos outros dois, o que aconteceu com certeza nas deambulações parisinas desse Verão de 1947 por livrarias e bibliotecas. Na Primavera de 1953, no momento do Café Royal, já o meu biografado o conhecia por dentro e por fora, pois tinha em seu poder uma primeira tradução portuguesa de Une saison en enfer, destinada aos prelos no ano seguinte, o do centenário de nascimento do autor francês, e que não chegou a sair na Contraponto pela falta crónica de dinheiro em que esta chancela vivia. Limada e polida, a tradução foi mais tarde publicada, por mediação de Luís Amaro, na Portugália Editora, que o obrigou a alterar o título, já então Uma cerveja no inferno. António Maria Lisboa conheceu a tradução, para a qual escreveu mesmo alguns parágrafos introdutórios, “A verticalidade e a chave”, que só mais tarde vieram a lume e fora do quadro da edição portuguesa do poeta francês. Também Cesariny escreveu para a obra um prefácio, “Rimbaud”, datado de 1954, onde citou passagens de Titânia. Em 1960, quando finalmente fez contrato com a Portugália para a edição da tradução, preferiu deixar de lado esta primitiva introdução, que só na colectânea A intervenção surrealista (1966) viu pela primeira vez a luz – mais tarde foi recolhida no livro As mãos na água a cabeça no mar (1972; 1986). Desse período inicial, o do Café Royal, o da sua prisão no Torel e o da criação de Titânia, data ainda uma curiosa peça, “Um caso de vida ou de morte na poesia de Verlaine”, publicada no Diário Popular e recolhida depois na colectânea de 1972, que se mostra uma peça de apoio importante para se entenderem as motivações do tradutor.
O interesse do meu biografado por Rimbaud foi constante e atravessou várias fases da sua vida, sedimentando aos poucos como um elemento recorrente, da maior importância para a formação da sua identidade como poeta. Leu-o pouco depois dos vinte anos e, um quarto de século depois, com quase cinquenta anos, ainda andava às voltas com uma nova tradução do poeta francês. No final da vida continuava a rever as traduções, como se elas fossem impossíveis e não pudessem por isso ter fim. Havia sempre uma razão para regressar ao seio destes textos e mexer neles. Chama-se a isto magnetismo e paixão.
Qual a razão para esta atracção, que quase o fez esquecer Lautréamont e Jarry, também eles por traduzir em Portugal e também eles decisivos para o que o passou a interessar depois da revelação da Primavera de 1947? Rimbaud caracteriza-se por três pontos: o dom que despreza as convenções e joga uma liberdade tumultuosa mas autenticamente criadora; a superação da literatura e do eurocentrismo; a entrega ao instinto como fonte de toda a individualidade. Stefan Zweig chamou-lhe um herói da liberdade interior. Foi este heroísmo que cativou o jovem neófito das ideias surrealistas e o levou a tomar Rimbaud como uma máscara sua, fazendo-se o seu primeiro tradutor português. Rimbaud, cujo livro Une saison en enfer (1873) data de recuado ano, chegou tarde a Portugal, depois do simbolismo de Eugénio de Castro e das vanguardas, mas chegou pela mão certa. Cesariny não foi indiferente à beleza destes versos mas não foi por razões estéticas, que trairiam a experiência vital do seu autor, que o poeta português os traduziu. Foi pelo que neles havia de afirmação dum verbo viril que se despojara de todos os entraves morais e estéticos para afirmar uma liberdade que só podia ter continuação em actos. Lautréamont e Jarry não lhe podiam dar o mesmo, já que o primeiro tinha um mundo poético intransitivo, fechado em si, e o segundo, que muito magnetizou um António Maria Lisboa preso ao seu leito de enfermo, suponha o teatro e o seu espectáculo como uma substituição da vida. Aplicando o instinto à poesia e à vida, só Rimbaud lhe oferecia um modelo que dava resposta às suas inquietações mais vitais e até ao seu comportamento no dia-a-dia. A poesia de Rimbaud tanto foi para ele o horizonte insuperável, o poema intraduzível, que ele perseguiu a vida toda sem jamais alcançar, como o poema que era seu sem qualquer esforço. Rimbaud encontrou nele aquele que melhor o podia compreender. Por isso foi ele que o soube dar a ler em português sem lhe alterar uma vírgula que fosse do espírito – ele que tanto lhe mexeu nas letras e sentidos. Na alquimia do verbo, no desregramento sensorial, na força alucinatória das visões do poeta criança, encontrou o português a sua própria magia de genial prestidigitador verbal.
Regresse-se às recensões de Gaspar Simões e às suas consequências. O surrealismo até ao final da década de 50 não tivera fortuna editorial em Portugal, a não ser a da chancela de Luiz Pacheco, e era olhado de lado, com desconfiança, devido ao estigma social dos seus principais mentores. Os textos de Gaspar Simões mostraram-se decisivos e chamaram a atenção dos editores para a importância renovadora que o surrealismo, e não apenas o autor de Corpo visível, estava a ter na poesia portuguesa. Pondo de lado o número de estreia de Pirâmide, edição de Carlos Loures e de Máximo Lisboa, dois jovens de 20 anos, foi nesta época que Cesariny fez a primeira antologia do movimento em Portugal, Antologia surrealista do cadáver esquisito (1961), que o leitor já conhece, e que foi publicada numa editora de projecção, a Guimarães. Nesta mesma época e pelas mesmas razões, construiu a segunda antologia que o leitor também já conhece, Surreal/Abjeccion-ismo (1963), que veio a lume na editora Minotauro, a mesma que de seguida lhe editou a peça do período neo-realista Um auto para Jerusalém (1964). A Guimarães pediu-lhe ainda uma reunião da obra de António Maria Lisboa, anunciada como “obra completa” mas que ficou por dois volumes, um em verso e outro em prosa, surgidos na Primavera de 1962. O início da década de 60 é pois um momento de reconhecimento para o meu biografado, para o surrealismo e para um dos seus principais poetas, António Maria Lisboa, até aí desconhecido do público português. A partir desse momento Cesariny assumirá como tarefa sua a edição e a divulgação da obra do seu amigo desaparecido aos 25 anos, reconstruindo no plano simbólico da poesia os lados essenciais do quadrado mágico que estivera na origem das acções do grupo “Os Surrealistas”. O empenho e a dedicação com que o fez, organizando em 1977 uma monumental edição da obra de Lisboa e classificando a sua poesia como a mais importante do surrealismo português, foram como que uma substituição da perda que sofreu no início da década de 50.
Esta primeira edição de António Maria Lisboa na editora da Rua da Misericórdia esteve na origem das primeiras escaramuças sérias – houvera outras mas inofensivas – entre Cesariny e Pacheco, que tiveram depois curiosos desenvolvimentos que merecerão mais tarde atenção. Pacheco, que salvara do lixo a obra do defunto e editara um estojo com o texto lisboano A verticalidade e a chave (1956), edição plenamente subscrita por Cesariny e Seixas, concebia o projecto de editar na sua chancela a obra do amigo. Melindrou-se pois ao saber que a edição estava entregue a outro editor. Caricaturou então de forma violenta e burlesca a situação num texto, “Cesariny muito cansado”, que pôs a correr nos Cafés da Baixa em folha copiada a estênsil – mais tarde recolheu-o na colectânea, Pacheco versus Cesariny (1974: 39-41). Tanto dum lado como doutro, o melindre foi leve e cicatrizou rápido, se é que o poeta de Corpo visível se chegou a ofender com a investida. Insistiu na mesma época com Pacheco para comparecer na sua colectânea, Surreal/Abjeccion-ismo, e ele entregou-lhe O Teodolito, que, esquecendo por um momento a narrativa de Bloco e até a edição na colecção “A Antologia em 1958” de Carta-sincera a José Gomes Ferreira (1959), foi a sua estreia de escritor, ao menos de ficção, e o texto fundador do neo-abjeccionismo, que acabou por gravitar na órbita do surrealismo português, mostrando como este na década de 60, vinte anos depois da sua chegada às paragens lusitanas, estava vivo e capaz de se reproduzir.
Atendendo à informação dada na antologia de 1972, Burlescas, teóricas e sentimentais, Planisfério e outros poemas, que a Guimarães editou em 1961, é livro composto entre 1958 e 1960, contemporâneo por isso do Café Gelo e da revista Pirâmide. No poema “Ortofrenia” encontra-se um verso sibilino – “sabermos estar vivos na geleira” – que diz muito sobre o seu autor. “Saber” estar vivo exige uma ciência ao serviço do sonho; é muito mais do que sobreviver. Chega para se imaginar o poeta à mesa do Café onde passava as longas horas da tarde, muitas vezes a sós, diante da bica e dos papéis, a traçar os signos da sua rebelião e da sua nostalgia. Foi essa mesma ciência que João Rodrigues tão bem soube passar a retrato – e na “geleira” que era o Café Gelo. Alguns dos poemas da primeira edição do livro, como “Autoractor” e “Passagem de Lafcádio”, foram deslocados nas edições finais – o livro teve reedição em 1982 e em 2004 na colectânea Pena capital – para livros anteriores. “Autoractor” passou para o final de Pena capital e “Passagem de Lafcádio” para “Visualizações”, uma das primeiras colectâneas do autor, anterior à adesão ao neo-realismo e que se chegou a chamar “Loas a um rio”. Também um poema como “Passagem a limpo” interage com outro desse primeiro período, “Adolescente morto”. Na edição de 1961, o livro tem pois duas camadas distintas, os poemas compostos na fase do Café Gelo e os anteriores, que pertencem à primeira época que antecedeu o neo-realismo. Chegou a integrar na primeira edição cinco fragmentos de “Loas a um rio”, depois limpos e arrumados no início de “Visualizações”, conjunto que está hoje na abertura da edição final de Manual de prestidigitação (1981; 2005).
Este livro deu origem a um pequeno duelo nos jornais. Não chegou a fazer sangue, menos ainda mortos, mas levantou algum ruído, que não fica mal lembrar. Gastão Cruz, que nesse ano de 1961 se estreara como poeta no folheto colectivo Poesia 61, surgiu a fazer crítica de poesia num novo semanário, o Jornal de Letras e Artes. Uma das primeiras críticas apareceu dedicada a dois livros (J.L.A., n.º 6, 8-11-1961), Planisfério de Mário Cesariny e Queda livre de E.M. de Melo e Castro. A apreciação geral do autor de Pena capital era arrasadora: Mário Cesariny de Vasconcelos foi vítima de uma falsa compreensão do surrealismo. Agarrou a linguagem tópica de uma escola que tem quase quarenta anos e, aplicando-a muitas vezes sem qualquer sentido de renovação, vestiu com inquietante frequência um puído fato de epígono, quando não fora tal equívoco, poderia ter mais constantemente realizado uma poesia efectivamente vanguardista. Em defesa de Cesariny saiu Gaspar Simões (n.º 13, 27-12-1961), a que Gastão Cruz respondeu (n.º 16, 17-1-1962). Esta réplica tem a vantagem de deixar por um momento de lado o autor do livro para mostrar o fundamento teórico de Poesia 61 no momento do seu parto. Declara-se: (…) é bem nítida a importância que a realidade, e mesmo a circunstância social, assumem nos poetas reunidos em Poesia 61. (…) Neste sentido, a nossa poesia é realista. As técnicas utilizadas têm por motivo uma necessidade premente de perceber dialecticamente o mundo. Os alicerces de Poesia 61, e daí o dissídio com o poeta de Manual de prestidigitação, eram afinal os mesmos do Novo Cancioneiro – realismo, compreensão dialéctica do real, apreensão integral da realidade, abandono de qualquer resíduo metafísico. Entre o Mário Dionísio da década de 30 e o crítico da década de 60 que fez a afirmação acima transcrita não há muitas diferenças a assinalar. Gaspar Simões ainda se deu ao trabalho de responder (n.º 19, 7-2-1961) para fazer ironia e arrumar de vez o assunto.
Nada disto pode interessar hoje e muito menos a propósito de Cesariny, cujo neo-realismo foi de tal modo desalinhado que acabou em escândalo. Seja como for, há aqui um nó que importa agarrar. Depois de duas décadas de experiências, Poesia 61 foi uma encruzilhada. Naquele momento havia dois caminhos possíveis – o do realismo, tal como ele fora aberto pelos coimbrões, e o do surrealismo, tal como a insatisfeita geração lisboeta do final da guerra o iniciara em 1947 com os desenvolvimentos que o leitor conhece. A apreciação crítica atrás citada do principal crítico de Poesia 61 mostra a opção que então foi feita. O surrealismo foi deixado de lado, criticado como “descabelada e altamente mistificadora teoria metafísica” (8-11-1961), e em seu lugar foi posto o realismo, cujo caminho não parece ter sido mais colocado em causa, ao menos de forma incisiva, até aos dias de hoje. A geração do Gelo, nascida na década de 30, anterior portanto aos de Poesia 61, todos da década de 40 ou dos últimos anos da década de 30, foi a última geração que em Portugal beneficiou do surrealismo e dos seus processos. Isto teve várias consequências. Registem-se aqui duas. Primeiro – tornou-se quase impossível a partir desse momento o surgimento dum grande poeta; o último foi Herberto Helder, cujo contexto de formação foi o do legado surrealista da década de 40 e por isso Helder ainda entrou na Antologia surrealista do cadáver esquisito. Segundo – numa altura em que estavam já publicados alguns poemas da fase neo-realista do rapaz da Rua Basílio Teles, as suas leituras críticas sofrem um violento abanão, que foi o preço a pagar para a sua poesia sobreviver junto da nova geração. A nova leitura, que se nutriu das recensões que Ramos Rosa fizera dos primeiros folhetos de Cesariny e que acabou por gozar de largo favor, pode resumir-se assim: o que vale na poesia do autor do Louvor e simplificação… é o realismo; a sua grandeza é… o real, o real conhecido e tratado dia a dia. A partir daqui o surrealismo encobriu-se, passou a zona de névoa e sombra, ficou arrumado num passado limitado ao final da década de 40 e foi dado por dispensável na abordagem do poeta. Uma geração que optara de forma tão decidida e tão exclusiva pelo realismo, como a de Poesia 61, só tinha duas saídas: ou lia a poesia de Cesariny do ponto de vista do realismo ou expurgava-a do seu cânone – como esteve quase a suceder como adiante se verá com Gastão Cruz.
Algo de essencial se perdeu com esta operação. Cesariny foi um poeta caótico, instintivo, cego e até brutal, que procurou a magia verbal e não a beleza, que ambicionou destruir as palavras de Babel e que escolheu como seu anjo tutelar o autor da alquimia do verbo. Era um poeta que “odiava a poesia” como Rimbaud podia odiar, e sabe-se o nojo com que ele a odiava, um poeta rebelde, explosivo, escaldante, que verbalizava sob um impulso frenético e irrecusável, a que ele chamou o daimon. Quando a temperatura dessa combustão baixou, quando essa veemência perdeu o impulso, o que aconteceu a partir da meia-idade e se acentuou depois dos cinquenta anos, ele deixou quase de escrever. Era um poeta que preferia o silêncio, aliás como Rimbaud, a formalizar numa fórmula literária a criação virgem que tinha dentro de si. Repetir-se era viver de joelhos e perder autoridade. Essa força instintiva e original, que lhe surgiu do lado de fora de si logo aos primeiros versos – recorde-se a carta a Seixas de 21-8-1941 – e que veio a encontrar no surrealismo o seu meio natural de confirmação, e que feitas as contas é o rosto mais intransitivo da sua experiência poética, acabou por ser sacrificada nesta leitura dum Cesariny realista frio, irmão de Cesário e de Campos, reduzido aos traços calculadamente satíricos de Nobilíssima visão, e que dispensava por isso os processos do automatismo surrealista. Ora “Pastelaria” e “Rua da Academia das Ciências”, por muito sublimes que sejam, não são poemas superiores, bem pelo contrário, a “Ditirambo” de Pena capital e “a cabeça de arcafaz (sismo)”, que sem o automatismo surrealista não se entendem na complexidade da sua obtenção e cujo real, de outra espécie, nada tem a ver com o do realismo em arte.
O livro Planisfério e outros poemas apareceu dedicado a Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes. “À Maria Helena e ao Arpad” – assim reza a dedicatória inicial, que se sumiu das edições ulteriores. Depois da oferta do guache em 1958, sem o qual a colecção “A Antologia em 1958” não teria visto luz, compreende-se que Cesariny tenha querido dedicar ao casal os poemas que então compunha. No capítulo seguinte observaremos com mais pormenor esta amizade. Por ora, basta dizer que por esta altura ele concebeu o projecto de estudar a pintura de Vieira da Silva e de obter para isso uma bolsa de estudo da Fundação Calouste Gulbenkian. Parte da geração do Café Gelo partira já para França e Alemanha com bolsas da Fundação. Dos iniciais que tinham ateliê no prédio da esquina do Rossio com o Largo D. João da Câmara, Lourdes Castro, René Bertholo, José Escada, João Vieira, Gonçalo Duarte, Costa Pinheiro, já não havia ninguém. Desde 1958 que Cesariny os via partir, eufóricos e felizes, deixando o lugar vago à mesa do Café. Estavam todos em Paris, onde faziam a revista KWY, em que o autor de Pena capital ainda chegou a colaborar com um poema. Ele não ia a Paris desde o Verão de 1947. Há quase quinze anos que se arrastava entre a Palhavã, que entretanto crescia e se urbanizava, tornando-se um arrabalde feio e texano, o Rossio, o Cais do Sodré, o Bairro Alto e a Avenida, com o Parque Mayer, os teatros, as casas de comes e bebes, as sombras verdes ao alto, do jardim do Botânico. Raramente subia agora ao norte do país para ver tios e primos, que haviam casado e dispersado. Maria Helena Calafate, por exemplo, a “noiva alquímica da sua infância poveira, era hospedeira de aviões e era raro estar em Portugal. Ele estava colado à vida pequenina, provinciana e fechada da Lisboa que o humilhara durante anos nos Cafés, com desinteresse, risinhos escondidos e palavras desconfiadas. Em carta a Luiz Pacheco, chegou a dizer que esses vexames o destruíram (Jornal do Gato, 1974: 47): Estive preso (…) mas, muito pior que isso, tive cinco anos de liberdade vigiada que deram cabo de mim. Lembro-me que nessa altura tu achavas graça a uma expressão do Lima: o poeta que vai à revista. O poeta foi à revista e matou-se aí. Ou mataram-no. É provável que o ar de saudosa nostalgia que João Rodrigues lhe captou no retrato à pena de 1961 tenha a ver com esta morte simbólica do poeta. As pradarias perdidas do rei mendigo eram as da poesia.
Veio-lhe uma sede súbita de se ir embora, de voltar costas a essa Lisboa madrasta, onde apodrecia há anos. Tinha amigos em Londres, em Madrid e em Paris. Uma amiga, Isabel Meyrelles, a Fritzi dos tempos do ateliê na Rua do Ferragial e das escapadelas para as dunas da Caparica, instalada em Paris desde 1950, insistia há anos na sua visita. Depois duma tentativa frustrada de partir para Paris em 1961, para prosseguir o trabalho em torno de Rimbaud, desta vez juntando-lhe Lautréamont e Jarry, fez uma saída a Madrid em Outubro de 1963, com convite para participar em colóquio tido pelo Congresso para a Liberdade da Cultura. Palestrou no evento – texto recolhido na colectânea As mãos na água… –, mas essa saída de poucos dias, com viagens e estadia paga pelos organizadores do evento, só lhe renovou o apetite para mais largos e demorados voos. Ficou dessa estadia em Madrid um curioso testemunho numa carta a Virgílio Martinho que dei a conhecer e onde se confirma que o centro da sua vida, a sua razão de ser e continuar era o amor vivido como transgressão. A pintura de Vieira da Silva não foi porém um mero pretexto para sair de Lisboa. Tinha um diálogo antigo com ela – o primeiro texto que sobre ela deu data de 1952 – e concebeu por isso um estudo grave e pensado, com visitas aos locais onde a pintora vivia e trabalhava. Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista (1984) demorou muito mais do que o previsto e até do que passa por razoável. Foram precisos 20 anos para aparecer mas a demora foi justificada. O livro precisou do tempo para ganhar a tez madura duma obra perfeita. Como mais tarde se verá, é hoje uma das chaves do pensamento do meu biografado.
A primeira notícia desta viagem encontra-se numa carta de Vieira para Mário Cesariny do início de Dezembro de 1962 (Gatos comunicantes, 2008: 50). Já nessa altura Vieira e Arpad aguardavam a qualquer momento a chegada do poeta português, dando-lhe o telefone de Paris e de Yèvre-le-Châtel, na região dos castelos do Loire, onde tinham adaptado em 1960 uma antiga oficina de ferrador, que lhes servia de refúgio estival. O casal havia passado por Lisboa na Primavera desse ano e é bem possível que o estudo tenha sido acordado nessa altura. A partida não foi porém imediata, já que na época o propinante não tinha qualquer possibilidade de regressar a Paris pelos seus meios. Vivia de ocasionais colaborações de jornal, dos magros direitos de autor que começou a receber na Guimarães e na Delfos, dalguma esmola pouca que a mãe lhe dava. Precisava pois obter uma bolsa de apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Quem então dirigia a secção de Belas-Artes da Fundação era Artur Nobre de Gusmão, que se ocupou do processo. Os documentos da pasta de bolseiro de Mário Cesariny ainda hoje estão depositados no arquivo da Fundação – como de resto estão os de 1960/61, quando ele pensou prosseguir com Rimbaud em Paris – e lá se encontra uma carta de 7-9-1963, expondo com pormenor o seu projecto de trabalho. O objectivo era a publicação dum fólio sobre a obra de Vieira da Silva, com estudo crítico introdutório, reproduções de trabalhos a cores e a preto e branco e dados biobibliográficos actualizados. A primeira fase da pesquisa era realizada num estágio em Paris, com visitas à pintora, viagens a museus ingleses, holandeses e suíços, visitas de galerias e de exposições. A redacção do texto introdutório era deixada para mais tarde. Vieira, que já se interessara pela primeira tentativa de saída para Paris, apoiou com uma carta sua ao Presidente da Fundação o projecto, que teve de imediato luz verde para requerer bolsa de estudo, pedida no início de 1964 mas só deferida no segundo semestre do ano.
A partida para Paris aconteceu ainda no mês de Março – a 10 de Março ainda estava em Lisboa pois nesse dia entregou na Fundação Calouste Gulbenkian o pedido de bolsa (o prazo para entrega terminava a 31 de Março) – ou o mais tardar no início de Abril como se depreende de duas cartas para Seixas (8-4-1964; 28-7-1964). Instalou-se em casa de Isabel Meyrelles, que trabalhava numa livraria, L’Atome, dedicada à ficção científica, na Rua de Grenelle, perto de St. Germain, e vivia na Rua de Savoie, num minúsculo apartamento que foi adaptado à pressa para o receber. Levava pouco dinheiro – em carta a Seixas (10-8-1964) diz 1200 escudos – porque a bolsa estava encaminhada mas ainda não deferida. Só mais tarde, no Outono, foi emitida, com a respectiva ordem de pagamento. Começou então para Cesariny um período de vagabundagem que lhe lavou a alma de todas as nódoas lusitanas. Andar de terra em terra, saltar de lugar em lugar, era o seu meio natural de vida. Os antepassados maternos, os Rossi Cesariny, originários do interior da Córsega, eram gente de viagem. Saíram da Itália a pé e atravessaram meio mundo. Levavam com eles uma boneca articulada, que se tornava a grande atracção teatral nos lugares onde passavam. Um deles, Pierre Rossi Cesariny, chegou a Hervás, um silencioso povoado de pedra na meseta ibérica, onde se apaixonou por uma menina que estava a apanhar ar à janela. Pediu-a em casamento e ficou com ela. Ainda tiveram uma loja de quinquilharia no lugar mas pouco durou, que o lugar era quase despovoado e as montanhas ao redor tinham mais lobos que gente. Na geração seguinte já tinham dispersado e atravessado a fronteira portuguesa, que ficava mesmo à mão, atraídos pela fantasia da orla marítima. Chegaram a Lisboa com destino marcado para a América, Cesariny Rossi e as duas filhas, Henriette e Mercedes. Foi um acaso de ocasião que as fez ficar em Lisboa, onde conheceram Vasques Calafate e Viriato de Vasconcelos com quem casaram. Esta gente tinha no sangue uma estrela nómada. Eram príncipes ciganos, à procura da terra prometida. Ganhavam cabelos brancos ao sair da adolescência, gostavam dos trajes negros e dos chapéus descaídos a cobrir o rosto, chegavam à maturidade aureolados por uma luz mágica que deslumbrava tanto como a neve mais alva nos picos das mais soberbas montanhas. Sem movimento, sem o sonho da travessia, sem a palavra viagem, definhavam, perdiam a beleza e o mistério que os singularizava e lhes dava uma altivez aristocrática que não era estudada nem composta e tinha mais de humildade do que de arrogância.
Os primeiros tempos de Paris foram de despreocupada deambulação. Tinha planos de viagem mas guardava-os para o final da Primavera ou para o Verão. Nem sequer os encontros com Vieira e Arpad foram muitos, pois o casal estava pouco disponível. Viviam a trabalhar, fechados no ateliê que tinham na Rua Abbé Carton, sem tempo para conviver. São raras as fotografias de Vieira em que não está de pincel na mão, ou por perto, e xaile nos ombros. Trabalhava sempre, sozinha, com os seus gatos e Arpad. Mal a chamavam para uma exposição ou uma homenagem, queixava-se que lhe roubavam tempo para a pintura. Foi Vieira da Silva que um dia disse: “Eu sou como uma galinha choca – se sair os meus quadros vão arrefecer.” Há frases que só se admitem num deus e esta é uma delas. Demais, a mãe acabara de falecer em Paris, em Fevereiro, aos 80 anos e, órfã de pai aos três anos, Vieira viveu um luto doloroso e talvez demorado. Cesariny dedicou-se à arte de vaguear pelos boulevards, que já em 1947 ele conhecera e com que se dera bem. Sentava-se nas esplanadas, entrava nas bibliotecas e nas livrarias – Isabel Meyrelles ocupava-se duma, embora especializada numa matéria que não o cativava –, frequentava os cinemas baratos, os museus, as galerias e procurava namoros de ocasião, muitos em cinemas de bairro que aprendeu a descobrir em zonas escondidas, outros nas esplanadas das avenidas, que urinóis Paris nesta época já poucos tinha. Isabel Meyrelles o que melhor recorda do tempo que o amigo passou no andar da Rua de Savoie são as “caçadas” diárias a que ele se entregava na no asfalto da cidade, caçadas eróticas que lhe exigiam uma disponibilidade quase total e lhe davam uma satisfação vivaz.
Nesta fase descobriu a obra de Jorge Luis Borges, que leu com paixão, e começou a escrever um conjunto de poemas, acompanhados desta vez por um diário onde anotava o processo de criação. Foi o reencontro com a poesia, pois desde o início da década que ele nada escrevia novo, chegando mesmo a dar o poeta por morto – ou assassinado às mãos da polícia. Mais tarde chamou ao conjunto A cidade queimada (1965). Nas deambulações na margem direita do Sena, na zona mais popular e comercial da cidade, aquela que mais “presas” fornecia ao seu instinto de caçador, descobriu por acaso, quando procurava uma esplanada retirada, a Torre de Saint-Jacques, construída no séc. XIV por Nicolas Flamel, e que se tornou uma das suas obsessões parisienses, revisitando-a vezes sem conta e entrosando com ela a criação poética desse momento. O “diário” final do livro A cidade queimada tem assim inúmeras considerações sobre o monumento, que é menos um lugar do exterior, do turismo ou da história da arte, que uma das elevações ou perturbações da sua alma vibrátil.
André Breton continuava em Paris, prosseguindo a sua rota contumaz. Nessa Primavera tomou posição pública contra uma exposição organizada na galeria Charpentier por Patrick Waldberg, anunciou uma enciclopédia em torno do surrealismo e apresentou a exposição do pintor cubano Jorge Camacho na galeria Matthias Fels. Vivia sempre em Montmartre, na Rua Fontaine, no mesmo prédio que o rapaz de Lisboa visitara em 1947, e continuava a ter encontros diários com o seu grupo num Café de Paris – La Promenade de Venus. Comprara entretanto um casebre quase arruinado no Guercy, nas margens do rio Lot, já a caminho do país Gascão, para onde se retirava com parte do grupo no início do Verão. Não obstante, desta vez, o poeta português não se atreveu a bater-lhe à porta. Não era a imponência do poeta de Nadja que o esmagava. Se assim fosse nunca o teria procurado em 1947 e não lhe dedicaria o sentido necrológio que pouco tempo depois, em 29-9-1966, no dia seguinte ao do seu falecimento, lhe consagrou – e que foi publicado no jornal República (7-10-1966). Nem diria numa carta a Alberto de Lacerda, já de 1967, (20-2-1967; Cartas de M.C. a A. de L., 2015: 41) o seguinte: Não dê outra interpretação; ele [A. Breton] continua a ser para mim o maior poeta do século; o que fez; o que disse, o que quis, o que publicou, o que falhou – grande em toda a medida. A questão era outra. Tinha sobretudo a ver com toda a balbúrdia que envolvera o parto do G.S.L. e se prolongara com o fiasco do boletim e do número da revista Variante. Falava Cesariny com Breton no Verão de 1947 e já Costa Pinto, que figurara no catálogo da galeria Maeght, era expulso do núcleo formador do grupo. A partir daí as confusões foram tantas, tão extensas e tão cruzadas que o francês desistiu de entender o que se passava naquele recuado canto do mundo. Entre a sua pessoa em Paris e a cidade de Lisboa havia um muro espesso e alto chamado Espanha, que, esse, sim, o atraía. António Maria Lisboa, que aparecera em Paris na Primavera de 1949 com cartas e queixas, fez figura com certeza aos olhos de Benjamin Péret de rapazinho simpático mas a veemência e a obsessão das acusações que levava contra António Pedro e José-Augusto França – tinha ele uma bela intransigência do tamanho dos seus 20 anos – não podiam ajudar uma situação já tão enovelada desde a expulsão de Costa Pinto no final do Verão de 1947.
Por isso, quando Breton teve de fazer o primeiro balanço das actividades surrealistas no mundo, juntando umas “efemérides surrealistas” à edição definitiva dos manifestos do surrealismo (1955; 1962), Portugal nem sequer é referido. É a ausência total, o deserto onde nada se passava, só comparável às Bermudas, a Ceilão e a Fernão Pó. O mesmo, ou pior, fez Jean-Louis Bédouin, membro do grupo surrealista de Paris desde 1948, no livro Vingt ans de surréalisme, 1939-1959 (1961), que Cesariny leu em Lisboa em 1962. Tanto bastou para se retrair e ficar à distância, não voltando desta vez à Rua Fontaine nem procurando o grupo surrealista no Café. A sua obstinação com a Torre de Saint-Jacques durou meses, se não anos – em Março de 2000 ainda se fazia fotografar em frente dela –, e pode ser vista nesse primeiro momento, em 1964, como uma compensação para o desencontro final com o fundador do surrealismo. A caminho de Montmartre, o lugar era um dos preferidos de Breton, que a ele e ao seu autor, o alquimista Flamel, se referira várias vezes e sempre com o maior elogio e interesse.
No final da Primavera Cesariny iniciou um ciclo de viagens alucinante. No início de Junho partiu para Londres, onde retomou contacto com um conhecido dos tempos do Porto e de Lisboa, o poeta Alberto de Lacerda, que era desde 1951 locutor da B.B.C. e se fizera entretanto amigo muito próximo de Vieira e Arpad – fora ele que em 1962 arranjara ao casal a empregada doméstica, Maria do Rosário Oliveira, que nunca mais deixou Vieira. Foi com certeza Vieira que o recomendou a Lacerda neste seu primeiro salto a Londres. A sua história é um mistério e a ascensão dele no meio poético e artístico de Londres, onde as celebridades o recebiam em casa, na sala de estar, em roupão e pantufas, é uma daquelas surpresas que podem alimentar a pesquisa duma geração. Eu vi uma vez em Lisboa este homem – pequenino, seco, irrequieto, e fiquei com a impressão de alguém que subiu à força de encontrões, se não de má criação, mas posso ter-me enganado. Tinha ar de capataz severo e exigente, que barafustava e batia o pé. Ouvi-o gritar, irritado por uma insignificância. Fosse como fosse, foi este Alberto que teve um papel de primeiro plano na chegada de Cesariny a Londres. Foi ele que o levou pela primeira vez aos museus e lhe deu a conhecer Howland Street, onde Verlaine e Rimbaud viveram. O sítio impressionou-o tanto que fez questão de ser fotografado com a placa da rua por cima (Cartas de M. C. para A. de L., 2015: 30). Foi ainda este Alberto que o levou a conhecer a casa onde Mozart criança pernoitara pela primeira vez em Londres, os lugares onde vivera e escrevera Oscar Wilde e a pia baptismal de William Blake, tudo locais que faziam a vez dum roteiro sagrado para o meu biografado.
Mas não foi em casa de Alberto de Lacerda – talvez este nem vivesse em casa própria – que Cesariny ficou instalado. Quem o recebeu foi um rapaz do Gelo, Ricarte-Dácio de Sousa, que entretanto viera para Londres fazer serviço na Casa de Portugal e morava com uma rapariga inglesa numa casa espaçosa, na Rua Walton, para os lados de Knightbridge. Cesariny esteve 10 longos dias em Londres, sempre ao seu cuidado. Dácio tinha por ele um carinho sem limite. Fazia parte do grupo de rapazes que admirara à mesa do Gelo a sua beleza de índio no exílio, tal como João Rodrigues a fixara no desenho à pena que apareceu na folha de rosto da antologia de 1961. Sabendo-o em Paris, a um pulo de distância, não o deixou ir embora sem obter dele a promessa de regressar em breve. Nem um nem outro podiam então suspeitar as condições trágicas em que no Outono se cumpriria esse voto. A tragédia tem muito de inocente, já que é sempre inesperada. O que se pode prever nunca é trágico mas cómico. Resta apenas saber se o fim do mundo vai chegar de forma programada, fazendo-se então um carnaval de fúria, uma desbunda de ruído e de riso, ou de modo inusitado, por um acaso imprevisível, que escapa a todos os censores, tornando-se num choro de clamores.
Mal regressou a Paris, o estudioso de Vieira partiu para Grenoble, para ver uma retrospectiva da pintora no Musée de Peinture et Sculture, a maior realizada até àquela data, cerca duma centena e meia de obras. Encontrou aí o quadro “La ville brullée” (1955), em tons violentos e carbonizados, que nunca vira e que avaliou como um prodígio. Foi esse quadro que lhe deu o título do trabalho poético que então escrevia, A cidade queimada. Subiu de novo a Paris, teve convite para visitar Vieira e Arpad em Yèvre-le-Châtel, onde o casal se preparava para receber Alberto de Lacerda, que viria de Londres. Era no Verão, no remanso da vida rústica, com as fontes a correr, as águas claras do Loire e os choupos altos e tristes, que o casal abria uma excepção – Vieira deixava por uns momentos as tintas e os gatos e suportava as visitas, as saídas e até os passeios demorados fora de casa, pela região.
Mas antes de ir passar uns dias a Yèvre-le-Châtel, devido a atraso de Alberto de Lacerda com compromissos de trabalho em Londres, Cesariny foi ainda a Madrid onde esteve cerca de quinze dias no mês de Agosto, em casa de José Francisco Aranda, amigo e secretário de Luis Buñuel e que vivera largas temporadas em Lisboa, na década de 50 – foi casado com Salette Tavares, de quem teve filhos –, onde o meu biografado o conhecera e lhe traduzira para português um livro seu, Arte de morrer (1957), que apareceu sem nome de tradutor, chegando mesmo a incluí-lo na colectânea Surreal/Abjeccion-ismo (1963). Regressou a Paris no fim de Agosto para partir de seguida ao encontro de Vieira, Arpad e Lacerda. Passou na companhia do casal cerca duma semana, com passeios na região e conversas com Vieira sobre a sua pintura. Tinha ainda fresca a visita que fizera à gigantesca retrospectiva de Grenoble no final de Junho e foi nessa altura que desenvolveu as primeiras ideias para o estudo a fazer. Da temporada ficou sobretudo a memória dum passeio feito aos monumentais castelos de Chambord e Chenanceaux, a sul do rio Loire, e de que ficaram fotografias tiradas por Alberto de Lacerda. Numa delas, captada no exterior de Chambord, um monumento clássico da Renascença, Vieira está entre Cesariny e Arpad; este fala com a câmara, enquanto os outros dois se fitam um ao outro. São os gatos comunicantes. Percebe-se que nada têm a ver com o lugar e que pertencem a uma outra luz. Vieira é um pássaro felino com nariz de águia e Cesariny, de blusão inglês, roubado a uma página de Lewis Carroll, uma labareda de fogo. Os braços dele formam o número par original, em equilíbrio perfeito de pesos, medidas e espaço vazio. É o momento mágico e medial da sua vida. Tem 41 anos e viverá ainda outro tanto mas pouco mais que isso. Equilibra-se no pico duma sombra, entre uma juventude já perdida e uma velhice ainda muito distante. É um equilibrista sem peso, um funâmbulo nos cimos de ar rarefeito, e por isso está fora do mundo e do tempo. Num outro retrato do mesmo dia, no interior do castelo de Chenonceaux, parece uma sombra furtiva, chegada duma idade ainda sem História, que procura escapar ao reinado de Francisco I, o émulo de Carlos V da Alemanha e da formação imperial da Europa das guerras e do saque do mundo.
Foi nesse momento que teve por carta a notícia que Cruzeiro Seixas, há pouco regressado de Angola, estava de partida para Paris para o rever. Ele exultou com a notícia. Conheciam-se desde 1938 e não se viam há cerca de 14 anos, desde 1950. Seixas decidira regressar a Portugal no início do ano. Estava sem dinheiro e para comprar os bilhetes de regresso para ele e para os pais, então a seu cargo, teve de vender a colecção de arte negra que pacientemente recolhera em demoradas viagens de carro pela parte leste e norte do grande país. Foi o industrial Manuel Vinhas, dono da cerveja Cuca, que se fabricava em Angola, que lha comprou. Há carta (14-1-1964) de Cesariny sobre esta venda, dando conselhos e inculcando cautelas. Na Primavera, Seixas ainda estava em Luanda, pois o amigo, já a Norte, na Cidade Luz, escreveu-lhe para lá até ao início de Abril. A chegada a Portugal aconteceu nessa Primavera, talvez no início de Maio. De Paris, Cesariny insistiu para Seixas arrumar depressa as questões que tinha em Lisboa – antes de mais os pais, que haviam viajado com ele – e meter-se a caminho de Paris, onde nunca fora e ele agora o esperava para grandes aventuras e muitas exposições de pintura.
Seixas chegou a Paris no meado de Setembro e em vez de ficar instalado num hotel barato do centro, como chegara a pensar, acabou por ir parar à casa de Isabel Meyrelles. Ficou a dormir no mesmo quartinho de Cesariny, que era o estúdio que servia à escultora de lugar de trabalho. Além dessa divisão, a casa apenas tinha a cozinha, uma salinha anexa que servia para tomar as refeições e um quarto, que era ocupado por Isabel Meyrelles. O ex-aluno da escola das artes decorativas quis de imediato fazer as galas da visita e levou o velho amigo a fazer uma excursão erótica. Seixas deixou-se guiar um pouco às cegas, ainda maravilhado com a novidade, e deu com ele num cinema, que classificou de “duvidoso” (Relâmpago, n.º 26, 2010: 125). Contou mais tarde a história por escrito, mas foi sempre incapaz, até em conversas comigo, de localizar o cinema. Acabara de chegar pela primeira vez a Paris e tudo aconteceu no segundo dia da estadia. Era com certeza um desses cinemas de bairro, que o poeta português descobrira na margem direita, no bairro de Saint Martin, a caminho da Gare de Leste. Ele adorava esses lugares escuros, típicos da sua Titânia e do seu espírito de recolector das grandes florestas primitivas, onde os desejos subiam à superfície e não desistiam de ser satisfeitos. Quando as luzes se abriam, tudo regressava à normalidade como se nada se tivesse passado. Enquanto o filme passava na pantalha, Cesariny levantou-se e foi bailar nas mãos do desejo. A meio da sessão, quando nada fazia esperar, a polícia entrou de roldão e ele foi caçado. Era uma rusga aos antros clandestinos de Eros. As tropas de choque do “eu” social, as forças de vigilância da consciência de superfície ali estavam fardadas de escuro, botas cardadas, caninos em forma de sabre, para afligir e punir o desejo. Era preciso amedrontá-lo, fazê-lo recuar o mais possível. A polícia de De Gaulle não era nessas batidas menos furiosa nem menos sistemática que a de Salazar. O frágil e bonito Titanin foi apanhado mais uma vez nos laços dos ferozes caçadores. Perante a aflição de Seixas, que mal falava francês, foi levado nos caninos dos agentes, que rugiam ameaçadores, de olhos em brasa. Com a boquinha marota de láparo, as suas magras e longas perninhas – era um pernilongo –, o pobre Titanin tremia de horror. Apanhou pena de dois meses na cadeia por “ofensa ao pudor público”. Em carta sequente para Vieira confessou (26-1-1965, Os gatos comunicantes, 2008: 62): Depois do de Salazar, faltava-me conhecer o sistema penitenciário de De Gaulle! E muito mais tarde, numa entrevista já da velhice (A Capital, 19-8-1989), deu a entender que morreu pela segunda vez em Fresnes, depois de ter morrido no Torel. A mordacidade da sua collage de 1947, ridicularizando a vida sexual do general francês, recalcada pela castração da caserna e da educação militar, teve afinal uma natureza alarmantemente premonitória do que viria a suceder 17 anos depois.
Nos arredores de Paris, Fresnes era uma prisão típica do final do século XIX, com edifícios longitudinais, iguais e paralelos entre si. Cada um deles tinha quatro andares e cada andar um longo corredor central, onde se distribuíam, de cada lado, as portas das pequenas celas. Na carta atrás citada ele descreveu assim a prisão (idem): (…) os corredores esburacados expelindo vento, os dédalos de ferros verdes e finos subindo do chão ao tecto – quatro andares, além do pavimento – as varandas interiores cruzadas de passerelles…Na cela, o Jarry do Amor Absoluto com, na lâmpada, a palavra Justiça. E o terror, que, por um lado avesso, tanto se parece à alegria da criação! Chame um dia Fresnes a um dos seus quadros titânicos. Vários milhares de detidos lhe agradecerão. Fresnes foi das primeiras prisões a abandonar a construção em forma de estrela, para ganhar uma nova funcionalidade, em linhas rectas, paralelas, sem centro – um labirinto linear e sem saída, destinado a um homem unidimensional e sem desvios. A arquitectura moderna seguiu este modelo, o mais ajustado, pelo ponto final que colocou no desvario da beleza, a uma sociedade que entrou no século XX a pretender tirar o máximo rendimento da produção massiva. Tanto quanto se pode perceber pelos desenhos que então fez, a sua cela, a 381, era estreita, com duas camas, cada uma arrumada à sua parede e uma pequena mesa a meio. Uma janela protegida por grades grossas de ferro dava para um pátio sujo e deslavado, com três ou quatro árvores escanzeladas e nuas – era Outono – e um edifício baixo e sólido, de janelas gradeadas, que pertencia aos serviços administrativos da prisão, atrás do qual se erguiam, ameaçadores, silenciosos e atentos, dois altos torreões pentagonais que serviam de torres de vigia da entrada e da saída dos carros celulares.
Na cela, possuído pelo clarão do terror, cuja natureza ele intuiu idêntica à alegria da criação, desenhou com todo o pormenor o que estava em seu redor – nunca foi tão realista como nesses desenhos – e voltou às colagens verbais tal como as praticara em Paris, no tempo da adesão ao surrealismo. Recortou títulos ou parte de títulos de jornais franceses, que reuniu depois de forma gratuita. Obteve por este processo vários poemas em francês, que foram intercalados nos poemas escritos em português, na Primavera desse ano, primeiro em Paris e depois em Londres. O livro A cidade queimada foi assim finalizado na prisão de Fresnes e o título definitivo do conjunto – cinco poemas em português, quatro em francês obtidos por assemblage de recortes jornalísticos e o diário da composição (27 de Maio a 11 de Julho) – talvez só nesse momento com pátio sujo da prisão diante dos olhos lhe tenha vindo ao espírito. Viveu o mês de Julho sob o choque do quadro “La ville brullée” e dessa impressiva visão chegou a deixar testemunho numa carta para Vieira (Julho de 1964; idem, 2008: 56): O seu quadro A cidade queimada é uma obra prodigiosa – de afirmação e de síntese. (…) Ainda bem que a Maria Helena queima as cidades antes que venham outros queimá-las. Mas só com os torreões napoleónicos na linha do horizonte, olhando para ele de forma assustadora, e com uma vegetação raquítica e tétrica nas lajes do pátio, queimada pelas primeiras geadas, ele se terá dado conta quanto esse título era seu – da sua vida e do seu livro.
Saiu de Fresnes a 16 de Novembro (carta a Seixas, 4-11-1964). Acabara de cumprir dois meses de cárcere – estava transfigurado e lívido. Passara pela dostoiewskiana “casa dos mortos” e tinha a alma cheia de pavor. Os problemas com a polícia portuguesa nunca tinham na verdade acabado e ainda antes de vir para França ele se vira metido muito ao de leve em mais uma história judicial com um marujo (carta a Seixas, 28-7-1964). Como quer que fosse, tudo o que lhe aconteceu à saída do cárcere foi ser expulso do país por não ter visto de entrada em dia – há meses que estava em França, mesmo com as idas a Londres em Junho e a Madrid em Agosto – e por o passaporte ter entretanto caducado, o que mostra quão precipitada e aventurosa fora a sua partida para Paris no final do Inverno com 1000 escudos no bolso. Foi de imediato para Londres, onde podia renovar o documento – tinha um funcionário da Casa de Portugal às ordens – e onde tinha quarto à disposição. Desolado com a tragédia, Dácio recebeu-o de braços abertos, não mais o largando. Ainda regressou antes do Natal a Paris, já com o passaporte regularizado, para recolher parte das coisas que tinha em casa de Isabel Meyrelles e tentar resolver a situação do seu visto, não que pensasse voltar a instalar-se na salinha da Rua de Savoie como fizera no final do Inverno – tudo aquilo lhe parecia agora mesquinho – mas porque queria transitar pelo país e prosseguir o trabalho com Vieira, que a bem dizer só ao de leve se apercebera do encarceramento de Fresnes e o pouco que soubera não lhe interessara. Só mais tarde, em Janeiro, ele escreveu ao casal contando o sucesso com algum pormenor. Recebeu entretanto o dinheiro da bolsa em Londres e veio meio secreto a Portugal passar o Natal com a mãe e a irmã Henriette, a mais velha, já então separada e a viver na Rua Basílio Teles. Tinha um novo livro, Um auto para Jerusalém, e direitos para receber – no pior de Fresnes chegou a pedir a Seixas por carta (27-10-1964) que fizesse parar o livro com medo de que qualquer publicidade em torno do seu nome se pudesse virar contra ele. Veio num voo da TAP na companhia de Dácio e em Portugal tentou a todo o custo evitar que a nova “pena capital” se divulgasse, até para não pôr em risco a bolsa. Havia apenas três pessoas que sabiam do sucedido em Portugal – Cruzeiro Seixas, presente no momento da prisão e que regressou quase de imediato a Portugal em estado de choque; Luiz Francisco Rebelo, seu advogado, que foi avisado por intermédio de Seixas; Manuel Vinhas, seu credor para despesas judiciais, também alertado por Seixas. Duas outras pessoas ficaram da posse do segredo com a viagem a Lisboa, o seu editor da época, Bruno da Ponte, com quem se encontrou várias vezes e a quem falou na edição d’ A cidade queimada e d’ A intervenção surrealista, já com o título definitivo, e Luiz Pacheco, com quem passou a tarde do dia de Natal, ou a manhã do dia seguinte, e que estava em Lisboa, numa pensão barata da Rua da Madalena, com Maria Irene e os dois filhos, Paulo Eduardo e Maria Eugénia. Acabara de chegar de Setúbal, fugido a um caso bicudo, quase sem dinheiro, e foi o antigo autor da Contraponto com os direitos de autor da peça editada por Bruno da Ponte que o abonou e lhe sugeriu a ida para as Caldas da Rainha, dando-lhe um contacto na cidade, Paulino de Figueiredo, o gerente do hotel Lisbonense, que ele conhecia bem das valsas nocturnas lisboetas e tratava por Mestre Paulino.
Este é o momento mais forte da amizade entre Cesariny e Luiz Pacheco! Nenhum outro se lhe compara. É um pico altíssimo, que levou quase à fusão dos dois (O crocodilo que voa, 2008: 183), ao menos por parte do autor de Corpo visível. Conheciam-se há quase 20 anos e transportavam neles uma história em comum já muito cheia. Tinham lidado durante anos, dia a dia, à mesa do Café; juntos, haviam feito jornalismo (Notícias do Império, O Volante, Diário Ilustrado); Pacheco editara Cesariny e este editara Pacheco em 1959 na colecção “A Antologia em 1958”; partilhavam a memória do morto mítico, o Osíris negro evolado aos 25 anos, António Maria Lisboa. Caprichavam em brincadeiras e revoltas. Mas foi aqui, no Natal de 1964, que a relação tocou no zénite. O momento é simbólico e tocante. O meu biografado acabava de publicar a peça que escrevera no momento em que conhecera o amigo no grupo dramático da Rua Marcos Portugal e partilha com ele os direitos que recebeu, ao mesmo tempo que lhe dá a conhecer sem reserva no dia de Natal o segredo que trazia consigo da cidade dos homens mortos – o inferno carbonizado de Fresnes. Quando lhe entrega parte dos direitos da peça, escreve (Pacheco versus Cesariny, 1974: 63): “Em mais de metade a minha peça é tua”. E hoje quando se lêem estas palavras percebe-se que ele diz que mais de metade da sua vida era do amigo. O que ele lhe dá assim é um gomo vivo, em sangue, do seu coração de homem e de poeta.
Dácio e Cesariny regressaram a Londres nos primeiros dias de Janeiro. Foi então que voltou ao contacto com Vieira e Arpad e soube através de Guy Weelen, estudioso da obra de Vieira, duma exposição de Arpad em Lausana, Suíça, no meado de Fevereiro. Lembrou-se da ida a Grenoble no início do Verão anterior, cidade que ficava perto de Lausana e aceitou o convite para estar presente. Ansiava retomar o estudo sobre Vieira e sabia que a pintura desta estava representada no principal museu da cidade. No regresso fazia planos de passar pelos Países Baixos para ver ao vivo nos museus de Bruxelas e Amesterdão a pintura dos primitivos flamengos. Foi então que se abriu com o casal (carta, 26-1-1965), falando dos sucessos que o haviam calado desde Setembro. De volta, recebeu uma palavra doce de repreensão de Vieira – “Para quê procurar assim o sofrimento?” (Gatos comunicantes, 2008: 64) – que terá posto um ponto final na questão. Vieira era quinze anos mais velha do que Cesariny e transportava em cima dela um prestígio sufocante. Recebera prémios internacionais de renome, como o Grande Prémio Internacional de Pintura da VI Bienal de São Paulo (1962) e o Grand Prix National des Arts (1963); fora ainda agraciada em França com a nomeação de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres (1960) e de Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres (1962). Ele pelo seu lado era a bem dizer um frango depenado que fora fechado no Torel em 1953 e que acabava de passar dois meses numa cela de Fresnes. No início da década de 60 tivera um pequeno alvoroço de reconhecimento e que não ia muito além do pequeno mundo literato do Chiado. Continuava vigiado pela polícia e não se livrava da má fama de excluído social. Vieira tratava-o como uma mãe carinhosa e severa, que não temia repreendê-lo mas lhe perdoava sempre. Quando dele falava a terceiros parece que o tratava, misturando desprendimento e ternura, por “esse rapaz”. Na carta que escreveu ao presidente da Fundação em 1963, chamou-lhe “grande poeta” mas foi excepção justificada pela formalidade do acto. O “rapaz” aceitou bem o estatuto por várias razões; antes de mais, pela admiração sincera que tinha pela pintora que atingira já um andar que lhe permitia dizer o que quisesse e depois porque mantinha a mãe biológica, Mercedes Cesariny, uma alvíssima senhora a caminho dos 75 anos, na ignorância dos seus problemas sexuais e judiciais. Vieira ocupou assim – mas só neste plano – o lugar deixado vago pela mãe. O que ele temia não eram as admoestações, que decorriam da lógica das suas atitudes, mas o abandono. Preferia apanhar um puxão de orelhas a ser esquecido. Depois da prisão, o medo de perder a mãe simbólica é a sua grande angústia. Ele o confessa, não deixando qualquer dúvida (Fevereiro, 1965; Gatos comunicantes, 2008: 65): Obrigado, muito, pela sua carta. Foi muito importante para mim: uma palavra sua. Nem sabe quanto. (…) A ideia de que posso perder a sua estima, ou desmerecer da sua atenção, dá-me o maior dos medos.
Em meado de Fevereiro, Cesariny viajou para Lausana, na Suíça, para ver a exposição de Arpad Szenes na Galeria de Alice Pauli, cuja abertura estava marcada para 18 de Fevereiro. Szenes era um príncipe plebeu, lindo como os castelos da Baviera, mas sem um tostão. Quando conheceu Vieira da Silva, portuguesa abastada e filha única, Szenes não passava dum pobre estudante que vivia de pequenas aventuras e de dar lições de desenho. Guy Weelen crisma-o algures de seigneur des landes oubliées e Cesariny num passo hoje esquecido – primeira versão do poema “Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva” (Gatos comunicantes, 2008: 69) – chama-lhe o “cavaleiro húngaro”. Prestou vassalagem a Vieira, que era uma águia-real, se não imperial, e viveu heróico mas quase silencioso. A saída de Cesariny de Londres para a Suíça, talvez de avião, confirma-se em carta para Seixas (16-1-1965), onde chegou a tempo de assistir à inauguração da mostra de Arpad. Dessa estadia em Lausana, na margem do lago Léman, ficou um poema, “Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva”, de que hoje se conhecem duas versões, a primeira enviada por carta para Vieira, no momento do regresso a casa, ainda no mês de Fevereiro, com o título “A Maria Helena Vieira da Silva Szenes”, e a segunda, já com título alterado, mais extensa e trabalhada, com alusões concretas ao dia 20 de Fevereiro em Lausana, publicada em 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão… (1971: 58-63) e com uma primeira edição Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva”, de que hoje se conhecem duas versões, a primeira enviada por carta para Vieira, no momento do regresso a casa, ainda no mês de Fevereiro, com o título “A Maria Helena Vieira da Silva Szenes”, e a segunda, já com título alterado, mais extensa e trabalhada, com alusões concretas ao dia 20 de Fevereiro em Lausana, publicada em 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão… (1971: 58-63) e com uma primeira edição bilingue, português/francês, num livro de Isabel Meyrelles, O rosto deserto (1966). Em Lausana, apercebeu-se que nunca poderia falar bem da “rainha negra”, da grande Penélope tecedeira, a quem chamara já a “grafiaranha maior”, sem atender à “força do sacrifício total” do seu Ulisses estático. Foi nesse momento que o decidiu integrar no estudo que estava a fazer sobre a pintora e onde acabou por ter um lugar crucial. Data desse momento a tradução que fez dum texto de Arpad, “A Tábua Esmeralda”, que o pintor húngaro lhe agradece em carta (23-3-1965) e que fez questão de publicar em Lisboa no J.L.A. (n.º185, 14-4-1965), com um “breve sumário biográfico” do pintor, uma frase de Michel Seuphor e o texto do catálogo da exposição de Lausana, da autoria de Jean Grenier, além de reprodução de dois óleos recentes (1963; 1964) de Arpad.
No final de Fevereiro, Cesariny estava de regresso à Rua Walton, em Londres. Era o seu refúgio seguro. Já se habituara à casa, mais espaçosa que a da Rua de Savoie, em Paris, e onde podia ter um quarto seu. Houve alturas em que foi forçado a partilhá-lo com João Vieira, um dos rapazes do Café Gelo, o que ele detestou, entornando muito veneno na situação, que era o seu modo típico de barafustar, mas foram momentos episódicos. No geral, estava sozinho e tinha espaço para si, para se recolher e ficar sozinho com a escrita e os livros de Dácio. Aí redigiu, em Maio de 1965, o relatório para a Fundação Calouste Gulbenkian, justificando o dinheiro recebido e conseguindo ainda obter uma prorrogação da bolsa por mais seis meses. O documento, chamado “Relatório de estudo”, dividido em cinco partes – “No ateliê de Vieira da Silva em Paris e em Yèvre-le-Chatêl”, “Na galeria Jeanne Bucher e na retrospectiva de Grenoble”, “Na Suíça”, “Em Londres” e por fim as linhas gerais do ensaio que se propunha escrever na cidade do Tamisa – é um excelente roteiro para os itinerários que então fez. Prova-se nele que não chegou a ir Bruxelas e a Amesterdão ver os flamengos mas deles tinha já notícia larga como se testemunha nas cartas do início de Fevereiro para Guy Weelen e Vieira e na referência que lhes faz nas linhas gerais do ensaio a escrever. Na carta para Vieira diz (Gatos comunicantes, 2008: 65): No dia 19 devo estar em Amesterdão (…). Ideia: ver os flamengos, seus ancestres. Os primitivos, digo. O relatório enviado para Fundação – remeteu cópia para a pintora – prova que nem Bruxelas nem Amesterdão, muito a Nordeste, fizeram parte do seu itinerário de Fevereiro. Não há a menor alusão aos museus dos Países Baixos.
A questão dos primitivos em pintura tem a maior importância para a evolução e o desenvolvimento do pensamento plástico e civilizacional de Cesariny e para a derradeira fase da sua poesia. Havia nele um crítico de arte, que vinha dos tempos juvenis do suplemento do jornal A Tarde, e que se metamorfoseou ao longo dos anos até chegar ao livro Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista (1984). A estadia em Londres, com visitas regulares à Tate Gallery, à National Gallery, à Redferns Gallery e ao Museu Vitória e Alberto, todas citadas no relatório de Maio de 1965, foi da maior importância para essa metamorfose. Foi em Londres, na National Gallery, que viu “O casamento de Arnolfini” de Jan Van Eyck, um dos primitivos flamengos que ele primeiro admirou e que logo ligou à pintura de Vieira.
No quarto da Rua Walton escreveu ainda a correspondência que então manteve com a mãe – uma das cartas foi apreendida pela polícia política e está hoje na Torre do Tombo – e com os amigos. Conhecem-se as cartas que escreveu a Luiz Pacheco e que este depois publicou no livro Pacheco versus Cesariny. Parte dessa correspondência versa a pasta sobre Arpad Szenes, reunida em Londres, durante o mês de Março, depois da passagem em Lausana na abertura da exposição do pintor. Foi o autor de O Teodolito que se encarregou de vigiar a saída do material e foi ele o responsável de Arpad ter chamada na primeira página com fotografia, aliás arranjada por ele no último instante (Pacheco versus Cesariny, 1974: 124). Conhecem-se ainda as cartas para Cruzeiro Seixas, que estava a viver em Lisboa – Luiz Pacheco instalara-se nas Caldas da Rainha – e que por esse motivo o morador da Rua Walton encarregou de tratar dos assuntos que tinha na cidade. Seixas acabou por ser na época o seu agente em Lisboa. Foi ele que lhe passou o contacto de Liberto Cruz, que estava então na editora Ulisseia e se interessou muito pelo trabalho dele. Concebeu uma edição de luxo para A cidade queimada com três desenhos hors-texte de Cruzeiro Seixas – os termos do contrato foram acordados logo em Abril de 1965 – e pediu-lhe uma história geral do surrealismo, que Cesariny de imediato desviou para a edição da nova antologia que entregara a Bruno da Ponte, A intervenção surrealista, da qual se falará adiante. A casa Minotauro ainda não se comprometera com contrato e Seixas recuperou o original, seguindo o livro seguiu para a editora Ulisseia, onde Vitor Silva Tavares e Edite Soeiro acabavam de chegar. Deram o aval entusiasta à edição, que foi agendada no Outono para o ano seguinte. Houve ainda o plano de traduzir o livro de Maurice Nadeau mas a ideia morreu e tanto quanto sei o livro – tão decisivo para O’Neill e amigos – ficou até hoje por traduzir. Parece fatalidade e talvez seja, mas esta quando se torna impossível de contrariar é sinal duma lei íntima e inexorável. Sempre que há um ponto fatal no horizonte é porque lá dentro há uma alma viva a trabalhar.
Outro ponto decisivo do diálogo entre Seixas e Cesariny nesta época foi a revista “Abjecção”. Desde Abril de 1965 que se dá conta desta revista, na correspondência entre Luiz Pacheco e Cruzeiro Seixas (Pacheco versus Cesariny, 1974: 135-140) e entre Cesariny e Seixas (23-4-1965). A revista foi de início um projecto de Seixas, que o começou a conceber na viagem que fez a Paris no final do Verão de 1964. O surrealismo francês foi um gerador incansável de revistas e na época em que Seixas esteve em Paris a história deste parto estava longe de ter chegado ao fim. Numa carta que escreveu a Luiz Pacheco apresenta duas destas revistas como modelo da sua. Diz ele (Abril, 1965; Pacheco versus Cesariny 1974: 136): “Tenho o maior interesse em falar contigo. Vai pensando que a revista que penso seria qualquer coisa como La brèche ou Le surréalisme même. Muitas gravuras e não poucas traduções.” La brèche e Le surréalisme même, que aparecem aqui como modelo da publicação portuguesa a fazer, são duas das revistas que o surrealismo francês gerou. A primeira ainda se editava, quando Seixas esteve em Paris no momento da prisão de Cesariny. Saiu entre Outubro de 1961 e Novembro de 1965. A segunda publicou-se entre Outubro de 1956 e a Primavera de 1959. As duas tiveram a direcção de André Breton. Foi pois em Paris ao tomar contacto com estas publicações que o projecto duma revista surrealista em Portugal germinou. Desde 1950 que Seixas estava afastado de Lisboa. Passara em branco a fase do Café Royal e depois a do Café Gelo. Quando deixara no início da década de 50 o porto de Lisboa num cargueiro como apontador, ainda o autor de Erro próprio estava vivo e activo. Acabara de ter lugar a segunda exposição de “Os Surrealistas”, na Bibliófila, na Rua da Misericórdia, e nada indicava que a partida dele, Seixas, era o começo do fim. Muitos anos depois, no momento em que regressou, a impressão que teve foi que deixara a cidade na noite anterior. “Abjecção” foi assim uma revista que tanto podia ter existido em 1950, logo depois do encontro da Bibliófila, como em 1964, altura em que de feito germinou. Os três lustros que estão no meio não existem; são tempo de sono. Foram apenas uma noite mais longa que as outras. Numa época em que as sobras dos núcleos surrealistas portugueses estavam em dispersão e a expulsão do Café Gelo já se dera, o projecto que Seixas apresentou podia ter reavivado o espírito de grupo e funcionado como um ponto de convergência. Mesmo o trânsfuga da Rua Basílio Teles, que estava longe e não contava regressar tão cedo, se empenhou na revista e parte das sugestões para o primeiro número, por exemplo a homenagem a Jacques Vaché, foram dele. Não obstante o entusiasmo inicial com que o projecto foi recebido – chegou a haver reuniões num Café do Saldanha, o S. Remo –, os sucessos ulteriores frustraram o nascimento da revista. Nisto de publicações surrealistas, o destino português foi teimoso; não quis e não deixou. Neste ponto paga a pena lembrar que os antigos sábios chineses associavam o não fazer à imortalidade. E por isso não fazer ou não existir nem sempre é sinal de fraqueza!
No seio desta agitação que envolveu a concepção desta curiosa revista chamada “Abjecção”, e curiosa logo por nunca ter chegado a ser, Cesariny em Londres releu um livro recente, Vingt ans de surréalisme (1939-1959), de Jean-Louis Bédouin, que lera pela primeira vez em Lisboa em 1962, um ano depois da sua edição. Lera-o então com um misto de impotência e de desdém que é aquilo que se vota ao que muito acima, no inacessível Norte, segue o seu curso inexorável. Três anos depois, em Londres, voltou a reler o livro, que existia na biblioteca de Dácio, uma das ricas e completas em bibliografia surrealista, e achou-o menos imparável. Bédouin concentrara em poucas linhas os sucessos portugueses, pondo o autor de Balanço das actividades surrealistas em Portugal, José-Augusto França, no centro da acção surrealista em Portugal. Imagina-se o cansaço e a derrisão que esta leitura provocou em Cesariny, em 1962. Com certeza que se engasgou de choro e de riso. Mas Paris estava então muito longe e Lisboa era um caso à parte. Deixou passar, como de resto, com o seu ar distante de príncipe que pusera na penhora palácio e palafrém, deixava passar tudo. Nessa época, sentado na sua mesa de Café, se lhe perguntassem o que fazia, ele diria que estava à espera! Portugal era o país que esperava! Nunca nenhum povo foi tão passivo e tão bom contabilista! No momento da releitura, em Londres, tudo mudara. A cidade do Tamisa mexia-se, tinha voz, fazia-se ouvir. Era ele agora que estava sentado no cadeirão do Norte imarcescível com o pau na mão.
Não hesitou em escrever ao autor. Nem sequer conhecia a sua morada mas isso não foi obstáculo. O endereço do editor (Denoël) era público e para lá escreveu. A carta, num francês limpo e inteligente, datada de 3 de Maio, rebatia ponto por ponto as linhas dedicadas ao surrealismo português. Foi na abertura dessa carta que ele assinalou a leitura feita em 1962 e a releitura acabada de fazer nessa Primavera londrina. A resposta não tardou, datada de 10 de Maio. É a carta dalguém pasmado que não percebe o que se passa e pede provas. Cesariny valeu-se do seu tão certo secretário, Seixas, e escreveu-lhe para Lisboa (17-5-1965) a encarregá-lo de enviar livros, artigos, folhetos, fotografias, tudo o que fizesse prova da acção surrealista de 1948 para cá. Nessa carta, explicou como lhe nasceu a vontade de escrever a Bédouin (Cartas de M. C para C. S., 2014: 222): É o caso que uma noite destas adormeci maldisposto e resolvi regular uma conta em atraso há 4 anos: a minha conta no Jean-Louis Bédouin. Ele foi amabilíssimo e respondeu de seguida. A informação paspalhona de que se serviu foi dada pela Nora Mitrani. Ligada como Bédouin ao grupo surrealista de Paris desde a década de 40, Nora acabara de falecer em 1961, aos 40 anos, e estivera em Portugal 10 anos antes, no início de 1950, onde andara na companhia de Alexandre O’Neill, José-Augusto França e António Pedro. Até Casais Monteiro ela então conheceu. Os documentos seguiram de Lisboa e de Londres – Cesariny tinha consigo exemplares das antologias recentes que fizera e de livros seus – e Bédouin ainda agradeceu por carta (22-6-1965), sem saber o que fazer com os cartapácios oferecidos e cuja língua desconhecia. Estas cartas foram reproduzidas mais tarde no livro Três poetas do surrealismo (1981: 163-170), catálogo de exposição na Biblioteca Nacional.
Londres apaziguou o autor de Pena capital. Passou meses seguidos no quarto da Rua Walton a escrever aos amigos e a tomar notas sobre Vieira e a sua pintura. No restante, passeava, ia aos museus, aos teatros, aos recitais de poesia, às galerias. Esteve por exemplo no recital de poesia de 11-6-1965 no Albert Hall – referiu a actuação de Ginseberg numa entrevista ao jornal A Capital (4-8-1971) – em que disseram poemas Allen Ginseberg, Andrei Voznesenski, Ernst Yandl, Adrian Mitchel, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Anselm Hollo, Michael Horowitz e muitos outros. De quando em quando, frequentava ainda alguns portugueses que viviam em Londres (Alberto de Lacerda, Paula Rego, João Cutileiro, Luís Amorim de Sousa, Helder Macedo, Menez). Numa carta a Cruzeiro Seixas (8-11-1965) dá a entender que se deu bem com o Eros londrino – que era pálido, branco, dessorado mas festivo. A estatueta de Eros com asas de bronze no redondel de Piccadilly Circus era fácil de levar aos ombros. Homossexual também, Alberto de Lacerda integrou-o no meio, pô-lo a salvo de desastres como o do cinema de Paris e valeu-lhe sempre que necessário. Nessa carta confessa (Cartas de M. C para C. S., 2014: 222): Comecei a ir ao rabo a toda a gente. Achas que se pode dizer em carta? Acontece que são dum temperamento, de um tempero erótico – sobretudo as pernas, as caras, os braços, os ais – espantoso. Gostam mais disto do que eu. Não julgava possível. E os sexos são sempre pelo menos do tamanho da sua liberdade, que é magnífica, completamente real. Viril, se é isso que queres saber. Aí encontra-se disto um em mil. E que brilho animal, natural, oriental! E devo resumir-me aos sítios frequentados pelos convictos – o meu inglês não dá para a caça às feras. E passa cada uma, de marujo vestida! Há um bar só para eles, isto é, onde eles vão de todas as idades: gigantes de Miguel Ângelo, Madonas Rafaelitas, Adolescentes de Dalí, de azulinho vestidas. Não se pense que em 1965 andava tudo louco, em Londres, nas ruas, aos beijos; a homossexualidade estava tão criminalizada como em Lisboa ou em Paris e só deixou de ser crime em 1967. Esta carta foi escrita em Novembro, com dez meses bem contados em Londres, e ainda assim, dado curioso para o qual chamo a atenção do leitor, o meu biografado se queixa do inglês falado. Quando foi para lá, não dizia quase palavra. Luís Amorim de Sousa que o ouviu à chegada num almoço com Alberto de Lacerda e o poeta Christopher Middleton deixou a seguinte a nota sobre o seu inglês (Cartas de M. C. para A. de L., 2015: 10): O inglês falado pelo Mário, que nunca foi grande coisa, era então surrealizante. Confirmou-me isto mesmo numa carta: O inglês do Mário era no mínimo fraquíssimo. Entende-se. No seu cardápio escolar não há uma única disciplina de inglês. A única língua estrangeira que trabalhara nas salas de aula da escola da Rua Almirante Barroso – essa com aproveitamento – fora o francês.
Se Cesariny gostou, mas sem chegar a amar, alguma cidade na Europa, foi Londres. Baptizou-a carinhosamente Londra e assim a punha nas suas cartas. Muitos anos mais tarde, já a caminhar para o fim da vida, em carta para Alberto de Lacerda (16-1-1991), dirá (Cartas de M. C. para A. de L., 2015: 110): Londres foi a única área onde me senti bem. Em dedicatória a Luís Amorim de Sousa, (Relâmpago, n.º 26, 2010: 157), chamar-lhe-á em 1981 “Londres-a-Magnífica”! Mesmo com o fogo em que ardeu em 1947, mesmo com a revelação de lugares tão exaltantes como a Torre de Saint-Jacques, ele não gostava de Paris. Depois do longo período que lá passou no ano de 1964 nunca mais lá quis viver. Passou sempre a correr, para revisitar Isabel Meyrelles, encontrar-se com Vieira e Arpad, visitar museus e livrarias. Já numa carta a Seixas (28-7-1964), anterior pois à sua prisão de Setembro, que foi o ponto final dum longo processo anterior, ele dizia (Cartas de M.C. para C.S., 2014: 174): Quanto a Paris, tirando algumas ou alguns aspectos facilmente descascáveis, acho-a a cidade mais moribunda do mundo, e só me diverte vê-la a morrer primeiro do que aquelas outras suas filhas, filhas da sua dela civilização. Londres não estava menos agónica mas tinha outra forma de morrer, menos feroz e mais humorada. A felicidade não está talvez na imortalidade, nem até na vida, mas na forma como se morre. Demais havia as sombras de Verlaine e de Rimbaud, que tanto o apaixonavam e sobre quem escrevia desde os tempos do Café Royal. Uma das primeiras coisas que quis quando visitou Londres pela primeira vez foi conhecer bairro, rua e prédio onde os dois haviam vivido. E quis fixar o instante em fotografia, onde se vê um Cesariny quase tão labareda como aquele que subia por milagre as paredes no tempo do quadrado mágico com António Maria Lisboa (Cartas de M.C. para A. de L., 2015: 30). Revisitou depois disso o local. Foi em Londres, no quarto da Rua Walton, que retomou os trabalhos sobre Rimbaud. Os poemas de “Iluminações”, publicados por Verlaine na revista La Vogue (1886), não estavam ainda traduzidos no momento da edição da Portugália. Londres apaixonou-o por esses poemas que haviam sido compostos na cidade e que tinham até subtítulo britão: coloured plates. Começou-os a traduzir nessa Primavera, ao mesmo tempo que relia Bédouin e acertava com a Ulisseia a edição d’ A cidade queimada. O seu interesse por Rimbaud, com alusão à tradução de “Iluminações”, ficou registado em carta para Luiz Pacheco (?-4-1965; Pacheco versus Cesariny, 1974: 114): Tenho outra ideia [de edição] que me parece francamente exaltante e que, em caso de aceitação tua, me porá alegremente ao trabalho: 10, 15 poemas das “Iluminações”, que mais ou menos têm dormido comigo. O soneto “A minha boémia”, que veio ter comigo a Fresnes e que também traduzi. Aqui em Londres, quer na biblioteca do Dácio, quer no espectáculo das ruas, tenho material óptimo para aperfeiçoar, barbear, pentear. Acrescentemos a isto fotografias que posso fazer da casa, do quarto e do pub frequentado pelo drôle de ménage [Verlaine e Rimabud]. Os poemas trabalhados em Londres foram depois dados a lume na edição do seu Rimbaud de 1972, da editora Estúdios Cor, edição que o leitor já conhece. Foi ainda em Londres que se pôs a traduzir a poesia Dádá, muito bem representada na biblioteca do jovem Dácio. Visava então uma antologia geral do movimento que o desse a conhecer quase pela primeira vez em Portugal.
Outro ponto em que pôs muita genica e esperança, ao menos de início, foi o contacto com o movimento surrealista, que chegara cedo às Ilhas e tinha os seus circuitos e critérios próprios. Estivera em diálogo no final da década de 40 com um surrealista inglês, Simon Watson Taylor, que editava então uma revista chamada Free Unions (1946), do qual saiu um único número. Em 1950, Taylor, que passou então por Lisboa e aí se cruzou com Nora Mitrani, preparava a saída de novo número com colaboração internacional e o grupo “Os Surrealistas” foi convidado a colaborar. Previsto para 1951, o número acabou por não sair devido ao abalo que o núcleo editor sofreu com o caso “Pastoreau” em França, um sismo de escala máxima que fez estragos num perímetro muito largo. Sobreviveu o “comunicado” de Mário Henrique Leiria, de Abril de 1950, assinado também por João Artur Silva e Cruzeiro Seixas, destinado à revista (Três poetas do surrealismo, 1981: 147-152). De qualquer modo, o encontro com Taylor não trouxe resultados práticos. Taylor abandonaria dentro em pouco a Inglaterra, tornando-se um nómada da contra-cultura. Desapareceu no Oriente e o rasto que dele ficou depois disso é pouco – ou mesmo nenhum em termos de surrealismo. Em Londres há quinze longos anos, Lacerda tinha amizades no meio cultural – era amigo dos Sitwell (Edith chegou a dedicar-lhe um volume seu), conhecera e convivera com Thomas Stearns Elliot e E.M. Forster, tinha livro de poemas em inglês editado pela prestigiada casa inglesa Allen & Unwin – e conseguiu-lhe um encontro com Roland Penrose, um dos míticos organizadores da exposição internacional surrealista de Londres, de 1936. Era um grande senhor da cultura institucional daquele tempo, director da London Gallery e fundador do Instituto das Artes Contemporâneas.
Cesariny ficou a arder de alegria com a perspectiva do encontro que teve lugar em Abril. A explosão e a expectativa ficaram registadas numa carta a Seixas (6-4-1965; Cartas de M.C. para C. S., 2014: 213): Na próxima quinta-feira, depois de depois de amanhã, o Roland Penrose vem aqui a casa para ver trabalhos teus. E meus. Não sei se apreendes o que pode acontecer. A mim parece-me que tudo. Ele dirige uma das galerias mais importantes daqui e além disso é quem sabes, ou não sabes?, o inventor-promotor do surrealismo aqui. Agradece já ao teu amigo! (…) Ao Alberto de Lacerda se deve, ou devemos, esta reunião. Na data combinada Penrose veio a casa de Dácio e o encontro realizou-se. Mas sem mais. Tudo muito frio e muito formal. Do encontro ficou este relato na carta seguinte (idem, 2014: 215): Esteve o Penrose e disse que gostou muito. Várias vezes. Depois apareceu uma dama, mais ou menos dona das galerias importantes de cá, e foram-se embora. E de Penrose e da dama que o acompanhava, talvez Lee Miller, nem mais uma palavra. Tal como veio, assim se foi. Sumiu-se para sempre do horizonte desta correspondência. Ver o conteúdo da mala de cartão dos lusos indígenas que haviam chegado quase por favor a Londres não era decerto a tarefa que mais interessava e convinha ao director duma das mais importantes galerias londrinas.
Mas o principal de Londres foi Ricarte-Dácio. Tinha trabalho, uma casa espaçosa, que Helder Macedo chegou a classificar de mansão, uma paixão real pelo surrealismo, um biblioteca riquíssima, uma disponibilidade total para ter o poeta de Pena capital a seu cargo. Este ia a caminho dos 42 anos – o semblante a perder luz, os cabelos a embranquecer. Não tardaria muito a estar de cabeça nevada, às portas do Inverno, de galhos nus. Mas Dácio era um miúdo sorridente, que nem trintão era, cheio da salutar ingenuidade que faz a pureza da juventude e a sua falta crónica de memória. Além da jovialidade, tinha uma generosidade que já não é própria dos jovens mas apanágio dos santos. Ajudava com uma prontidão rara. O desprendimento material nem sempre é uma forma de rebeldia – mas quando o é, atinge um patamar de alegria que é quase sempre explosivo. Delapidou assim a rir uma fortuna larga e acabou tão depenado, que se viu na obrigação, já em Lisboa, em 1995, de se suicidar – a ele, à esposa inglesa e ao filho. Só no ano de 1965, teve a suas expensas, em casa, Mário Cesariny e João Vieira; enviava ainda uma bolsa a Luiz Pacheco que estava nas Caldas a tentar aguentar Maria Irene e os três filhos, e comprava desenhos, pintura e colagens a Cruzeiro Seixas, que viera de Angola, tinha a cargo os pais e precisava de apoio. O seu mecenato na época é tão ou mais largo junto deste grupo que o de Manuel Vinhas, cuja fortuna era incomparavelmente superior. Em carta para Pacheco (18-5-1965), o meu biografado traçou-lhe o retrato de romântico inflamado, que não se confunde ao mero perdulário de algibeira, ao mesmo tempo que deixou um apanhado flagrante da vida que os dois faziam na cidade (Pacheco versus Cesariny, 1974: 114): Sobre o Dácio. Doente, perdido, como nós, doutra maneira, anda fugido, como nós, doutra gente. Talvez da mesma. É uma criança. E gosta de brinquedos, dos caros. Um brinquedo caro, em Londres, que saiba brincar uma tarde, ou metade duma noite, custa o ordenado de um empregado de escritório em Portugal. Por exemplo. Olhos gaiatos e brilhantes. Oiço: hoje apetecia jantar bem. Jantamos bem. Nada de portentoso, previno-te. Mas há duas garrafas de vinho francês. Finale presto: mil e trezentos escudos. Pagamento feito com gosto e raiva ao dinheiro. Outra: em Inglaterra faz frio. Muito frio. Não quero frio cá em casa. Resultado sobre o mês de Maio: nove mil escudos a pagar pelo aquecimento invernal. Estamos agora os dois a ver como é que vai ser isto da conta do meu dentista, quando vier, lá para Junho. Claro que não pensaste que fui a um clínico de hospital. Incidência: 10 contos de réis. Preciso de um casaco, dizia eu. Vá ao meu alfaiate, ouve-se logo.
Este retrato deve ser completado por um outro, feito pelo próprio Dácio, em carta a Luiz Pacheco da mesma época (22-4-1964, idem, 1974: 138): Não sou milionário nem Mecenas, mas sim e somente um rebelde (à minha maneira) que está em posição de auxiliar alguns rebeldes de quem é amigo.
Cesariny reconheceu sempre o que devia a Dácio e sofreu com certeza horrores 30 anos depois, no momento do seu suicídio. Nunca mais falou no assunto senão com o rosto coberto de sombra. Ainda o vi assim, de mão na testa, lábios trémulos, olhos aflitos, a falar da tragédia daquela morte. A aflição e o terror não se devem à morte, que é uma entidade abstracta, uma alegoria inofensiva, mas ao absurdo da sua aparição concreta, intempestiva num corpo vivido que se torna impossível. Dedicou-lhe a reedição final de Pena capital (2004). In memoriam – escreveu ele antes do nome do amigo, como se quisesse pacificar o demónio da lembrança que o atormentava. Na carta já citada a Alberto de Lacerda (16-1-1991) em que diz que “Londres foi a única área onde me senti bem”, e numa altura em que Dácio ainda estava vivo e de saúde em Lisboa, ele não se esqueceu de juntar (Cartas de M. C. para A. de L., 2015: 110): Beneficiei talvez, também, de condições favoráveis naquelas minhas estadias. Desta época de Londres sobreviveu uma fotografia dos dois, que Luiz Pacheco reproduziu no Pacheco versus Cesariny (1974: 79). É uma dessas montagens turísticas, com os barcos de recreio no Tamisa, a ponte pênsil de Londres e a cara dos dois. Tem hoje um valor incalculável para reconstituir o que se passou em 1965. Dácio é uma criança insonte, travessa, mas sem maldade nenhuma. Mesmo quando estripa e mata, uma criança não é iníqua, já que a maldade é um sentido, que implica consciência e até cálculo, não um acto cego. Cesariny é a experiência contagiada pela inocência. Passou a mão pelo rosto, fechou os olhos e, quando os abriu, tinha recuperado o riso, o riso admirável da sua juventude que as polícias quase apagaram. Não foi só Londres que lho deu, que a cidade é avara e só um pouco mais doce do que Paris, mas a criança que tinha ao lado. Um menino, por natureza, está salvo e salva tudo o que à sua roda não interfere com a sua riqueza.
Com a renovação da bolsa por mais um semestre – datam deste tempo as conhecidas fotografias de João Cutileiro feitas a Cesariny e que ele elogiou (carta a Seixas, 22-8-1965) –, veio a Lisboa ver a mãe e a irmã no final do Verão – ficou registo da estadia numa carta para Cruzeiro Seixas (30-9-1965) – mas regressou de imediato a Londres, para o quarto da Rua Walton, para só voltar no último dia do ano, a 31 de Dezembro, desta vez de barco, numa viagem por alto mar, de quatro dias (carta a Guy Weelen, 30-12-1965). Tinha A cidade queimada à sua espera, acabada de editar pela Ulisseia, numa edição que ele exigiu restrita e quase clandestina. Ainda tinha medo do explosivo sucesso que lhe acontecera em Paris e em Fresnes. Não se esquecia que as collages verbais haviam sido feitas na cela 381 de Fresnes e que o assunto da sua prisão era para esconder da Lisboa palradora. O colofão do livro diz assim: Este volume especial da colecção “Poesia e Ensaio” realizado segundo o arranjo gráfico de Artur do Cruzeiro Seixas, foi composto em caracteres bodoni – 18 e impresso em papel offset 160 grs., sendo os três desenhos hors-texte zincogravuras e impressos em papel couché. A tiragem da edição está rigorosamente limitada a trezentos exemplares numerados e assinados pelos autores do texto e dos desenhos. Trata-se dum álbum de grandes dimensões, capa cartonada, fólios não numerados. O livro, que pode ser avaliado como uma edição de luxo – Gaspar Simões chamou-lhe na recensão (D.N., 7-4-1966) “verdadeira jóia de biblioteca” –, circulou sobretudo por subscrição prévia junto da editora e poucos exemplares foram ao circuito das livrarias. A 15 de Janeiro, um sábado, o livro foi apresentado com a presença do autor na cave da livraria Divulgação, cuja sede estava a Norte, no Porto, mas que abrira havia pouco na Rua de Dona Estefânia, em Lisboa, uma sucursal. Este leu os poemas do livro mas tão compenetrado, tão dentro do que lia, que na sala gritavam, “mais alto, mais alto”. Pelas notas de imprensa fica a saber-se que Cesariny leu os poemas todos do livro – nove na totalidade – e que no final da sessão, depois dos autógrafos, houve ainda mais leitura. A nota do J.L.A. (n.º 225, 19-1-1966), que antecede entrevista feita, diz assim: No sábado passado, Mário Cesariny leu, na Livraria Divulgação, todos os poemas de “A cidade queimada”, tendo também autografado grande número de exemplares. (…) No final da sessão, Cesariny leu o que será o primeiro prefácio da “Antologia Dada”, que está a organizar, uma carta de Cruzeiro Seixas, um texto de Virgílio Martinho e um poema que dedicou a Vieira da Silva. Este poema a Vieira é com certeza a versão da “Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva”, que o leitor já conhece de ter acompanhado a abertura da exposição de Arpad Szenes em Lausana e que foi pouco depois da sessão da livraria Divulgação publicado em versão francesa no livro de Isabel Meyrelles.
Depois do evento da livraria Divulgação, Cesariny não ficou em Lisboa e regressou a Londres. Numa carta a Guy Weelen (?-2-1966) fala numa estadia em Portugal de 21 dias. Toda a sua vida estava então na cidade do Tamisa, com a mãe ao cuidado da irmã Henriette na Rua Basílio Teles. Nada lhe podia convir melhor do que libertar-se do andar da Palhavã. Fora para lá ainda antes dos 20 anos, gaiato quase imberbe que apreciava gatos e piano, e aos 43 anos ainda por lá estava com o mesmo piano e a mesma obsessão pelos gatos. Quem o visse a subir a escada em caracol do prédio de esquina ou descer do eléctrico para ir jantar a casa e logo de seguida disparar para a vida nocturna do Cais do Sodré chamava-lhe adolescente retardado. O metabolismo londrino, com as idas e vindas a Lisboa, até por força do visto, permitiu-lhe a ilusória impressão de que tinha casa sua e vida própria, com a mãe entregue aos cuidados da irmã mais velha, com quem os dois se davam bem, a mãe porque via nela a sua chegada a Lisboa e ele porque sentira sempre nessa irmã chamada Henriette a estrela quente e protectora da desordem da sua vida. Tudo lhe era dado fazer a seu lado. A 25 de Janeiro já estava na Rua Walton porque nesse dia escreveu de lá para Cruzeiro Seixas. A estadia não podia porém ser longa, pois o visto de estadia era curto – deram-lhe um curto mês à chegada, que tentou renovar em Fevereiro com parte dos direitos, 15 mil escudos, que então lhe foram prometidos pela Ulisseia sobre o livro a publicar no Verão, A intervenção surrealista. Para fugir à cidade de Lisboa, assustado sempre com a polícia portuguesa, que reputava a mais feroz do mundo, chegou a pôr a hipótese de ir para Espanha, Madrid, onde sabia que Francisco Aranda, já então a viver com um namorado, Manolo Rodriguez Mateos, que acabou por ser o grande amor da sua vida, no principesco andar da Rua Carlos III, mesmo no centro de Madrid, em frente da Ópera, lhe abria sempre as portas de sua casa. Renovada em Julho por um semestre, a bolsa da Fundação acabara e quem lhe valeu mais uma vez foi Dácio, até como seu credor junto da polícia inglesa. Nessa carta para Cruzeiro Seixas diz: “Dácio foi admirável”. A grande urgência era receber os direitos que tinha a haver da Ulisseia sobre o livro a editar no Verão, que levava ainda a última demão em Lisboa com a ajuda de Seixas. Este chegou a ter alguma folga para intervir no livro e colocar de sua lavra textos. A copiosa parte dedicada a Luanda (1952; 1957) foi introduzida neste momento com Seixas em Lisboa na posse do original e em diálogo com o editor, e o autor do livro em Londres, a manobrar à distância e a dar margem ao amigo. Em carta diz-lhe (8-2-1966; Cartas de M. C. para C. S., 2014: 255): Quanto à Intervenção não tenho realmente grande empenho na carta do Calvet, e acho muito bem que ponhas coisas da tua 2.ª exposição. Nunca serão bastantes.
Outra intervenção directa que Seixas teve nesta época na colectânea foi a recolha das imagens, que foi quase toda da sua responsabilidade. Para dar originalidade ao livro, previa-se a reprodução em força de desenhos, de pinturas, de fotografias e de fotogramas de filmes. Seixas foi o responsável por esta secção do livro, que desapareceu na reedição (1997). Por isso a edição dá-lhe o crédito da capa e do arranjo gráfico, que levou 17 extra-textos, alguns deles a cores, em papel especial lavável. Coube-lhe a ele em Lisboa recolher parte da iconografia a inserir. Recorreu ao seu arquivo, ao de Carlos Calvet, ao de Pedro Oom, ao de Mário Henrique Leiria e ao de Risques Pereira, todos com imagens no volume. Por indicação recebida de Londres foi ainda a casa de José Pinto de Figueiredo, um coleccionador que privara com D’Assumpção em Paris e no Porto e que vivia num luxuoso apartamento na zona de Campolide, fotografar materiais da sua colecção pessoal. O primeiro extra-texto do livro, um óleo de António Dacosta de 1939, foi fotografado em casa de Pinto de Figueiredo. Do arquivo de Seixas veio antes de mais a expressiva fotografia, hoje mítica, tirada em Junho de 1949 na exposição da Rua Augusto Rosa – é o segundo extra-texto do volume – e que lhe serviu ainda para obter a imagem da capa (sector lateral da fotografia com colagens de raposas desenhadas por Seixas a passar por entre os pés das cadeiras). Cheguei a pensar que a fotografia em que se vê todo o grupo de “Os Surrealistas” fosse da autoria de António Paulo Tomaz, o jovem Antínoo do bairro da Graça, por quem Seixas se apaixonara há vários anos e que participara com desenhos na exposição. Mas não – não foi assim! No dia da inauguração foi contratado um fotógrafo profissional para fazer a fotografia do grupo, cabendo a Seixas depois as fotografias dispersas que foram tiradas no exterior da exposição com uma máquina que nem sua era. Como quer que seja, tivera o cuidado de guardar a fotografia e de a intervencionar colando desenhos seus.
Outro assunto que ocupou Cesariny neste período final de Londres foi a criação dádá, que só nesta época, na biblioteca de Dácio e noutras fontes inglesas, explorou a fundo, embora logo em 1947 tivesse copiosa notícia do movimento – Nadeau dedica-lhe capítulo na Histoire du surréalisme. Os primeiros textos dadaístas recolhidos datam até do período que passou em Paris no tempo da exposição da galeria Maeght. Na entrevista ao J.L.A., disse (19-1-1965): Não é mais importante o movimento surrealista do que o dadaísmo no processo de libertação dos espíritos a que a Europa assistiu, entre divertida e aterrada, à partida da primeira guerra mundial. Numa carta para Cruzeiro Seixas retomou assim (11-2-1966; Cartas de M. C. para C. S., 2014: 259): Seria bom ter dinheiro para aproveitar esta estadia no sentido de arranjar documentação decente, em bonecos, para o livro Dádá. Nunca substituiu o surrealismo pelo dadaísmo mas ao perceber neste o antecedente original do primeiro, interessou-se por ele e levou a peito a necessidade de o dar a conhecer num dos raros países europeus em que o movimento não tivera qualquer expressão e que 50 anos depois, na primeira metade da década de 60, o continuava a desconhecer. Projectou então em Londres uma antologia do movimento que o desse conhecer ao leitor português e na qual trabalhou com aplicação. Não chegou porém a encontrar editor para a empresa e acabou por publicar os materiais coligidos – traduções e prefácio – no suplemento “Literatura e Arte” do jornal A Capital (1971-1972), sob a rubrica “Dádá 14-70”. Percebe-se aí que desde a sua primeira estadia em Paris, no Verão de 1947, que se entregava à recolha de textos dadaístas (A Capital, 28-6-1972). Parte foi depois reproduzida na sua colectânea do surrealismo internacional, Textos de combate e afirmação do movimento surrealista mundial (1977), onde dedica a dádá um longo e muito informado capítulo introdutório.
Cesariny regressou a Portugal ou no final de Fevereiro – é o mais crível dada a sua entrada em Inglaterra em finais de Janeiro com um carimbo de permanência por apenas um mês – ou o mais tardar em Março. Numa carta posterior, recordando o longo período que então passou em Londres – chegou à cidade no final de Novembro de 1964 e só a deixou de vez no final do Inverno de 1966 –, fez o seguinte balanço da sua estadia (26-5-1969; Gatos comunicantes, 2014: 119): A bolsa Gulbenkian que tive há quatro anos, aproveitei-a sobretudo para passear. Um ano a passear! Não foi espantoso? Passear, comer bifes! Muita magnífica carne de vaca britânica ingeri eu em 1965! (Os animais ingleses, são a sério, sejam os de comer, sejam os que estão só para vista). Quando voltei a Lisboa, as pessoas admiravam-se; não é que estivesse gordo – unicamente, já não estava magro (…). A 25 de Março já estava em Lisboa porque em carta a Luiz Pacheco para as Caldas prometeu-lhe visita. Um novo processo judicial estava em marcha contra Cesariny, do qual se falará mais adiante, e tinha obrigações para com a Fundação Gulbenkian, pois a bolsa acabara no final do ano e tinha de entregar o relatório final. Há duas cartas escritas pelo poeta ao director do serviço de Belas-Artes da Fundação, Artur Nobre Gusmão, uma do início de Abril e outra do final, a propósito desta obrigação. Nas duas dá conta de sete cadernos entregues à Fundação como – ou com o – relatório final. Em carta a Vieira explicita o conteúdo dos cadernos (13-9-1966; idem, 2008: 84): Saberá que à minha chegada a Lisboa entreguei na Fundação G., com o relatório final, os elementos colhidos de museu em museu e de viagem em viagem. Muitas destas notas terão sido feitas no quarto da Rua Walton, cruzando as suas leituras do momento, as visitas que fazia às exposições e a memória dos quadros de Vieira. No instante de deixar Londres, ainda corria às galerias a ver pintura. Numa das cartas finais a Cruzeiro Seixas, ficou registo de visita: (11-2-1966; Cartas de M. C. para C. S., 2014: 259): Agora mesmo vi uma exposição cheia de interesse, que havia que reproduzir em peso: Expressionismo, Dádá alemão, Bahaus, Abstraccionismo. Nem falta o Nolde, que é um deslumbramento, mesmo frio. É um Fernando José Francisco que nunca tivesse sido José Francisco. Muita coisa do Schwitters! Ao fim de seis meses a Fundação devolveu-lhe os cadernos, atribuindo-lhe durante seis meses um subsídio mensal suplementar de dois mil escudos para poder fechar a obra. Deixou de receber a mensalidade em Janeiro de 1967, altura em que apresentou então na livraria Buchholz, em Lisboa, na abertura duma exposição de pintura sua, a que Cruzeiro Seixas se associou, uma longa palestra sobre a pintura de Vieira, acompanhada de slides. Em carta para Vieira da Silva (?-10-1966) chama-lhe “palestra com projecções”, estruturada em três tópicos – “o sonho e a pintura de Vieira”, “a pintura de Vieira e o poético” e “Vieira e a modernidade”. Os slides resultavam dum pedido ainda do tempo da Rua Walton, feito a Guy Weelen, que lhos enviou para Londres. Com curiosa alusão à Geração Beat, aliás já referida na introdução d’ A intervenção surrealista a propósito de Ted Joans, poeta afro-americano que mais tarde se tornou presença real na vida de Cesariny, o texto foi enviado para Vieira como anexo da carta e está hoje publicado (Gatos comunicantes, 2008: 86-97).
Quando chegou a Lisboa, no final do Inverno, esperava-o uma nova crítica de Gastão Cruz ao livro A cidade queimada, acabado de lançar em Janeiro na ave da livraria Divulgação (D. L., 3-3-1966). O texto era ainda mais arrasador do que o de 1961. Nada no livro se salvava, a não ser, e tão-só para impugnar o automatismo, o “diário de composição”. Em nome dum rigor que apelava ao trabalho, à ordem, ao classicismo e à economia, o centro da crítica fora em 61 o discursivismo, a incontrolada verbosidade do poeta de Planisfério e outros poemas. A actual leitura desenvolvia-se em torno desse mesmo fulcro – A cidade queimada era o primeiro livro do autor após Planisfério e outros poemas – para chegar à conclusão de que a poesia de Cesariny era epigonal, obsoleta, sem interesse poético. Eis um passo da sua crítica: Resta acrescentar que, não obstante o interesse que o “diário de composição” oferece, do ponto de vista de que o encarei, A cidade queimada é um livro subsidiário em parte do velho formulário surrealista, que segundo Ramos Rosa “faz (do surrealismo) um novo academismo cuja autenticidade poética é muito duvidosa”, em parte de um outro formulário, talvez não menos cediço (…), o experimentalismo. / Imagens como o guarda-fatos do mar, uma paisagem de arcos flamejantes/ deslocando-se a oeste, um castelo perdido entre duas visões (…) etc. são exemplos de uma linguagem poética irremediavelmente datada, no pior sentido, que não apresenta para o leitor de hoje a menor capacidade de choque ou sequer de surpresa. / Assinale-se também um discursivismo pretensiosamente despretensioso e simploriamente simples (…). / Por outro lado, os poemas constituídos por colagens, em francês, confrangem, verdadeiramente, pelo estéril epigonismo pseudo-experimentalista que documentam. Serão eles uma espécie de certidão de óbito da outrora fulgurante imaginação de Cesariny?
Uma crítica assim é uma crítica de frase feita – a mais comum, quer no elogio, quer no ataque. Não se faz entender por si mas pelo que esconde. Uma crítica de frase feita é como um chinó sobre uma careca. Tomá-la a sério é ser vítima dum engano. Fosse o livro o que fosse e a música era a mesma. É preciso entender uma tal descarga no quadro da luta duma geração que procurava a todo o custo limpar o terreno de tudo o que não fosse tradição realista e clássica – que vinha da Arcádia de Correia Garção e passava depois por Cesário, pelo modernismo pessoano e pelo Novo Cancioneiro. O surrealismo aparecia como um obstáculo incompreensível, um perigo que destruía pela base os pressupostos de ordem, clareza e harmonia que esta família de poetas e de críticos tanto defendia. Foi para o remover do caminho que as palavras desta crítica se alinharam como um pelotão de fuzilamento. O autor de Manual de prestidigitação esteve a ponto de se tornar cadáver no cânone desta linhagem. Já sabe o leitor que assim não sucedeu e que o pelotão não chegou a massacrar: feriu mas não matou. Antes do massacre começou uma nova operação crítica, que salvou no limite o poeta da “pena capital”. Que operação foi essa? Esquecer, por insignificante, o seu surrealismo, falando só do seu realismo – o único a merecer atenção crítica. O obreiro da viragem foi ainda Gastão Cruz, com “Mário Cesariny, poeta realista” (A poesia portuguesa hoje, 1973), que retoma um texto anterior, “Carlos de Oliveira, Sophia Andresen, Mário Cesariny” (Diário de Lisboa, 9-7-1964), onde esta leitura se desenha pela primeira vez, embora no enfiamento de anteriores observações de António Ramos Rosa. Diz o crítico: O que é curioso – e ainda não suficientemente observado – é que em Mário Cesariny de Vasconcelos encontrou a poesia portuguesa um dos seus autores mais caracterizadamente realistas. Esta nova forma de relação, que implicou a sobrevivência amputada do poeta, acabou por se fazer modelo, impondo-se numa parte das leituras que se foram sucedendo sobre a criação do autor de Manual de prestidigitação. A rábula do seu realismo, a que logo se acrescentou a da heterodoxia do seu surrealismo, nunca mais deixou até hoje de ser cantada em muitas vozes, em muitos tons e com muitos e variados acompanhamentos.
A cidade queimada é um dos livros onde o surrealismo está mais vivo, um daqueles que pode ser tomado como relatório da alma, e por isso um dos que é inacessível aos critérios de compreensão dum poeta de linhagem clássica, à procura da beleza da forma. Daí a secura e a extrema severidade como Gastão Cruz o recebeu. Demais, é um livro sem qualquer propósito de sátira social, o que ainda dificulta mais a sua leitura numa tradição realista. O equívoco do crítico está na ideia de que Cesariny andava à procura de símiles como quem anda à procura duma flor bonita. É assim que os poetas de tradição clássica trabalham – mas não estes, mais raros e mais incertos, que são visitados em transe por um anjo demónico e gritam com Dostoiewski – “odeio a harmonia!” E se há livro oferecido pelo anjo demónico, se há livro que odeie com todas as forças a proporção e a harmonia e que resulte da tempestade e do caos é este. É por isso um dos livros mais demoníacos do autor. Nesta poesia não é de beleza que se trata, pelo menos da beleza que se associa ao equilíbrio procurado e modelado como forma construída; o que nela se joga é a capacidade de expressar a vida interior, com todo o caos e incerteza que nela fulgura. Esta poesia é expressão – mas expressão da vida mental profunda. É este o seu domínio. A beleza também nele existe mas de forma não construída nem civilizada. É uma beleza tosca, rude, selvática e violenta, tão distinta daquela que se apoia nos valores estéticos clássicos como um sinal primitivo inscrito na pedra se distancia do requinte dum capitel jónico. A beleza numa criação surrealista desta natureza não é um adorno, uma voluta trabalhada a cinzel por um artista, mas uma fera selvagem esfomeada, uma aparição terrível e apavorante.
O livro tem por isso um momento chave no quinto poema, em que o sujeito fala do corpo como se falasse doutro real – “Nunca estive tão só diz o meu corpo e eu rio-me”. Realiza-se aí o milagre da separação do “eu” sem o qual o automatismo surrealista não pode existir. O objectivo específico do surrealismo é captar uma voz que não é a do “eu” consciente e de superfície. Sem essa separação a captação vigilante da voz profunda, da voz do “eu” desejante, não tem condições para se fazer ouvir. Esta voz, que no discurso do sono sobe à superfície de forma involuntária, como uma válvula de escape dando saída a uma compressão do interior prestes a implodir, chega de forma voluntária e consciente à poesia surrealista, que pode assim ser tida como um sonho acordado – um sonho de olhos abertos, um relato do caos. Só nesse campo de manifestação podem ser apreciadas as imagens que Gastão Cruz condenou em nome da originalidade. Um poema surrealista pela sua natureza está sempre na situação paradoxal de provar que o poema que o precede não é ainda o original. Só que o original é aqui não o nunca visto mas a fonte, sempre mais funda, donde brota o desejo. O mesmo se passa com as collages verbais dos recortes franceses que o crítico negou de modo tão implacável. O que nelas interessa não é a segurança do gosto, nem a originalidade tratada como uma flor rara e por isso valorizada acima de todas as outras, menos ainda a realidade exterior, mas a expressão de correntes interiores que doutro modo não afloravam nem enrugavam a superfície lisa da consciência racional. As palavras dum poema surrealista são como dados lançados ao acaso no feltro verde duma mesa de jogo. Os seus sinais de febre brilham na página com a mesma vida enigmática das pintas e das imagens flamejantes das cartas que se tiram às cegas para captar as ondulações e os movimentos invisíveis do destino. O poeta surrealista não é um esteta da forma mas um adivinho da alma.
A cidade queimada, livro composto entre Maio e Novembro de 1965, nasceu num lugar maldito, ao pé duma torre hierática e assustadora, criada por um alquimista medievo e amaldiçoada depois pelas bruxas que aí foram assadas pela coroa e pelo altar. O livro foi concluído na reclusão duma cela de pedra, num dos lugares mais desolados e policiados do mundo – Fresnes –, amaldiçoado também ele pelos muitos reclusos que aí foram encarcerados pelos tribunais. É um livro danado e maldito, cheio de cinzas e de matérias carbonizadas, um livro tóxico e perseguido, que faz parte dum mundo recalcado, clandestino, oculto, negado e condenado ao suplício do nojo e do auto-de-fé, um livro diabólico, infernal e revoltado, uma nave de espelhos e de loucos, com “dez mil capitães” e “dez mil insurrectos”, que só uma tradição subterrânea, marginal ao classicismo, à Renascença, ao realismo e ao modernismo, avatares recentes do clássico, está em condições de atravessar, compreender e trazer à luz dia, uma tradição que saiba valorizar a expressão rude e a beleza não refinada pelos tópicos e pelas orientações das escolas literárias, uma beleza bisonha e selvagem. Foi este rosto negro e insubmisso que Luiz Pacheco amou no livro e celebrou num folheto enguiçado, Comunicado ou intervenção da província, cujo destino o leitor conhecerá no capítulo seguinte. Nada disto é porém surpresa. No início da década 50, o que levou este Luiz a tornar-se o primeiro editor do meu biografado foi a força de negação da sua poesia, o que nela havia de clandestino, de bravio e de revoltado, e não qualquer juízo estético – esse jeito tão típico do homem civilizado que vai ao salão tratar das unhas e do cabelo. Adepto da tesoura, do pente, da lima, do verniz e de outros instrumentos de polimento e civilização, o crítico do D.L. não se conteve ante o desalinho dum livro e pegou na palmatória para castigar a rudeza dum indisciplinado e hirsuto primitivo da poesia, um urso das silvas e dos picos que desconhecia o salão de estética.
Em 1961, ante a crítica de Gastão Cruz, Cesariny não tugiu nem mugiu. Virou costas e fez de conta que não era com ele. Estava então a começar a sua saga europeia e desinteressava-se de tudo o que lhe parecia demasiado fechado no quadriculado português. Quando o mesmo crítico lhe chamou no Verão de 1964 um “dos autores mais caracterizadamente realistas” da poesia portuguesa deve ter pensado que lhe estavam a querer fazer a folha mas também não ligou. Andava em trânsito entre Londres e Madrid e isso bastava para o ocupar. Desta vez não foi assim. Era difícil assobiar para o lado e fazer de conta que nada se passava. Estava de regresso a Lisboa, o texto saíra num conhecidíssimo suplemento literário, era uma tentativa de assassínio em que todos – com exclusão de Luiz Pacheco – lhe evitaram piedosamente falar mas que ele pressentiu presente nos olhares e nas meias palavras dos Cafés e dos passeios. Não perdoou. Não obstante a sanha, não deu então um passo. Aguentou cinco longos anos sem dar pio, à espera da boa ocasião. Não queria esbracejar no vazio; sem ser visto, queria apanhar o pássaro na mira e não falhar o tiro. Devia ser estampido tão sonoro e tão alvo que para sempre o seu eco vibrasse. Pacientemente esperou pela saída do seu livro seguinte, 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão…. Em 1966 já trabalhava nele – a versão inicial da ode a Vieira da Silva é de Fevereiro de 1965 – mas na verdade o livro demorou um lustro a construir e a aparecer. Tirou então a desforra. Espere o leitor pelo momento da saída do livro, em 1971, para ver como tudo aconteceu. Reencontrará então a verve satírica do meu autor – essa, sim, nítida e toda voltada para o real exterior, sem nada de subterrâneo, de incontrolado, embora o seu nutriente venha da aflição em que as ocultas camadas do “eu” sufocam e pateiam.
A LINHA AZUL
A amizade, se nos cingirmos à vida social, é o único problema filosófico digno de atenção. A morte é uma interrogação com resposta, mesmo que adiada até ao último instante, enquanto a amizade é uma incógnita sempre imprevisível. As relações de Mário Cesariny e Luiz Pacheco chegaram ao final do ano de 1964 num ponto tão alto que é admissível a paixão. O ideal do primeiro era o do excluído social. Por isso não quis casar – mais tarde abominou o casamento gay –, não quis estudar, não quis carreira, por mais elementar que fosse, não quis uma sexualidade que o pudesse colocar no lugar do pai. Quis apenas estar disponível para o capricho da musa que lhe entregava os poemas e para o amor que lhe satisfazia o desejo e o salvava da morte e do suicídio. Foi assim considerado um vagabundo e condenado como tal na justiça portuguesa e na francesa. Não se negou e em momento de balanço disse que “a única estrada de fortuna” era a da “vagabundagem social, moral e política”. A questão era para ele tão decisiva que quando o conheci – havia entre nós 33 anos de diferença – a primeira coisa que ele quis saber foi: “ – Tu consegues ter um trabalho, levantares-te todos os dia de manhã, chegares a horas ao emprego, aturares um superior?” Tive a impressão que residia ali a sua grande questão quando conhecia alguém – e isso desde sempre. Era o seu nó vital, aquele que o modelara. Cumprir as obrigações que a realidade social impõe ao “eu”, recalcando a vida do desejo e da poesia, era para ele uma pura impossibilidade. Preferia morrer a vergar-se ao enfado da necessidade e da obrigação. E ficava estupefacto como é que outros se vergavam sem embarcarem no “navio de espelhos” – a nave dos loucos insurrectos que ele tão belamente cantara no poema final d’A cidade queimada, onde “dez mil capitães/ têm o mesmo rosto// A mesma cintura escura/ o mesmo grau e posto”.
Isso explica a admiração que desenvolveu no início da década de 60 por Luiz Pacheco e que não tem qualquer comparação com aquilo que sucedeu no período anterior. Pacheco fora funcionário do Secretariado Nacional de informação desde o final de 1946 até Julho de 1959. Que admiração podia ter o autor de Corpo visível por alguém que trabalhava no Palácio Foz para António Ferro e para Salazar – ele que recusara todos os empregos, até o muito fácil e lucrativo que o pai lhe quis oferecer, para se consagrar a Eros e à musa?! Pacheco fora tão-só seu editor e seu émulo no Café Gelo junto da jovem geração que fizera a revista Pirâmide. Foi ainda seu autor na colecção “A Antologia em 1958”. Não mais. A admiração só começou depois da rescisão do contrato com o S.N.I., do abandono da mulher e dos filhos, da ligação amorosa com as duas irmãs menores Matias, do engate de magalas e marujos em Lisboa e na província, da escrita d’ O Libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor e que ele conheceu logo no momento da escrita. Só então se criaram as condições para ele reparar com atenção no velho conhecido e ver pormenores que até aí lhe tinham fugido, como a ondulação sensual da linha dos lábios e uma pele branca, transparente e macerada, que fazia o erotismo dos pobres. A admiração é um movimento tímido, que começa numa região remota do interior e se dirige para o lado de fora. Atinge a sua altura culminante quando a atenção se fixa em exclusivo no ponto exterior. A admiração não se distingue aí da paixão; o exterior absorveu o lado de dentro por inteiro, que já não vive por si mas pelo outro. Quando Cesariny, depois de Fresnes, no Natal de 1964, esteve em Lisboa meio clandestino para visitar a mãe e a irmã e reencontrou o editor de Bloco, acabado de sair de Setúbal, a sua relação com ele era intensa, obsessiva, próxima do encanto. Pacheco mais tarde confessou que o amigo o desafiou então a fazer amor com ele (O crocodilo que voa, 2008: 183): Ele só tentou uma vez. Foi quando veio de Paris. Até aí não tinha tique nenhum disso. (…) No regresso para mim foi uma surpresa. Um choque mesmo. O tipo começou a aparecer e a fazer propostas. Comigo (…), o gajo fez-me assim umas festas e eu disse “Tá quieto, faz favor, porra.” Cesariny não deixou qualquer testemunho sobre o caso. Sabe-se porém que quando regressou a Londres intercedeu por ele junto de Dácio. Dá conta desta ajuda numa carta a Cruzeiro Seixas, onde nas entrelinhas se vislumbra o magnetismo que então o ligava ao editor da Contraponto (Cartas de M.C. para C. S., 2014: 193): De momento não és tu o grande doente, o fantasma que é preciso reencarnar, se se pode e se deixa. Estou a falar-te do Luiz Pacheco, a quem é preciso acudir com cuidado e com tino. Guardarás em segredo, porque isso me foi pedido, que o Dácio vai enviar-lhe por uns meses um subsídio – 1 conto, 2 –, sugestão muito minha e muito de aproveitar, e que começa a funcionar dentro de dias.
Pacheco leu A cidade queimada numa livraria de Coimbra no início de Janeiro, quando já estava instalado nas Caldas da Rainha e precisava de distribuir a edição d’ O cachecol do artista, que finalizara no Outono, ainda em Setúbal, e António José Forte editara à sua conta no final do ano numa tipografia de Santarém. Nos primeiros dias de Janeiro, já nas Caldas, recebeu os quinhentos exemplares da edição e iniciou a distribuição do folheto – edição Contraponto – por envio postal e por entrega directa em livrarias. Em Coimbra, nas livrarias da Baixa, ele tinha contactos antigos que datavam do tempo em que editara António Maria Lisboa, Mário Cesariny, Manuel de Lima, Vergílio Ferreira, Mário Sacramento, Manuel Laranjeira, Natália Correia e Herberto Helder. Coimbra ficava-lhe agora à mão – vizinha de Leiria e das Caldas. Esteve na cidade do Mondego ainda antes de 15 de Janeiro, o sábado em que Cesariny apresentou o seu livro na livraria Divulgação em Lisboa, e numa das livrarias da Baixa que visitou encontrou o livro do amigo, que aproveitou para ler. Eram só nove curtos poemas, mais as seis entradas do “diário de composição”. Do passo ficou registo em carta para Londres (pós 15-1-1966; Pacheco versus Cesariny, 1974: 222): E mais ainda a leitura do teu livro, em Coimbra feita, em boleia concedida por um livreiro amigo, que me fazia esperar uns bocados, convencido que eu me enfastiava, quando na altura o lesado estava ser ele, porque lia o livro eu de borla. Ficamos ainda a saber que Mário Cesariny teve apenas direito a 10 exemplares do livro. Beneficiou porém de 15% sobre cada exemplar vendido – informação recolhida na correspondência para Seixas, que lhe tratou do contrato com a Ulisseia.
O autor de Carta-sincera a José Gomes Ferreira chegou a pensar estar presente na livraria Divulgação e para isso preparou e policopiou a estêncil um texto de homenagem ao poema e ao autor, Comunicado ou intervenção da província, que se destinava a ser lido e distribuído na apresentação do livro. Quando percebeu que não podia deixar as Caldas, enviou exemplar a Cruzeiro Seixas – o envio datado de 14-1-1965 (espólio Cruzeiro Seixas, B.N.P.) – para ser lido na sessão, o que também não sucedeu como se prova pela notícia dada no J.L.A. (19-1-1966). Cesariny não gostou do texto, que entretanto com a ajuda dum ceramista caldense, Ferreira da Silva, Pacheco passou a folheto, o que mais desgostou Cesariny. Todas as grandes guerras entre os dois tiveram como ponto de partida este folheto, primeiro numa edição muito restrita de poucas dezenas de exemplares destinadas a ser distribuídas na livraria Divulgação e depois, em Abril/Maio, numa edição tipográfica muito esmerada de cerca de 500 exemplares e que é já um episódio da teima entre os dois. O que começou por ser uma vénia rasgada até ao chão, como o autor do folheto raramente fazia e cuja sinceridade nada autoriza a pôr em causa, acabou por se tornar um irremediável motivo de zanga entre os dois, que os afastou para sempre. Não tem lógica mas foi assim. A vida nunca é tão verdadeira como nos lances em que é absurda, porque é aí que a sua imaginação se manifesta. Sem distorção violenta da realidade não há verosimilhança possível na sua narração. O escritor mais realista e mais objectivista não é aquele que copia e fotografa o real de superfície mas o que o distorce nas mãos até ao absurdo da dor e do amor.
Que desgostou Cesariny no texto que nasceu como homenagem? Não há qualquer dúvida que as duas alusões à prisão de Fresnes – a primeira muito explícita. Diz assim: A mesma caduca mas ignóbil, feroz moralidadezinha violência conjugadas, anti-corpo o nosso, os vossos, que o levou a ele a Fresnes como ali [n’A cidade queimada] se relata e a mim já por duas vezes me meteu no Limoeiro (…). De resto, todo o texto é uma homenagem ao “Poeta do Corpo que é Mário Cesariny de Vasconcelos”, ao “Pai e Mãe de Poesia”. “Poeta do Corpo” fora já a expressão usada na dedicatória de Comunidade, que Pacheco escrevera em Setúbal em Maio de 1963 e que editara pouco depois numa versão em estêncil, dedicada ao seu antigo autor. Mas bastou a palavra “Fresnes” para o refugiado londrino se retrair. Andava há um ano a tentar ocultar a humilhação que sofrera em França e de repente num papel público, destinado a circular e a ser distribuído no dia do lançamento do seu novo livro, um papel que mais tarde ou mais cedo a polícia portuguesa leria e arquivaria nos seus arquivos sinistros, via exposta em toda a crueza a sua recente tragédia. Temeu – já em 28-5-1965, em Londres, por temer, ele se recusara a assinar petição que Alberto de Lacerda lhe dera (Cartas de M. C. para A. de L., 2015: 25-29) – e reprovou. A sua reacção, que subiu de grau à medida que se deu conta da publicidade crescente do folheto, foi brutal. Na carta em que regista o momento da primeira leitura, anterior pois à edição tipográfica que apareceu no início de Maio, já ele imprecava (Jornal do Gato, 1974: 47): Gostei mais da tua carta que do texto que me enviaste a propósito da Cidade Queimada, embora este fosse, ou fosse a fingir, de altamente elogiativo. Corrijo: na tua boca, na tua maneira, ele é realmente elogiativo. Está lá o velho programa que traçaste para os teus mais próximos: cadeia, ou hospital. Tua ânsia, velha, que sempre te fez sobrepor-te, adiantar-te, esmerar, por conta própria, os serviços policiários. O que ele imputa ao amigo é de o estar a entregar à polícia. É acusação forte, violenta, chocante, retomada no final da carta sem rodeios (idem, 1974: 49): (…) é possível que a minha vida tenha dado cabo de mim, ou eu cabo de mim nela; o amor que tenho à vida fez-me sempre evitar dar cabo da vida dos outros. Não “enterrei” ninguém – sempre até à última quis a vida dos outros. Tu incluído. A tua pressa em dar cabo dos outros, diz-me que vida é. “Enterrar” aqui é trair. Nunca mais abandonou a ideia de que o antigo editor o traiu com a publicação do folheto. Cortou então com ele e nunca mais lhe falou nem escreveu. Essa foi a derradeira carta que lhe escreveu, datada por certo de Abril. Muitos anos depois ainda dizia que o mecanismo interior do autor d’ O Teodolito era a felonia. “ Atrair de início os amigos, para melhor os trair depois” – disse ele muitos anos depois a um amigo chegado, José Manuel dos Santos, a propósito de Pacheco. Tinham passado cerca de 30 anos sobre estes acontecimentos, o regime político já havia mudado, mas o “comunicado” continuava a ser uma ferida por sarar.
Teve razão de ser a reacção de Cesariny? Com certeza não. O propósito do seu autor foi enaltecer, não delatar. Por isso na carta de resposta ele defendeu-se assim (idem, 1974: 264): E não confundas ou finjas que confundes isto com um furor policial meu. Olha que história: contar com a polícia e denunciá-la onde ela existe, é já ser polícia?! Ambos enalteciam uma vida dedicada ao desejo e à poesia, fora do mundo do trabalho e das leis da família e do Estado, mas Pacheco aceitava a prisão como uma coroa de glória, ou como corolário natural do seu comportamento – na resposta à carta de Cesariny disse (idem, 1974: 261): Cadeia ou hospital. Pois. Que esperavas ou esperas, dado que és lúcido, merda. –, e Cesariny não. Muitos anos depois, na última entrevista, deixou claro a sua relação com a prisão (O Sol, 7-10-2006): Não era tempo de andar a falar alto. Íamos para a choça, o que não nos agradava muito. Os neo-realistas ficavam muito honrados quando iam presos. Nós não achávamos graça nenhuma. O “nós” aqui era ele. Tivera já os vexames no Torel que lhe haviam dado cabo da alma e da musa, acabara de viver no inferno tóxico da cela 381 de Fresnes, estivera em risco de não mais pôr pé em Paris – só a intervenção dum institucional bem colocado, Robert Bréchon, resolvera a situação –, andava apavorado com a vigilância de que se sentia alvo. Entrou pois em pânico com o folheto do amigo. Já na carta atrás citada a Alberto de Lacerda ele dá conta do medo em que vivia (28-5-1965; Cartas de M. C. para A. de L., 2015: 28): É bastante e séria a minha raiva de ver-me com cautelas e mesuras, que nunca tive, e agora devo ter. Esta carta foi escrita na Primavera londrina, no pacato refúgio da Rua Walton. À sua volta não havia sequer rasto das polícias portuguesas e mesmo assim ele recusou-se a assinar uma petição – o abaixo-assinado destinava-se a protestar, tudo indica, contra o fecho forçado da Sociedade Portuguesa de Escritores pela polícia política – em nome das cautelas que era obrigado a observar. A situação em Lisboa no final do Inverno do ano seguinte, momento em que o autor de Comunidade faz circular o “comunicado”, e na Primavera, em que o transforma em apelativo panfleto gráfico, e em que se dá a troca de cartas que o leitor atrás seguiu, era muito mais delicada. Não só Cesariny estava em Lisboa com obrigações a que não podia fugir – tinha o relatório sobre Vieira para entregar na Fundação –, obrigações que ele detestava e que o punham num estado de nervos que em geral davam com ele na cama com problemas gástricos, como acabava de ser processado pela polícia judiciária num novo processo.
Que processo era esse? O da Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica! O volume fora projectado no primeiro semestre de 1965 – estava ele cauteloso na Rua Walton – entre Natália Correia e Fernando Ribeiro de Mello. A primeira tinha a organização do volume e o segundo ficava com a edição. Quem era Ribeiro de Mello? Um jovem portuense que acabara de se lançar em Lisboa no mundo da edição com uma nova chancela, Afrodite, estreada nessa Primavera com uma tradução do Kama Sutra hindu. O convite para o autor de Corpo visível estar presente no volume foi feito no Verão, por Natália, em carta para Londres, de que se conhece a resposta, aceitando o convite e sugerindo a inclusão de Luiz Pacheco (18-8-1965; inédita): Sabendo que não vai esquecer o Bocage, era o que faltava, sugiro que não esqueça outro poeta de Setúbal, o Luiz Pacheco. Sobre a sua colaboração diz o seguinte: Eu creio que vou enviar-lhe dois poemas possíveis: um deles feito aqui há pouco. O outro, um poema que arrasto, ou um poema de arrasto, ao gosto popular, que há mais de 12 anos, todos os anos penso publicar pelo S. João e vender – cinco tostões – numa esquina de Alcântara (…). (…) Quanto a coisas publicadas, lembro-lhe, se quiser, o “Ditirambo” da Pena Capital e a “Passagem de Dante”, no Planisfério e outros poemas. Este sobretudo me parece sumamente apetrechado.
Dos poemas referidos na carta só o feito em Londres veio a integrar a selecção. Esse poema é “Outra coisa”, um soneto de amor, com alguma afinidade ao “Ditirambo” de Pena capital e que veio mais tarde a fazer parte dos “Poemas de Londres”. A restante colaboração de Cesariny no volume fez-se com dois inéditos visuais – “Panasca” e “Praeludium” – caligrafados em papel musical e datados de 1964. Os poemas, cuja pauta original foi reproduzida, parecem ser coevos dos primeiros poemas d’ A cidade queimada, ou anteriores até, mas feitos de qualquer modo já em Paris. Fosse como fosse, em Fevereiro de 1965, Cesariny ainda recorria a papel de pauta musical para escrever poemas, pois a primeira versão da “ode” a Vieira da Silva, escrita no regresso de Lausana, foi escrita em pauta musical. Os dois poemas foram mais tarde recolhidos na secção final do livro Primavera autónoma das estradas (1980). Além destes inéditos – os poemas caligrafados “Panasca” e “Praeludium” é que lhe valeram o processo judicial – a sua colaboração consta ainda dum poema extraído de Pena capital, “O jovem mágico”, e dum trecho de Corpo visível, ambos porventura escolha de Natália Correia, a que Cesariny anuiu.
A antologia apareceu, com ilustrações de Cruzeiro Seixas, em Dezembro de 1965 e ainda chegou a ir às livrarias. No final do mês foi proibida, os exemplares apreendidos, o editor processado. A princípio pensou-se que só Natália, a responsável pelo livro, seria implicada no processo com o editor. É a opinião de Pacheco na carta em que informa Cesariny da leitura d’ A cidade queimada em Coimbra (pós 15-1-1966; Pacheco versus Cesariny, 1974: 227): Fala-se em mais 3 grandes suspeitos: eu, o Ary dos Santos, o Melo e Castro (?). E que a Pêjota anda interessada nas nossas pessoas… Mas a Natália garantiu-me também ontem que não era caso de mor gravidade e só ela está à cabeça do touro, com um processo-crime, já metendo advogado e as gracinhas do costume. Não foi assim. Além do editor e da responsável, foram processados quatro autores: Cesariny, Luiz Pacheco, Ary dos Santos e Mello e Castro. No regresso de Londres, em Março, já o processo era conhecido e estava em marcha, o que bastou para assustar Cesariny. Demais o processo não tardou a cruzar-se com outro, a tradução e edição da Filosofia na Alcova de Sade, edição do mesmo Ribeiro de Mello e em que Luiz Pacheco, prefaciador da obra, aparecia também implicado. A situação tornou-se tão explosiva que o Diário da Manhã, órgão do regime, deu a seguinte notícia em bom destaque (9-4-1966): A Polícia Judiciária anunciou há dias a apreensão de diversos livros imorais e pornográficos em diversas regiões do País. (…) O caminho só poderá ser ou a cadeia ou o hospício. Quando uma notícia se torna uma ameaça, o jornalismo é uma peste disfarçada. Por isso a última coisa que eu quero ouvir dum jornalista são apelos à sensatez da ordem.
A acusação foi deduzida em 9 de Julho contra o editor, a organizadora e os quatro autores antes referidos, por abuso de liberdade de imprensa. No caso de Cesariny a acusação fundamentava-se na palavra “caralho” que abria o poema “Panasca”. O processo arrastou-se anos – ao contrário do de Sade que fechou em 1967 com a condenação de todos os arguidos – e só passou no Tribunal Plenário da Boa-Hora em Janeiro de 1970, com sentença lavrada em final de Março. O meu biografado não compareceu, fazendo-se representar pelo seu advogado (informação oral de Ernesto Mello e Castro) – o mesmo fez Luiz Pacheco, então internado em Santa Marta a fazer uma cura de desintoxicação alcoólica e uma limpeza geral ao organismo. Os réus foram condenados e a obra mandada destruir em nome “da decência, da moralidade pública e dos bons costumes”. Cesariny, cujo mérito literário dos seus poemas o tribunal deu por nulo, foi condenado em quarenta e cinco dias de prisão correccional, substituíveis por igual tempo de multa a trinta escudos por dia e mais sete dias à mesma taxa. Em carta que dei a conhecer, referiu-se ao caso assim (6-6-1970; Cartas para a Casa de P., 2012: 38): Não teve importância, não é?, foi só uma pena de dois meses de cadeia, remível a dinheiro, com certeza, mas ainda agora não sinto a certeza que tal arroto de papão tenha caído bem na ingenuidade santa e minha de ter escrito e mandado publicar coisa essa. Influenciado, talvez, por alguém que me disse, era na prima juventude, que todas as lavras em português é isso que aspiram dizer. (Caralho). Quando foi obrigado a ir pela primeira vez ao Torel, partiu-se-lhe uma corda da alma que ele tentou recompor em Londres. Com este “arroto de papão” que foi a leitura do acórdão no Tribunal Plenário da Boa-Hora essa corda avariou de vez. No rescaldo escreveu estas palavras onde uma ponta indisfarçável de mágoa subiu à superfície. Esta tristeza indefinível, que se confunde à beleza como o Sol às vezes se confunde entre a névoa do dia à Lua, trazia-a ele espelhada no rosto. Era o seu sinal. Ela lhe dava aquele ar de índio nostálgico e esbulhado do mais precioso dos bens – a liberdade.
No seio desta imbricada situação judicial, com uma vaga repressiva sem antecedentes conhecidos, já que as perseguições a escritores e artistas eram até aí políticas e não de costumes, a que o regime fechava os olhos – fizera assim com Raul Leal, deu-se a publicação do “comunicado” que o leitor já conhece e a retracção brutal de Cesariny com a dura carta que escreveu em Abril ao seu autor e que significou o corte entre os dois. O pano de fundo é a publicação em Dezembro de 1965 da colectânea feita por Natália Correia e três meses depois, no início de Março, da edição do Sade em português pelo mesmo editor e com prefácio de Luiz Pacheco, que lhe valeu pena de prisão nas Caldas e depois em Lisboa, no Limoeiro. Entendem-se melhor as palavras do autor da carta: Está lá o velho programa que traçaste para os teus mais próximos: cadeia, ou hospital. A justiça desnorteia como o mais ríspido dos Invernos ou o ataque de surpresa duma coluna inimiga. A resposta ou é o jogo contido, à defesa, a tentar evitar que os estragos do furacão se estendam, ou o grito de desespero do salve-se quem puder. Foi o que aqui sucedeu, com a debandada geral e cada um escondido no seu canto a tentar salvar a pele. Aquilo que parece acusação brutal não passa às vezes de ânsia e de aflição! Quanta fragilidade e quanto medo debaixo dum berro incisivo!
Além do rasgão entre Cesariny e Pacheco, a situação policial produziu outros danos graves. O mais imediato foi o fim da revista “Abjecção”, que vinha a ser preparada desde o rescaldo da estadia de Cruzeiro Seixas em Paris e em que ninguém mais falou, antes de mais Seixas, que escapara por um triz ao processo da antologia de Natália Correia – era ele o ilustrador – e que não se sentia capaz de arriscar muito mais. As derradeiras alusões à revista datam do Outono de 1965, altura em que Ribeiro de Melo publicou a colectânea de Natália, dando origem ao tornado repressivo que não mais acalmou. Todos os implicados na publicação perceberam que se a revista surgisse – um dos autores do primeiro número chamava-se Sade – era de imediato caçada e os responsáveis processados. Morreu assim no momento da gestação mais uma das revistas que o surrealismo português não chegou a fazer. O poder político das sociedades alimenta-se de pequenos e grandes crimes contra o espírito. Não consegue viver sem eles, não para nutrir o que de malévolo há nele, e alguma coisa há, mas porque são esses crimes que incutem medo e respeito na multidão e lhe dão a ele uma aura de mão implacável e de olho omnisciente a que nem mesmo o espírito e a sua troça podem escapar.
Outro estrago desta tempestade repressiva, este muito mais subtil, foi A Intervenção surrealista. Já sabe o leitor que o período final de Londres foi passado a resolver os assuntos deste livro. Primeiro, assentar os termos do contrato com a editora; depois, continuar a dar forma ao livro, com a ajuda de Seixas em Lisboa, que gozou dalguma liberdade de intervenção nos materiais relativos a Luanda; por fim, a urgência de receber em Londres, em Fevereiro, ao menos metade dos direitos (carta a Seixas, 11-2-1966), para tentar desesperadamente prolongar, com dinheiro à vista, o visto de permanência em Inglaterra. Ora os acontecimentos da Primavera de 1966 acabaram por deixar uma marca funda na finalização do livro e na revisão de provas. Na última carta que Cesariny escreveu a Pacheco, a carta do corte, o tema da colectânea vem ao de cima. Estávamos na Primavera e o livro tinha saída prevista para o mês de Julho. Cesariny fazia o derradeiro manuseamento do original, à espera já das primeiras provas, mas hesitava ainda na inclusão de textos. Acompanhem-se as suas hesitações: (Jornal do Gato, 1974: 49): Tenho um livro a sair, a “Intervenção surrealista”. Dentro em breve, as provas. Como é de obrigação, surges nele. Há no livro documentos bem mais antigos que as tuas campanhas contra mim. E não estão nada velhos. (…) Dúvida, é isto: incluo, não incluo o teu artigo sobre o meu picto-abjeccionismo.(…) É com o artigo do Virgílio, a única coisa que apareceu na imprensa. O texto sobre o qual a hesitação recai é “Cesariny ou do picto-abjeccionismo”, que correra em 1959 em estêncil e que versa as duas primeiras exposições de pintura de Cesariny, a primeira na galeria do “Diário de Notícias”, em 1958, e a segunda, um ano após, na galeria Divulgação, no Porto. O texto acabou por não ser incluído na colectânea, como de resto nenhum outro texto dele, Pacheco, foi. Ele acabou por “não surgir” no livro ao contrário do que o seu autor ainda previa em Abril, no momento de receber primeiras provas. A publicação tipográfica do “comunicado” – decidida à última hora, já em Abril, com a tensão muito alta (Pacheco versus Cesariny, 1974: 253-4) – caiu tão mal, que Cesariny, reavaliando o passado, desvalorizou nele qualquer acção de Pacheco, dando por desnecessária a sua presença na colectânea. Não há um único texto dele no volume. É provável que tenha havido mexida final no índice no momento da revisão de provas. Mesmo a Carta-sincera a José Gomes Ferreira – que Cesariny editara e fora pensada no momento alto do convívio com António Maria Lisboa, que escreveu idêntica missiva a Adolfo Casais Monteiro, podendo ser vista como um dos documentos mais genuínos da reacção da nova geração nascente ao neo-realismo – ficou de fora. Com mais fortes razões ainda, o mesmo se diga para o texto, “O que é o neo-abjeccionismo”, que Cesariny leu na Casa da Imprensa, em 30-3-1963, na apresentação da colectânea Surreal/Abjeccion-ismo e que atesta a extensão da influência surrealista muito para lá das suas fronteiras conhecidas e definidas. Pacheco é citado só de raspão e com acinte como editor da Contraponto, lembrando uma dedicatória menos abonatória de António Maria Lisboa na parte final da vida e motivada pelas condições em que saiu no Outono de 1953 o texto colectivo A afixação proibida, com nota em extra-texto do editor, “Rompimento inaugural”, que desagradou muito a Lisboa, como não agradou nada a Cesariny, que da insatisfação e da indisposição deixou registo escrito em carta para Seixas (24-11-1953), então em Luanda, mas que depressa ultrapassou e esqueceu (carta de Dezembro de 1953).
Se Cesariny se doeu com a publicidade excessiva e teimosa que Pacheco deu ao “comunicado”, desta vez, com a saída d’A intervenção surrealista, foi a vez dele, Pacheco, com razão, se beliscar. O autor d’ O Teodolito era uma figura imprevisível, duma sensibilidade feminina e apaixonada, vibrátil à menor brisa. Tinha além disso uma memória que gravava tudo ao pormenor. Leu o livro logo no final de Julho, no momento da sua saída, porventura em livraria, pois não é crível que o autor lho mandasse. Neste caso, com uma edição vulgar copiosa, de pelo menos dois mil exemplares, o que não sucedeu com A cidade queimada, restritíssima esta a 300 exemplares assinados, pode ainda ter beneficiado da oferta dum exemplar do editor, Vitor Silva Tavares, também seu editor – acabara de lhe editar Crítica de circunstância (Março de 1966). O primeiro registo da leitura do livro está numa carta a Manuel de Lima (4-8-1966; idem, 1974: 277): Felizmente sei medir as distâncias. Olhe, o mesmo não acontece já com o Mano Cesariny que num livro laçado há pouco baralha tudo, no premeditado propósito de fazer justiça por suas mãos e empurrar pró fundo quem lhe faça concorrência, principalmente o Lisboa e o O’Neill. (…). E confunde intervenção surrealista com uma venda de luvas, no Porto, pelo Herberto de Aguiar. Está escrito, está publicado. Contestou aqui aspectos perfunctórios, não deixando transparecer o que no livro ferira o seu amor-próprio, o que logo fez numa carta, ainda do mesmo mês para Natália Correia (26-8-1966; inédita): Lembro o apoio que me deu na altura do lançamento do “Manual de prestidigitação”, apoio que era ainda maior para o Mário e de que ele, agora, nos deu bom pago na sua intervençãozinha surrealistóide. Desta vez não se importou de confessar como o livro o abalara, talvez porque sentiu a interlocutora capaz de entender a forma como se sentia prejudicado. É que também Natália não comparece com um único texto. Até aquele editado n’ “A Antologia em 1958”, Poesia de arte e realismo poético, que é uma das explanações mais ricas dos mecanismos da criação surrealista, ficou de fora. É possível que ainda neste caso tenha pesado o processo judicial contra a silva organizada por Natália e que estava naquele momento assanhado e em marcha, com as assustadoras ameaças da notícia do Diário da Manhã já cá fora.
O editor da Contraponto iniciou ainda em Agosto uma campanha contra o livro, escrevendo vários textos críticos, que pensou colocar nos vários jornais em que então colaborava ou pensava colaborar. Publicou só um desses textos, “O caprichismo interventor do Sr. Mário Cesariny”, que esteve para sair no D. P. mas acabou por aparecer no J.L.A. (n.º 251, 7-9-1966). É um texto bem apetrechado, com um título recuperado de António Sérgio, “O caprichismo romântico do Sr. Guerra Junqueiro”, que dissimula com toda a elegância as razões pessoais que o moviam contra o livro. Aponta-lhe insuficiências, lacunas, omissões, mas nunca fala de si e dos seus textos. No essencial, as objecções críticas centravam-se na ideia de que o autor fugia ao lado cívico da intervenção surrealista – não integrando textos cruciais de Lisboa e até dele próprio, Cesariny – para se consagrar quase em exclusivo ao plano literário e artístico, muito mais anódino e consensual. Segundo o crítico, esta opção acabava por distrair o leitor com personagens menores e sem interesse, como Fernando José Francisco, e casos de anedotário, como os do Herminius, que rebaixavam o estalão do livro. Na carta em que comentou o texto com Vitor Silva Tavares, editor do livro, carta sem data mas que tudo aponta para ter sido escrita em 14 de Agosto, domingo, resumiu a construção crítica ao livro da seguinte forma (Pacheco versus Cesariny, 1974: 281-82): Sejamos razoáveis, Vitor: pode-se considerar intervenção surrealista, por ex., uma carta duma moça no Dongo para outra moça na Basílio Teles? E vinda a lume num volume caro, aparatoso, dez anos depois? (…) Mas já se pode considerar intervenção surrealista um Sr. Mário Cesariny andar em Maio-Junho de 1958, quando andava o Delgado e depois os tanques no Terreiro do Paço a distribuir por gente desconhecida em cafés e ruas da Baixa um folheto de borla chamado Autoridade e Liberdade etc. Isto, sim. E republicar esse texto era perigoso? Nem nada. Já foi republicado! Está à venda na Guimarães! Porque se oculta agora? Porque o Sr. Mário Cesariny está cada vez mais medroso. Essa é que essa. Está a ficar cada vez mais “moça” e abaixo da sua maneira antiga: altiva, inteligente, lúcida, corajosa. Como editor então bem relacionado com a imprensa lisboeta, foi de resto Vitor Silva Tavares que o ajudou a colocar o texto no J.L.A., onde Pacheco se tornara pouco a pouco pessoa a excluir. Foi esse aliás o último texto que deu a lume na publicação.
Teve razão Luiz Pacheco na crítica ao livro? Não creio; longe disso. Aceite-se que a construção do livro sofreu com o processo judicial que se abateu contra a Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica e que a notícia ameaçadora que saiu no Diário da Manhã pode ter interferido aqui e ali na construção final do livro. Talvez algumas ausências, antes de mais a de Pacheco e a de Natália, se possam dever a essa atmosfera de medo e suspeição. Tais falhas não chegam porém para desfigurar o livro, que é um espelho muito fiel do mais característico e vivo na intervenção surrealista em Portugal. É uma obra documental de grande rigor, bem perspectivada e que mostrou pela primeira vez que havia um arquivista em Cesariny. Não se constrói uma obra com cerca de meia centena de documentos, alguns raríssimos, que cobrem 15 anos de actividade, dum dia para o outro e só por vontade. O autor, que tinha condições, já que o último andar da Rua Basílio Teles era um poiso seguro à guarda da mãe, construiu pacientemente um arquivo documental ao longo dos anos que depois usou na construção do livro – deixando de lado porém os textos capitais de Luiz Pacheco, que também estavam com certeza no seu arquivo. Contou com a ajuda de Seixas mas o arquivo deste, com o longo périplo de viagens que iniciou depois de 1950, e deixando de lado os documentos relativos às acções de Luanda, era mais pobre e limitado. No seu sentido corrente e oficioso a História é a narração dos factos dignos de memória. Na sua motivação pessoal é outra coisa, pois a passividade do historiador diante do facto está longe de ser real. Ninguém se entrega só por imparcialidade à História. O facto nem sequer tem a presença material do objecto – está longe de consentir um valor objectivo e de possuir tanto estímulo soberano. Todo o historiador tem um peso imponderável seu na alma e colhe os seus factos ou por vingança ou por amor, ou ainda por obrigação de ofício, que é a mais triste e apagada das possibilidades. Quando alguém se dedica à História por profissão, a hipocrisia, que tem luneta com aro de oiro, tem por força de viver na sua alma. No caso de Cesariny, que de nada fez ofício, o pretexto que lhe pôs na alma o peso que o levou à História foi a obra de Bédouin, Vingt ans de surréalisme (1939-1959), que o leitor já conhece. Leu-a em 1962 em Lisboa e releu-a em Londres, na biblioteca de Ricarte-Dácio, em 1965. Essa obra fez escola para o período em causa e chegou a merecer a Maurice Nadeau um apêndice na reedição da Histoire du surréalisme. Foi pois uma desforra que o levou à História. Não quis que o surrealismo em Portugal passasse ao futuro na versão de Bédouin, que repetia, por intermédio de Nora Mitrani, a de José-Augusto França, um historiador profissional, de barbicha, pêra e chapéu alto. Assim sendo o livro cumpriu, mesmo com as falhas apontadas, antes de mais a ausência do criador do neo-abjeccionismo, o papel que se propunha. Substituiu a versão dos factos de Bédouin – o mesmo é dizer de França – e tornou-se a principal fonte historiográfica do surrealismo em Portugal para o período que vai de 1947 a 1962 e que mais tarde o autor ainda completou com dois ou três novos livros que são acrescentos de peso e que adiante se reportarão.
Dois anos depois Luiz Pacheco voltou a publicar nova reflexão sobre o livro, “Da Intervenção à abjecção” (J. N., 23-5-1968), resultado em parte talvez da condensação daquele conjunto de textos que ele pensou escrever em vários registos no momento da saída do livro e de que apenas apareceu, num tom sério, didáctico e soberano, sem o mais leve chiste ou mágoa pessoal, “O caprichismo interventor do Sr. Mário Cesariny”. O novo texto é diferente e está escrito num registo mais ofensivo e jocoso, longe porém do grotesco e da caricatura do retrato em “Cesariny muito cansado”. As críticas são as mesmas de 1966: omissões, vazios, repositório de historietas artísticas e literatas distractivas em vez de intervenção cívica directa e exemplar. Abstém-se novamente de se colocar como vítima da selecção – que foi inegavelmente – mas aponta a ausência indesculpável de Natália. Para esta biografia, o texto tem todavia outro motivo de interesse. Dá-nos a conhecer os desenvolvimentos internos que entretanto ocorreram no grupo que ainda dois anos atrás pensava fazer a revista “Abjecção”. Já se viu que o grupo teve um primeiro sobressalto no quadro da repressão policial que se seguiu às edições de Ribeiro de Mello de 1965 e 1966 – a antologia poética de Natália e a tradução portuguesa do romance de Sade, prefaciada pelo autor de Comunidade. Esse primeiro solavanco foi o violento rasgão nas relações de Cesariny e Pacheco. O avanço do processo judicial contra a edição da Filosofia na alcova, cuja sentença foi lida em Novembro de 1967, fez com que o grupo se tentasse unir, respondendo à repressão com novas e mais avançadas acções. Foi assim distribuída no Verão de 67 uma folha, “Sobre Sade diga-se que:”, assinada por António José Forte, Bruno da Ponte, Ernesto Sampaio, Manuel de Castro, Ricarte-Dácio e Virgílio Martinho. Não incriminado no processo contra a edição de Sade, Cesariny recusou-se a assinar – como de resto Seixas e Natália se recusaram. Daí o pretexto de Pacheco para este seu novo texto no diário portuense. A recusa da assinatura é de resto referida e repetida no ponto mais em evidência do texto, acusando assim o “gato ilegal” de medo e de cobardia, as duas notas insistentes com que ele vinha a cobrir o amigo desde a carta escrita a Silva Tavares em Agosto de 1966 e em que o imputava de estar a ficar cada vez mais “medroso” e cada vez mais “moça”.
Há mais porém. Luiz Pacheco no Verão de 1967 editara numa tipografia de Alcobaça – continuava nas Caldas, mesmo depois da primeira prisão no calabouço da cidade – um livro seu, Textos locais, com poema introdutório de Cesariny, “Poema Local”, dedicado “Ao Luiz Pacheco, poeta da cama”, réplica à dedicatória de Comunidade, “A Mário Cesariny de Vasconcelos, poeta do corpo”, repetida e glosada no “comunicado”. O pedido e o envio do poema ocorreram antes da vaga repressiva contra as edições de Ribeiro de Mello. Cesariny conhecia bem já então a dedicatória de Comunidade, como de resto o texto, sobre o qual se pronunciou assim na carta em que de Londres no Verão de 1965 acede ao convite de Natália em colaborar n’ Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica e lhe indica Pacheco como indispensável (18-8-1965; Biblioteca Pública de Ponta Delgada): Ele tem um texto muito belo, horrível, cujo título me esquece, mas me é dedicado (“Ao Mário Cesariny, poeta do corpo”) em que está tudo na cama a mexer e a contactar. Temível. Diante de palavras assim, quem podia adivinhar que nem sequer seria preciso um ano para o autor de Corpo visível limpar Pacheco d’ A intervenção surrealista e este, a coberto duma fingida seriedade crítica, passar ao papel a sua primeira desforra contra o livro, “O caprichismo interventor do Sr. Mário Cesariny”. O dado novo que tudo baralhou em tão pouco tempo chamou-se repressão policial. A dimensão destrutiva da polícia e dos tribunais só à distância se percebe. De perto parecem peças vulgares e aceitáveis como as rodas dentadas dum mecanismo que sem elas não pode funcionar; de longe são forças cegas que irrompem de forma brutal e representam o que há de mais escandaloso no espírito humano. A polícia é na sociedade o que um bofetão é na vida pessoal. Pior, já que o bofetão é dado a ferver e pede em geral desculpas, enquanto a violência dos Estados se programa de forma racional e fria e ainda quer cobrar aplausos e agradecimentos. O que faz hoje a propaganda dos Estados, aquilo que determina a sua vitória e a sua infalibilidade no sufrágio a que se submetem é o grau de perfeição e de eficácia com que pregam estalos internacionais e dentro de portas!
Regresse-se ao “poema local”. Foi pedido para Londres com a intenção expressa de introduzir o livro Textos locais e foi de lá enviado a 24-11-1965 (Pacheco versus Cesariny, 1974: 221-22), antes pois da proibição da antologia poética de Natália, da saída d’ A cidade queimada, da escrita do “comunicado” e da zanga definitiva entre os dois amigos. No Inverno de 1968, Virgílio Martinho, então a fazer crítica no J.L.A., entregou recensão de Textos locais ao jornal., onde entretanto Cesariny se juntara na redacção a Manuel de Lima e a Bruno da Ponte. A recensão de Virgílio Martinho nunca chegou a aparecer e em seu lugar publicou-se no final de Abril uma nota da redacção, “Esclarecimento necessário” (n.º 261, Maio, 1968), onde se dava conta que o texto não viria a lume e Martinho era afastado do pelouro crítico da publicação, transformada há pouco em revista mensal. Virgílio Martinho, um dos convivas mais acarinhados do Café Gelo, autor editado em estreia na colecção “A Antologia em 1958”, presente com vários textos n’ A Intervenção surrealista, reagiu com desagrado e editou uma folha volante, As funções de Cesariny, que correu pelos cafés e pelas redacções dos jornais. A relação entre os dois nunca mais se recompôs e não mais falaram, a não ser por monossílabos e de forma muito casual. Virgílio Martinho tornou-se até ao fim da vida, em 1994, um amigo muito próximo de Dácio, que entretanto regressara de Londres, assinara a folha em defesa de Sade no Verão de 1967, ficara ao lado de Virgílio Martinho no caso do J.L.A., sem porém cortar com o seu velho e querido hóspede da Rua Walton.
Pacheco aproveitou esta nova guerra – Cesariny era acusado por Virgílio Martinho de censor – para regressar à colectânea de 1966, dando o texto que o leitor já conhece ao diário portuense, “Da Intervenção à abjecção”. O autor d’ O Teodolito era magnânimo sem deixar de ser vingativo. Se lhe tiravam um cabelo, não sossegava enquanto não tirava três – e era capaz de ir por aí fora até aos 30, se não aos 300. Na vingança não conhecia medida e perdoar não fazia parte do seu modo de ver. Reconheceu esta sua marca numa carta a Natália (inédita; 26-8-1966; Biblioteca Pública de Ponta Delgada): Sinto dizê-lo, mas em todo este caso da “Antologia”, talvez por estar longe, fui vítima e continuo a sê-lo de vários descuidos, que tanto posso tomar como esquecimento natural por um ausente, como desdém, ou descortesia, e devo dizer-lhe são tudo isto actos que muito me aborrecem e muito pouco costumo perdoar. Desta vez, ante o texto do J.N., Cesariny, que não piara com a folha de Martinho, reagiu e escreveu ainda em Maio um desquite, que editou em folha volante para fazer correr entre o círculo dos comparsas. É texto sem título, em seis parágrafos, datado de “Maio de 1968”, que Cesariny nunca mais voltou a republicar (reproduzi-o no livro Cartas para a Casa de P., 2012: 27-30). Num estilo altivo e mexido, a lembrar os picos altos da prosa do folheto de 1958, Autoridade e liberdade são uma e a mesma coisa, defende A intervenção surrealista, põe em causa a probidade da edição portuguesa de Sade, ataca Luiz Pacheco – que trata por “Luisona” e por cretino. O editor Fernando Ribeiro de Mello, que acabara de ser condenado em Tribunal Plenário em Novembro de 1967 pela edição do livro, e que é tratado de “comerciante excitado”, respondeu de imediato com um panfleto, As avelãs de Cesariny, datado de Junho (foi reproduzido por Pedro Piedade Marques em Fernando Ribeiro de Mello – editor contra, 2016), em que repega os argumentos já usados pelo autor de Comunidade, Cesariny perdeu os “tomates” e daí as suas pobres “avelãs”. Em virtude desta situação, a actividade surrealista em Portugal sofreu nova e fatal quebra. Depois do fim do quadrado mágico, da morte de António Maria Lisboa, da partida de Cruzeiro Seixas, da saída de Mário Henrique Leiria, do engavetado de Cesariny no Torel, está aqui o segundo momento trágico da história marítima do surrealismo em Portugal. A confusão, o pânico, a desconfiança, os ataques cruzados e suicidas que se instalaram com os processos judiciais de 1966 tornaram impossível qualquer trabalho comum. A revista “Abjecção” foi um dos derradeiros sinais, se não mesmo o último, do surrealismo em Portugal, pelo menos daquele que tinha no primeiro Cesariny, o que foi a Paris em 1947, um dos seus pilares. Com a revista tudo está ainda a avançar de forma activa e organizada. A repressão policial que pouco depois aconteceu teve porém o efeito dum terramoto de alta intensidade. Desmoronou as pontes que haviam ficado de pé depois do fim das reuniões do Café Gelo em 1962 e da partida de Cesariny para Paris no Inverno de 1964 e deu cabo da revista “Abjecção” que nunca chegou a fazer número de estreia, ao mesmo tempo que dispersava para sempre o seu grupo editor. Alguns dos seus membros que até aí tinham convivido dia a dia com agrado e entusiasmo nunca mais se viram, a não ser em tribunal, e nunca mais se falaram. Outros só de longe a longe se avistaram e sempre com reservas e desconfianças.
Cesariny chegou exausto ao Verão de 1968. Estava há mais de dois anos em Portugal e no meio do turbilhão de desavenças e de medos que a repressão policial levantara só houvera três momentos satisfatórios. O mais gratificante pelo que representou de abertura, o mais promissor em termos de futuro e de continuidade foi o contacto recebido dos surrealistas do Brasil, até aí desconhecidos, Sergio Lima, Leila Ferraz e Paulo António de Paranaguá, todos muito jovens e dispostos a fazerem-se movimento em São Paulo. Se pusermos de lado Simon Watson Taylor, o editor na década de 40 de Free Unions, estes contactos que aconteceram ao longo de 1967 e de 1968 foram os primeiros que o surrealismo português estabeleceu fora de portas. Os paulistas estavam em ligação directa com o grupo surrealista de Paris e contavam com este para uma exposição internacional em São Paulo, que fora ainda pensada em vida de André Breton e que acabou por ter lugar no segundo semestre de 1967 – a data do catálogo da exposição é de Agosto. Dispunham ainda de contactos com os surrealistas argentinos e estavam em diálogo com Aldo Pellegrini, nascido em 1903, residente em Buenos Aires, e que fora talvez o primeiro em 1926, na capital argentina, a tomar a iniciativa de fundar um grupo surrealista não francês. Devotara a vida ao surrealismo, organizara exposições, escrevera sobre pintura de vanguarda, tornara-se uma das referências internacionais do surrealismo. A mais completa e diversificada antologia do surrealismo mundial, embora sem a presença de portugueses, fora por ele publicada em 1962. Coube-lhe informar Sergio Lima da existência de actividades surrealistas em Portugal – Pellegrini estava porventura a par da correspondência que os portugueses trocaram em 1965 com Jean-Louis Bédouin – e pô-lo na pista de Cesariny, com quem o jovem conseguiu entrar em contacto e que coordenou a participação portuguesa na exposição e a colaboração no catálogo. Foram enviadas ilustrações de Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, Mário Henrique Leiria e João Rodrigues e poemas de Cruzeiro Seixas, António Maria Lisboa e António José Forte, todos eles reproduzidos no catálogo.
O segundo momento alto destes dois anos foi o trabalho feito no J.L.A., o jornal de Azevedo Martins. Esta publicação que o leitor já conhece – foi nela que teve lugar a troca de setas entre Gaspar Simões e Gastão Cruz a propósito do livro Planisfério e outros poemas – estivera suspensa entre Novembro de 1966 e Novembro de 1967, altura em que retomou como revista mensal e com Cesariny na redacção. Alguns dos números que então surgiram são quase por inteiro da sua responsabilidade, o que mostra da sua parte um volume de trabalho imenso neste jornal no período que vai de Novembro de 1967 até Julho do ano seguinte. Citem-se o de Dezembro de 1967, dedicado quase todo à Exposição Surrealista de São Paulo atrás referida, e o de Maio de 1968, feito em parte com os materiais dadaístas recolhidos em Londres – a capa deste número indica “número dedicado ao movimento dádá dádá dádá”. A publicação durou mais duma década, de 1961 a 1970, e tirou 277 números; o seu número mais rico é porventura este, o de Maio de 1968, quase todo da responsabilidade de Cesariny e que ainda merecerá atenção. O autor de Pena capital tocou na publicação todos os instrumentos e até a mais chã crítica de poesia chegou a fazer (n.º 261, Maio, 1968, p. 13), com nótulas sobre livros de António Porto-Além, António Lino Portugal e António Barahona da Fonseca nunca recolhidas e hoje ignoradas mas que têm o seu toque de graça e de invenção verbal, além dum juízo destemido a provar que no meu biografado havia um crítico superior. A par do trabalho que fazia no jornal de Azevedo Martins, e de que sempre se queixou do pago recebido, fez ainda uma tradução para a Editorial Estampa, fundada por Carlos Eurico da Costa e que ainda então estava na sua posse – pouco depois seria vendida a António Carlos Manso Pinheiro, que nela deixaria uma marca funda. Traduziu para a editora um livro, A subida de Hitler ao Poder – a imprensa e o nascimento duma ditadura, de Alfred Grosser que saiu em Junho de 1968 com prólogo do editor (assinado E.C.). É difícil aceitar que o meu biografado se tenha prestado a dar o nome para assinar a tradução sem a ter feito – o facto era comum à época e o próprio Cesariny o denunciou no panfleto de 1968 ao falar da tradução portuguesa de Sade (contratada com Herberto Helder mas feita por Calado Trindade, tradutor fantasma e “negro” na gíria da altura) – mas pode ter sucedido ser apenas seu o trabalho final de revisão. Nunca citou que se saiba a tradução em nenhuma bibliografia mas o seu nome consta da ficha técnica do livro.
O terceiro momento alto nestes dois anos portugueses foi o contacto feito em conjunto com Seixas com galerias portuenses, antes de mais a Divulgação e a Domingues Alvarez, esta com regência de Jaime Isidoro, junção feita por intermédio de João Pinto de Figueiredo, o coleccionador que abrira as portas da sua pinoteca para as reproduções da antologia da editora Ulisseia – A intervenção surrealista – e que estava muito bem relacionado no Porto com Jaime Isidoro. Os desenhos e as collages de Seixas começavam a ser cobiçados por coleccionadores e galeristas e já nessa época se podia prever uma pequena corrida doméstica a tudo o que fosse surrealismo em Portugal. Depois das exposições de 1967 na galeria da livraria Buchholz, a do meu biografado em Janeiro com a palestra sobre Vieira e uma boa recepção nos jornais e mais tarde a de Seixas, esta com um longo texto de Cesariny que foi editado em caderno pela editora Lux (1967), as principais colecções portuguesas de pintura davam mostras de se preocupar em ter o surrealismo português representado nos seus fundos e nas suas exposições.
Nada disto lhe chegou para o aguentar e lhe dar um grão de alegria para prosseguir. Envolvido nas disputas com Luiz Pacheco, Virgílio Martinho e Fernando Ribeiro de Mello, desavindo e desconfiado, com um processo judicial mais ou menos parado mas sempre vivo e ameaçador, teve vontade de voltar costas ao Tejo e regressar ao Tamisa ou ao Sena, onde deixara amigos como Alberto de Lacerda, Helder Macedo, João Cutileiro, Paula Rego, Luís Amorim de Sousa e Isabel Meyrelles. Via-se de regresso a Piccadilly Circus e ao tempo da Rua Walton – o mais exaltante da sua vida recente. Até a sua vida erótica no Cais do Sodré, o local que mais o entusiasmava na Lisboa de então, esteve neste período debaixo de apertos. Nunca deixou de frequentar os locais que bem conhecia, de ir esperar a vedeta que vinha do Alfeite ao fim da tarde com os marujos, de se enfiar com um deles num quarto ou numa pensão. Mas fê-lo com intranquilidade, sempre com a sensação que estava a ser vigiado e que a qualquer momento podia ser preso. Tinha o processo da antologia poética de Natália, sabia o seu nome associado a Luiz Pacheco e a Ribeiro de Mello, sabia ainda que as ameaças do Diário da Manhã eram para ser levadas muito a sério, e não fodia descansado. Eros era a sua razão de permanecer. Mesmo sob ameaça, ele continuava sempre “a dança do um”, mas tinha na cabeça vontade de se escapar para terra mais condizente com o exercício da sua liberdade e da sua vontade.
Fosse como fosse, não podia deixar Lisboa sem moeda sonora. Mesmo que um dos amigos do Tamisa o recebesse – e Londres era o seu destino preferido – e o seu endereço pudesse ser dado como local de residência, sabia que para obter um visto de entrada no país precisava de mostrar à nada meiga polícia fronteiriça, que três décadas antes não deixara passar um americano tão distinto como Henry Miller, uma pequena fortuna que não tinha. Ainda se candidatou a bolsa da Fundação Gulbenkian, que era sempre o recurso mais à mão. Apresentou um projecto para se reconverter à pintura depois de se ter dado à poesia. “Segundo a crítica especializada já toquei cumeadas no poema; pretendo agora tocar os mesmos cumes na pintura, para a qual me falta não vontade e disposição mas o apoio material que só a Fundação me pode dar” – disse ele por outras palavras no projecto que apresentou. O projecto, que lhe permitiria arranjar oficina e viajar para ver museus e galerias, foi metido a 30 de Março, tendo tido resposta negativa em 21 de Maio, em carta assinada por Maria do Carmo Marques da Silva (arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian, carta inédita). Razão da nega: só podia candidatar-se decorridos três anos sobre o fim da última bolsa. Ora com a prorrogação da bolsa Vieira da Silva em 1965, e com a mensalidade que ficara a receber no momento do seu regresso a Portugal, estava longe de cumprir o prazo regulamentar.
Como quer que seja, o estudo sobre Vieira da Silva continuava a obcecá-lo. Em Janeiro de 1967, fizera a palestra que o leitor já conhece e que estivera para ser apresentada numa sala da Fundação no Outono de 1966 e acabara depois por ter lugar na galeria da livraria Buchholz, na abertura duma exposição dele, a que a galeria juntou trabalhos de Seixas. Não dava porém por acabado o seu trabalho sobre Vieira da Silva, tanto mais que na palestra não tocara sequer ao de leve a pintura de Arpad e mantinha a ideia de escrever um livro sobre os dois, que ainda tentou esboçar no Inverno de 1968, ao mesmo tempo que se dedicava à publicação de Azevedo Martins (J.L.A.) e à tradução para a Estampa. Em Abril, apresentou mesmo um plano do livro à Fundação Calouste Gulbenkian – enviou cópia para Vieira Silva que está hoje publicada como anexo da carta de 7-4-1968 (Gatos comunicantes, 2008: 109). O trabalho no jornal e o fogo cruzado que se lhe seguiu, com os panfletos de Virgílio Martinho e Ribeiro de Mello e a nota crítica de Luiz Pacheco no Jornal de Notícias impediram qualquer seguimento sério e o trabalho foi de novo para a gaveta à espera de melhor ocasião.
Já que a resposta da Fundação Gulbenkian ao seu pedido fora um não redondo, ele decidiu recorrer de forma directa à sua mãe simbólica, Vieira da Silva, para se desembaraçar do problema que o afligia e o retinha em Lisboa – o metal sonante. Escreveu à pintora em Julho, confessando-lhe o estado de exaustão em que se encontrava, sem porém lhe adiantar razões, e estendendo-lhe a mão, a pedir ajuda: (Gatos comunicantes, 2008: 113): Sinto-me completamente esgotado, e esgotadas as reservas de oxigénio intelectual e físico que pude armazenar com os dois anos que consegui estar fora. O meu passaporte já vai fazer três anos de novo, sem um carimbo salvador para onde quer que seja! A exaustão da exaustão leva este gato vadio a pôr a pata no ar e, por uma vez na vida de um gato, a olhar insistentemente para si, como única chave de salvação. Sei que a Menez, também tomada de angústias, vendeu um guacho da Maria Helena, o que vai proporcionar-lhe uma saída daqui para fora. Seria tão grave para si como é para mim pedir-lhe que me enviasse, me desse, um guacho libertador, talvez por mais dois anos, talvez para sempre, desta morte no vácuo?
Cesariny tinha o descaro dum menino criado entre quatro mulheres. Era um raposinho azul cheio de encanto, muito bonito e muito garboso do seu charme, com ar inocente e um pêlo macio, a quem nada se negava. Tratou sempre Vieira como uma senhora mãe, a quem se pedia perdão de rabinho entre as pernas – foi o que fez após Fresnes – e se miava a pedir ajuda, como agora fazia. E quando ele queria, o seu miado era de partir o coração mais duro. Vieira, que não tinha filhos e só dava carinho a Arpad e aos gatos, que o admirava muito como poeta, respondeu-lhe de imediato que sim e que o guacho seguia em Agosto por um portador seu de confiança, Manuel Cargaleiro. Cesariny agradeceu-lhe por carta a 4 de Agosto e em Setembro, altura em que Salazar em Lisboa era substituído por Marcello Caetano, já estava de novo em Londres, para demorada estadia. Na última entrevista, 38 anos após o sucesso, recordava assim a oferta de Vieira (O Sol, 7-10-2006): A Vieira da Silva, através do Manuel Cargaleiro, deu-me um quadro dela, muito bonito. Eu só pedia dinheiro para a passagem, mas aquilo rendeu imensa massa, que eu fui conspicuamente gastar lá para fora.
O dinheiro recebido pela venda do guacho de Vieira, hoje impossível quantificar, permitiu-lhe tratar dos assuntos relacionados com a viagem – comprar bilhete, embarcar e obter um visto de permanência pela polícia. Chega o visto policial para se ajuizar da importância do valor. Não se atreveu porém a ficar instalado num hotel, onde depressa o dinheiro levava sumiço, e recorreu a Helder Macedo, que acabara de mudar de casa na mesma Avenida Fitzjohn onde vivia, trocando um minúsculo apartamento por outro mais folgado. Escreveu-lhe e pediu-lhe tecto, ao que Macedo respondeu que sim, que o instalava na sua biblioteca, mas que iria receber em breve Menez, pelo que teriam mais tarde de encontrar solução. Como Dácio, Macedo era um rapaz que fizera o Café Gelo e que tinha alta estima pelo poeta de Pena capital, embora a sua ligação ao surrealismo fosse muito mais distante. Na mesma época Jorge de Sena escreveu para a Avenida Fitzjohn, dizendo que chegava a Londres no mesmo dia do poeta de Corpo visível – este de comboio e aquele de avião –, isto sem que nenhum dos dois soubesse do outro. O facto de Cesariny chegar a Londres de comboio dá a entender que antes de chegar ao Tamisa esteve em Paris – o que Macedo confirma –, decerto de visita a Isabel Meyrelles e a Vieira, a quem tinha a agradecer o valioso guacho. De Paris seguiu para Calais e de Calais no barco para Dover, onde apanhou o comboio para Londres – o mesmo percurso que fez com certeza em Junho de 1964, quando lá foi a primeira vez estar com Lacerda e em Novembro do mesmo ano depois de sair de Fresnes e ser obrigado a deixar a França por força de passaporte inválido. Ao que o anfitrião conta, a coincidência da chegada de ambos foi tanta que foi necessário o casal Macedo dividir-se – um para ir ao aeroporto, daí encaminhando Sena para o quarto de hotel que lhe haviam reservado para os lados da universidade, e outro à estação de comboios, no centro de Londres, para recolher o poeta do Gelo. Coube a Suzette Macedo ir esperar este, que muito se espantou e desagradou quando soube que o marido fora receber e encaminhar o poeta de Coroa da terra. Logo ali exclamou a sua amargura e amuo (Relâmpago, n.º 26, 2010: 145): “Pois é, o seu marido… preferiu o Sena a mim.”
Jorge de Sena era um dos horrores de Cesariny. Talvez o mal-estar entre os dois não tivesse atingido ainda nessa época o clímax – esse ponto só chegou com o prefácio de Sena à tradução portuguesa dos textos teóricos de André Breton, em Setembro de 1969, a que o autor d’A intervenção surrealista respondeu com um longo texto, “Na publicação portuguesa dos “Manifestos do Surrealismo” de André Breton” (A Capital, 29-10-1969 e 5-11-1969; que depois na primeira edição de As mãos na água…intitulou “Contra o prefácio de J. de Sena”) – mas tinha já várias décadas de vida e momentos de grande tensão. Ao menos de forma visível, tudo começara no início do ano de 1949 com os artigos que Sena publicara na Seara Nova (2-4-49 a 2-7-49) sobre surrealismo, centrando a sua atenção nas acções do G.S.L. e nos cadernos que este começara a publicar. No derradeiro texto, “Surrealismo III (conclusão, tendo em apêndice uma ode absolutamente surrealista e adequada às circunstâncias)”, colocava-se a si mesmo como precursor deles. Os textos geraram uma onda de indignação junto do grupo “Os Surrealistas”, o que levou por exemplo António Maria Lisboa a abrir a sessão de 6-5-1949 da Casa do Alentejo com a leitura da sua resposta ao primeiro destes textos, “Esclarecimento a um crítico”, e que a revista de Câmara Reys não publicou.
O mal-estar entre Cesariny e Sena subiu de tom 10 anos depois com a publicação da 3.ª série das Líricas portuguesas (1958), com organização e selecção de Jorge de Sena. Cesariny escreveu ao organizador, recusando participar (in A intervenção surrealista, 1997: 80): Meu caro Jorge de Sena: Recebida a sua carta circular onde me anuncia estar eu incluído no terceiro volume das Líricas Portuguesas por si, Jorge de Sena, organizado, mas ainda, felizmente, em preparação, venho dizer-lhe que será do meu total desagrado a efectivação de tal anúncio, pelo que muito lhe peço e recomendo me não faça participar do novo ramalhete dos talentos. Recomendava ainda a não inclusão de António Maria Lisboa. Os dois acabaram incluídos, o que levou a corrosivo comentário na colectânea A intervenção surrealista: “J. de S. não só incluiu os poetas em questão como lhes estabelece fichas biobibliográficas tão retorcidas como a cabeça dele”, que terá desagradado sumamente a Sena, já então crismado pelo meu biografado “o rato de Wisconsin”, como na década seguinte baptizará Luiz Pacheco “campista escritor” e será em troca cognominado por este “o escalope congelado”, “o filho da Escalona”, “Cesariny I, o Esfrangalhador de Portugal ou do Freixial” e outros mimos verbais em que ele levava a palma a qualquer.
Estavam as coisas neste pé – A intervenção surrealista acabara de sair no Verão de 1966 –, quando se deu a coincidência da chegada de ambos a Londres na mesma altura e a circunstância de Helder Macedo não ter ido à estação de comboios para poder estar no mesmo momento a recolher Sena no aeroporto, o que motivou o desabafo de Cesariny com Suzette Macedo. O casal convidou depois disso o autor de Perseguição a jantar lá em casa – nessa noite Cesariny preferiu comer fora mas no regresso ainda se cruzou com Sena que se atrasou talvez por pirraça –, o que acabou por azedar a relação de Cesariny com o anfitrião, que mais tarde confessou que o seu hóspede nunca lhe perdoou a amizade com Sena e o castigou com reservas e meias-palavras. Só quem conviveu com Cesariny sabe o peso esmagador dos seus silêncios. Deixavam uma impressão próxima do pavor. Eu ainda recordo com mal-estar um olhar que ele um dia me deitou sem nada me dizer no recanto escuro e vazio duma livraria. Às vezes o silêncio é mais eficaz que um insulto e mais perfurante que bala. Que o digam os poetas feridos até ao sangue na sua vontade de brilhar e de chamar sobre si a luz dos holofotes!
A relação entre Cesariny e Macedo nunca mais voltou a ser a mesma – haviam sido próximos na época do Café Gelo e o meu biografado chegou a incluir um poema de Macedo numa folha que antecipou no J.L.A. (17-1-1962) a antologia Surreal/Abjeccion-ismo – e pouco se viram depois deste desencontro. A amizade que havia entre Helder Macedo e João Vieira e o ressentimento amargo com que este sempre falou aos amigos do período que passara com Cesariny em casa de Dácio também não ajudaram a estabilizar a situação na Avenida Fitzjohn.
A estadia com o casal Macedo durou se tanto uma semana a dez dias. Tanto Helder como Suzette saiam de manhã e só voltavam ao fim da tarde. Cesariny ficava em casa a fazer horas para as suas visitas, sozinho ou na companhia da mulher que fazia a limpeza do apartamento, uma portuguesa chamada Esmeralda, com uma história rocambolesca, que ele contou logo depois numa “carta de Londres” publicada pelo jornal A Capital (8-1-1969) e está hoje recolhida no livro As mãos na água…. Menez estava a chegar, o mal-estar criado pela estadia de Sena pesava no ar, as amarguras de João Vieira ondulavam por ali, sentiam-se reservas e pragas de parte a parte. Por isso Macedo telefonou a um amigo, Luís Amorim de Sousa, a pedir-lhe que recebesse o autor de Pena capital – pedido discreto e relativo apenas a um fim-de-semana. Amorim de Sousa mudara-se há pouco com a família para um apartamento espaçoso e sossegado na entrada de Hampstead Heath – onde ainda hoje vive a pintora Paula Rego. Num edifício chamado “The Priors”, a casa tinha as janelas voltadas às faias e aos castanheiros do parque de Hampstead. Vivia em Londres desde o início da década de 60, e conhecera Cesariny logo na primeira visita que este fizera a Londres em Junho de 1964. Como era admirador de longa data da sua poesia e tinha um pequeno estúdio reservado em casa, que lhe servia de biblioteca e onde podia instalar um divã, aceitou de boa vontade. As razões que lhe ficaram na memória para a visita foram o choque com Sena e a necessidade de Macedo ficar disponível. Cesariny bateu-lhe à porta no dia seguinte ao telefonema. Trazia como bagagem uma maleta e pouco mais. Gostou do retiro que Amorim de Sousa e Sally lhe deram. Tinha sossego, livros à disposição e o mistério silencioso do amplo parque, onde nas árvores por entre a folhagem do fim do Verão parecia ver os esquilos que corriam. As crianças – os dois rapazes, João e Tom, que então tinham cinco e quatro anos, já que a menina, Sophia, nascida já depois da chegada aos Priors, era bebé de poucos meses – simpatizaram de imediato com ele. Fizeram questão de lhe trazer ao quarto um prato com bolachas e um urso de peluche para ele se sentir confortado e acompanhado. Este urso de peluche é bem simbólico. Na verdade era mais do que um peluche; era um totem de família que ali o vinha receber. A solerte raposinha da Rua Basílio Teles caía agora sob a alçada e a protecção do grande e pacífico urso de pêlo castanho.
O português que vinha passar o fim-de-semana aos Priors acabou por ficar mais de três meses. Chegou em Setembro, com o esplêndido brilho de oiro do final do Verão e partiu com a nudez do Inverno. A 13 de Setembro – escreveu nesse dia para Seixas em Lisboa de casa do casal Macedo – já ele estava em Londres instalado na Avenida Fitzjohn e não esteve lá muito mais por causa dos azedos com Sena. Por altura do equinócio, que nesse ano foi num fim-de-semana, já fora para o andar de Hampstead Heath. Só saiu em Dezembro, já com o Inverno à porta. Amorim de Sousa declarou muitos anos depois que Cesariny foi “um hóspede fácil e discreto”. Colaborava em todas as despesas e fazia questão em pagar à risca o que lhe dizia respeito. Manteve-se afastado da vida da família sem nunca ser indiferente. Era meigo e paciente com as duas crianças mais velhas – ensinava-lhes palavras em português que repetia com elas – e nunca se queixava. Criava boa disposição e acabou por se tornar um ponto fixo da casa, a que todos se habituaram. Por seu lado, Amorim de Sousa era um anfitrião delicado e atencioso, que nunca mostrou o menor aborrecimento pelo seu hóspede se ter instalado de pedra e cal em sua casa, junto da sua família. Já não sei como nem porquê, encontrei este homem em Cascais, na altura em que ele andava a escrever ou a rever para edição as suas memórias de Londres, e o efeito que me fez foi o da luz doce dos trópicos. Bem-educado, elegante, tímido mas imponente – um marajá doce e calado, de bigode de seda, incapaz de levantar a voz fosse a quem fosse, menos ainda a um peluche discreto e atrevido em forma de raposa azul que era o que o meu biografado então era.
Para Cesariny foi um período de recolhimento e trabalho, que coincidiu com a chegada da chuva, do frio e dos dias curtos e sem sol. Em Londres o Inverno chega sem se dar por isso. De repente, sem se perceber como nem porquê, há um dia em que não amanhece e a luz crua e fria flutua, parada, mortiça, como um farol ao longe, mergulhado na névoa. A multidão na rua é uma mole escura, terrosa e fugidia, à procura dum interior aquecido e iluminado. Isso obrigou-o a distanciar-se de Portugal e das lutas em que se vira envolvido nessa Primavera e que o deixaram à beira da exaustão. As notícias de Portugal eram as melhores dos últimos anos. O afastamento de Salazar do governo era uma óptima notícia, para celebrar e brindar com euforia. Há 40 anos que nada de tão promissor ocorria em Portugal. Podia até ser que o processo judicial instaurado à antologia de Natália caísse sem ir a tribunal. Esperava-se alguma mudança positiva e uma maior abertura da censura oficial. Sobre o modo de vida do poeta português neste período, Luís Amorim de Sousa deixou este testemunho (Relâmpago, n.º 26, 2010: 154-55): Contrariamente à ideia do boémio e do libertino, o poeta que veio ficar a minha casa era um homem de trabalho. Saía todos os dias, mas voltava sempre a horas, e trabalhava pela noite fora. Não via televisão, esforçava-se por ler livros em inglês e emergia com frequência empunhando um dicionário e a perguntar se não havia outra maneira de dizer isto ou aquilo. Levantava-se de manhã, saía para as galerias e os museus, às vezes para algum encontro erótico, mas estava de regresso à tarde, muitas vezes logo após o almoço, para se dedicar à leitura e à escrita, que levava pela noite dentro, com os mistérios e os ruídos do parque de Hampstead do lado de fora da janela. Num outro testemunho o seu anfitrião deixou este retrato flagrante sobre o momento do seu acordar (Londres e companhia, 2004: 211): Pela manhã emergia envergando um sobretudo militar que alguém lhe tinha oferecido e usava como roupão, e vinha debruçar-se sobre o carrinho onde a Sophia dormia, de barriga para baixo. Espreitava para o carrinho e exclamava: extraordinário! O extraordinário referia-se à serenidade absoluta da criança.
Retomou nesta época as traduções de Rimbaud, que ficaram então quase fechadas, e trabalhou nos versos que vieram depois a ser os “poemas de Londres”. Se bem que nenhum dos poemas indique como lugar de feitura Hampstead – dos dez “poemas de Londres”, sete indicam a Rua Walton como ponto de origem e outros três Chelsea – foi no estúdio de Amorim de Sousa que ele lhes deu forma (quase) definitiva. Associou a cada um dos poemas o local em que a primeira versão brotou mas o resultado final de cada um deles ficou a muita distância dessa primeira erupção. Na maior parte das vezes o poema não lhe aparecia feito mas apenas em esboço. Não se tratava tanto de o trabalhar mas de o arrancar aos poucos à névoa da alma em que se encobria. Conhece-se a primeira versão dum dos “poemas de Londres” – “Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva”. Na sua versão inicial, escrita em papel de pauta musical, com título “Ode a Maria Helena Vieira da Silva”, tem 65 versos; a versão publicada em 1971, no livro 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão…, onde publicou pela primeira vez os poemas de Londres, tem 113, sem contar os dois longos trechos em prosa copiados de livro de Mircea Eliade, que descobriu talvez na biblioteca de Dácio, já depois de escrita a primeira versão. Tudo leva a crer que a versão definitiva da “ode” foi obtida no estúdio de Hampstead, já que depois fez questão de enviar ao anfitrião provas dactilografadas desse mesmo poema emendadas pelo seu punho. O caso deste poema é porém extremo. Nem sempre as alterações eram tantas e por exemplo o soneto feito em Londres na Primavera de 1965, “Outra coisa”, que enviou no final do Verão a Natália Correia e apareceu no Outono na Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica, apareceu quase igual na versão definitiva do livro de 1971.
Na tábua biográfica que mais tarde montou (Mário Cesariny, 1977: 43-60), Cesariny indica ainda para esse Outono o início da sua troca de cartas com o poeta mexicano Octávio Paz, com quem se veio a encontrar mais tarde, em 1974, no Festival Internacional de Poesia de Roterdão, e depois no México, em 1976, e cujo contacto lhe foi dado por Alberto de Lacerda, que tinha sempre modo de conhecer e de se tornar próximo e indispensável a todos os ilustres que passavam por Londres e por Paris. O seu anfitrião de então, Luís Amorim de Sousa, confirmou a troca de cartas com Octávio Paz (Relâmpago, n.º 26, 2010: 154): Andava a escrever os seus Poemas de Londres, e sempre às voltas com as traduções de Rimbaud. Além disso, também escrevia cartas. Sei que um dos destinatários era, então, Octávio Paz. Outro correspondente da época é D’Assumpção, que estava então na Alemanha e que ele conhecera ainda na gloriosa época de “Os Surrealistas” e com quem depois convivera no Café Gelo. Já depois da morte do pintor, Cesariny confessou que trocou com ele por esta época correspondência (A Capital, 11-3-1970): No ano passado, eu em Londres, recebi vários bilhetes-postais de D’Assumpção, com belas ilustrações de arte nova de um lado, e palavras amigas, sempre lacónicas, do outro. Eu respondia com cartas onde dizia do meu muito medo de ir parar à Alemanha, e incitava Elisa e Manuel D’Assumpção a que tentassem uma estadia em Londres.
A propósito da correspondência postal do meu biografado, Luís Amorim de Sousa, num depoimento que me deu, diz que o Mário nunca recorria ao telefone. “Nunca chegavam telefonemas para o Mário” – diz ele. Chegou a corresponder-se por carta postal com Lacerda que vivia na mesma cidade. Passava dias inteiros a tratar da correspondência. Na sua primeira estadia londrina, as cartas em francês a Jean-Louis Bédouin demoraram decerto vários dias a compor e a passar a limpo. O mesmo para algumas das que então enviou a Vieira, Guy Weelen, Seixas e Pacheco. Escrever longas cartas, que funcionavam como jogos de criação, páginas autobiográficas e lugar solto de ensaística, foi hábito que perdurou ao longo da sua vida e manteve-o até poder escrever. Só quando a doença lhe impediu de firmar a caneta no papel é que ele desistiu das longas cartas. Gostava de se sentar à mesa e escrever longos monólogos, às vezes em directo na sua pequena máquina de escrever portátil, que refractavam as suas leituras e as suas aflições de momento. Os epistolários dele que têm aparecido, e copiosos são, mostram bem o interesse que ele punha no correio postal – embora algures tenha dito por graça ou por desquite que não valia a pena gastar trocos em estampilhas postais.
Esse período foi ainda decisivo para a evolução da sua pintura. Já se sabe que no primeiro semestre desse ano ele chegou a meter um projecto na Fundação Gulbenkian para se reconverter em pintor – alugar oficina, comprar materiais, ver exposições. Não pôde então alugar ateliê, mas viu muitas exposições e continuou a frequentar os museus, hábito que tivera no momento da sua primeira estadia e que era de resto comum ao pequeno grupo de portugueses que frequentava, todo ele muito interessado nas artes plásticas. Esteve na Royal Academy a ver a Exposição Bahaus, que teve lugar em Setembro/Outubro de 1968 e dela deixou relato escrito no jornal A Capital (29-1-1969). Viu no final de Dezembro uma exposição de arte hindu no “Victoria and Albert Museum”, de que deixou curta indicação na “carta de Londres” onde falou das atribulações da empregada portuguesa do casal Macedo. No mesmo lugar viu uma exposição dedicada ao livro como arte gráfica, onde teve a satisfação de dar com um exemplar manufacturado de Lourdes Castro, acabado de adquirir. Esteve no Instituto das Artes Contemporâneas – e por repetidas vezes – a ver uma exposição sobre Apollinaire, exposição que teve organização de Roland Penrose e abriu no momento em que passava o cinquentenário da morte do poeta, Novembro de 1968, na nova sede do Instituto em Pall Mall. Também esta exposição lhe deu nova “carta de Londres” publicada n’ A Capital e depois recolhida no livro As mãos na água… (1972). Muitas destas visitas foram feitas na companhia de Alberto de Lacerda, que, deixando de lado a excepção absoluta que Dácio se mostrou em tudo, foi a sua mais próxima companhia de Londres. Tirando Lacerda e Amorim de Sousa, só mesmo Paula Rego gozou na cidade de tão duradouro favor do meu biografado. Este convívio acabou por se mostrar decisivo à evolução da sua pintura e à confirmação daquela linha cromática que a caracterizará e que antes de se manifestar em plenitude na tela e na matéria, antes de ser a “linha de água” da maturidade do pintor, foi captada dentro dele como um traço distintivo do espírito. Mens agitat molem foi o princípio actuante tanto do seu sinal verbal como do pictórico.
Além dos museus e das galerias, houve também neste período atenção ao teatro, à música, ao cinema. Ouviu concertos de Richter e de John Cage – este passara em Lisboa em Outubro de 1967 e jantara com Cesariny, Dácio, Manuel de Lima e outros (fotografia no J.L.A. (n.º 257, Nov., 1967: 29) – e viu teatro em Piccadilly, muitas vezes a convite de Alberto de Lacerda, que tinha com frequência bilhetes para dar. Já na primeira estadia havia sido assim e numa carta a Cruzeiro Seixas diz (11-2-1966; Cartas de M. C. para C. S., 2014: 256): Hoje, daqui a pouco, consola-te, vou ver o Hamlet pela melhor companhia do mundo – a que fez o Marat-Sade. Devo o bilhete ao Alberto de Lacerda, o bilhete e mais duas ou três amabilidades grandes (…).
O trabalho a que por então se entregou não significa que o centro da sua vida não fosse Eros – o Eros dos encontros clandestinos nos mais esconsos e escondidos dos lugares, o Eros do prazer proibido e do perigo. Visitava exposições, frequentava os mais selectos espectáculos de teatro, regressava cedo a casa, lia livros e jornais, escrevia e traduzia poemas, dava-se com portugueses versados em pintura, mas era a transgressão erótica que lhe alimentava a alma e constituía a grande razão para prosseguir na vida. Desde a primeira estadia na cidade que possuía uma rede de contactos no meio homossexual londrino. O parlamento entretanto descriminalizara a homossexualidade mas isso, se lhe pareceu justo e acertado, embora tardio, não o deixou entusiasmado. A desconfiança para com o movimento gay data deste momento em que os homossexuais apareceram em público a exigir mais direitos. O que o exaltava no amor era o perigo, a transgressão, não a acomodação a uma rotina – menos ainda a fiel reprodução da relação monogâmica entre homem e mulher tal como a sociedade patriarcal a instituíra. Não aceitava esse mimetismo, que tomava por uma das piores burlas de sempre – a falsificação da verdade da homossexualidade, para ele a mais revolucionária e comprometedora das recusas: a do homem pai. Quando o movimento gay se institucionalizou no Ocidente e o casamento homossexual foi reconhecido, ele manifestou o seu desagrado crítico. Em entrevista final castigou assim o assunto (Público, 1-12-2004): “Gay” é uma palavra horrível. Ninguém é mais triste do que alguns homossexuais que conheci. Se não se importa, passo a usar a palavra na terceira pessoa do plural. Eles querem mais direitos e dizem muitas vezes uma coisa que não é verdade: que são casais iguais aos outros. Está-se mesmo a ver que não são.
Uma tarde, no momento do regresso aos Priors, comunicou que tinha encontrado uma casa, na Rua Sidney, em Chelsea, uma zona histórica e sossegada do sudoeste londrino, com alguma boémia artística. Ia-se mudar. Alberto de Lacerda, a quem o casal real daria se preciso fosse a chave do palácio de Buckingham, nada teve a ver aqui com o assunto. O dono da casa era um rapaz português, hospedeiro da TAP, que Cesariny conhecia de Lisboa, chamado José – e que de resto também conhecia Luís Amorim de Sousa, pois era filho duns vizinhos dos tios deste que viviam no bairro da Estrela, em Lisboa. Ia estar ausente um tempo e não se importava de lhe deixar a casa ao cuidado. De resto, nas suas ausências frequentes tinha por hábito entregar a casa a amigos e Ana Hatherly, que por lá passara uma temporada, estava agora de partida. No dia em que o seu hóspede anunciou a saída, Luís Amorim de Sousa recebeu os primeiros exemplares do seu primeiro livro de poemas, Signo da balança, editado por Mello e Castro na colecção Pedras Brancas. Ele e Sally decidiram dar nessa noite um jantar a comemorar a saída do livro, a que associaram também a despedida ao seu hóspede. Estiveram presentes dois casais – Helder e Suzette Macedo e Bartolomeu e Susan dos Santos. Este mudar-se-ia pouco depois para o andar de cima. Foi uma longa noite de conversa e leituras. No dia seguinte, antes da saída, Cesariny fez um pedido ao seu anfitrião. Amorim de Sousa conta assim o caso (idem, 2010: 155): Enquanto reunia os seus pertences no quarto onde se instalara, chamou-me e perguntou-me: “Posso levar o juiz?” A pergunta surpreendeu-me. “O juiz? Mas que juiz?” Pensei em Juiz de Fora e no poeta Murilo Mendes, que eu sabia que o Mário admirava. Havia livros dele nas estantes. Mas não se tratava disso. O juiz em causa era uma colagem minha. Uma coisinha de nada que eu tinha resolvido emoldurar. Tratava-se da cabeça de um juiz, de cabeleira empoada e vestes a condizer, cujo rosto era formado pelas cabeças rotativas de uma máquina de barbear. O Mário tinha-se habituado à presença do juiz e quis levá-lo consigo. (…) Disse-lhe logo que sim, que tinha muito gosto em lhe oferecer a colagem.
E despediram-se com um abraço. A relação entre os dois manteve-se boa e o poeta de Pena capital nunca deixou de reconhecer o que devia ao seu anfitrião de Hampstead. No Verão seguinte, quando Luís, Sally e os filhos foram de férias a Portugal e passaram uma temporada com João Cutileiro em Lagos, Cesariny em Lisboa convidou-os para jantar, levou-os depois à Rua Basílio Teles, onde os apresentou à mãe e lhes ofereceu uma pintura sua e um livro artesanal, Pastoral – evangelho em 1 prólogo e 3 quadros, que foi depois reproduzido em número da revista Relâmpago (n.º 26, 2010: 11-29).
A instalação em Chelsea ocorreu antes do Natal. Conhece-se carta de Cesariny escrita para Portugal a 27 de Dezembro já da Rua Sidney – carta escrita para a Casa de Pascoaes e que publiquei (Cartas para a Casa de P., 2012: 33). A Rua Sidney era uma rua tranquila, residencial, com prédios baixos e árvores nos passeios. Aí passou as festas de final de ano e aí decidiu visitar Bruno da Ponte que acabara de deixar Lisboa, para se juntar à família, em Edimburgo, passando primeiro por Londres. Bruno da Ponte editara-lhe dois livros, Um auto para Jerusalém e Surreal/Abjeccion-ismo, estivera para lhe editar terceiro, A intervenção surrealista, e recebera-o na redacção do J.L.A., quando este reapareceu como revista em Novembro de 1967. Da visita a Edimburgo ficou um postal para João Vasconcelos, da Casa de Pascoaes, sem data, onde no esborratado carimbo se consegue ler o ano de 1969 e o nome da cidade escocesa. O postal apresenta no verso a imagem da casa de John Knox, o que prova que na Escócia andou de novo metido em arqueologias de história e de arte. Bruno da Ponte instalara-se então com a família numa espaçosa e velha casa em Haymarket, muito perto da principal artéria do centro da cidade, a Rua Princes. Num testemunho que me deu foi incapaz de precisar os dias em que ocorreu a visita, datando-a do Inverno de 1969 – mas pelas cartas (inéditas) que o meu biografado então escreveu para Ana Hatherly, que se cruzara ainda com ele na casa da Rua Sidney, sabe-se que a viagem à Escócia ocorreu entre 19 e 27 de Janeiro. O antigo editor lembra-se de frequentar na sua companhia museus e exposições. Outra recordação marcante é a relação com o piano que existia na velha casa e onde ele interpretava muitas vezes uma parte do reportório que conhecia e que era com certeza ainda o que estudara com Lopes Graça – com quem de resto se encontrou em Londres nos tempos da Rua Walton sem que daí nada resultasse, a não ser uma alusão homossexual e simpática em carta para Pacheco (Pacheco versus Cesariny, 1974: 199). Da sua estadia em Edimburgo ficaram fotografias, uma delas num museu, outra numa igreja, outra ainda num pronto-a-vestir barato a comprar calças de fabrico em série – ele que se vestia então em Londres com roupa tão pindérica que parecia roubada a um romance de Dickens –, fotografias que permaneceram até hoje inéditas. Numa parece que lhe vejo os buracos das solas duns sapatinhos lisboetas miseráveis, a condizer muito bem com o capote militar de cotim em segunda ou terceira mão que o seu anfitrião de Hampstead todos os dias de manhã lhe via por cima dos ombros a fazer de roupão.
O período de Chelsa, que durou até à Primavera, foi de intenso trabalho no domínio da pintura. Recolhera muitos elementos teóricos e visuais nas visitas que fizera a exposições, anotara ideias, indagara dentro de si uma linha cromática e debatera questões críticas nas conversas que tivera com os conhecidos, antes de mais Paula Rego, que ele apreciava como pessoa e como pintora. Logo na primeira estadia não lhe poupou elogios. Numa carta a Seixas diz (13-12-1965, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 252): Vai aí expor uma Paula Rego. Vai ver, falar, se puderes. Esta a pintora de que falava há tempo. Julgo-a abjeccionista, na obra e na vida, mas, fora os indícios que vi bons, nada acertei ao certo. Vai lá com a Natália, para exemplo. A Paula diz que não conhece aí ninguém, introduzi-la-ias no salão doirado. Segue com o marido, de nome Vic, que se suicidou em pintura, depois de, dizem aqui, ter dado provas não se diz de génio mas muito espantosas. Impermeável, infelizmente, aos encantos masculinos da arte, parece que põe a Paula no estado de transe que ela mesma já é (…). O apartamento da Rua Sidney ofereceu-lhe as condições para se dedicar à pintura. Não o partilhava, tinha espaço, boa luz e arejamento. Outro ponto que favoreceu o trabalho das tintas foi o adiantamento dado em casa de Amorim de Sousa às traduções das “Iluminações” de Rimbaud e aos “poemas de Londres”. Foi porém em Chelsea que concluiu estes. O poema final do conjunto traz como local de composição a Rua Sidney – mas esse chama-se “Atelier” e pode ser lido à luz das tintas com que então lidou. Também a relação próxima que manteve com Jasmim de Matos, um jovem refractário português que trabalhava num restaurante e cuja paixão era a pintura, estimulou a ligação às telas – que nunca houve, assim me garantiu Luís Amorim de Sousa, nos Priors. Basta ver uma fotografia deste Jasmim para se perceber que se tratava dum felino africano, doce e distendido, cheio daquela malícia que tinha tudo para agradar Cesariny – que só de gato para baixo é que era. Ora Jasmim era o diálogo intenso com a pintura, como Lacerda e Amorim de Sousa eram o da poesia. Há notícia de várias pinturas deste período – o D.L. (26-5-1969) fala pelo menos em seis –, uma delas, “Maria Helena Vieira da Silva”, com registo em várias cartas da época. À homenageada contou assim a história do quadro (26-5-1969, Gatos comunicantes, 2008: 118): Eu estava, e estou, muito contente porque uma vez em Londres, eu a pintar, a Vieira da Silva apareceu no meu quadro, mais, muito melhor porque não foi de propósito, a Maria Helena tomou o quadro todo, e ficou seu. Chamei-lhe, portanto, Maria Helena Vieira da Silva, como se chamava no tempo em que se faziam retratos de pintura (…).
Nesta carta confirma-se a informação de Amorim de Sousa sobre a vida de trabalho que o seu hóspede então fez em Londres: (idem, 2008:119): A bolsa Gulbenkian, que tive há quatro anos, aproveitei-a sobretudo para passear. (…) Com a “bolsa” Vieira da Silva – o seu quadro – o resultado teria de ser bem diverso, e foi-o. Trabalhei a sério, ainda que não possa dizer-lhe, em absoluto, em quê. Os quadros pintados e os poemas escritos são uma coisificação que não diz tudo, diz quase nada, do “exercício espiritual” deste meu inverno em Londres. Sei apenas que foi muito importante, que ficou comigo.
Cesariny regressou a Lisboa no final do Inverno, em Março, e caiu logo de cama com febre, fraqueza e vómitos. Havia nessa altura uma epidemia de influenza a grassar em Lisboa, conhecida como gripe de Hong-Kong, e ele, acabado de chegar dum longo e penoso Inverno nórdico que começara muitos meses antes, em Hampstead, foi contagiado. Mal vestido, mal calçado e mal comido em grande parte do tempo que passou em Londres, foi incapaz de se defender da epidemia. Escapara a um ataque de nervos na Primavera de 1968, de que ficou o tremor de terra contra a “Luisona”, mas não fugiu às febres da Primavera seguinte. Tratado pela mãe e pela irmã, ficou de cama vários dias, o que foi uma forma pouco cómoda mas muito íntima de reencontrar o seu quarto de adolescente da Rua Basílio Teles, com os ruídos familiares do bairro, as vozes dos restaurantes e das vendas de fruta, os eléctricos na Palhavã e as obras de demolição e reconstrução que aos poucos estavam a mudar o semblante da via que ligava a Praça de Espanha a Sete Rios, a Avenida Columbano Bordalo Pinheiro. Deixou registo escrito da maleita numa crónica que escreveu ainda de cama para o jornal A Capital (2-4-1969), “Gripe, mau-olhado, grupo, etc.”, em que fala da gripe que veio apanhar a Lisboa e alude a Jasmim de Matos e à sua “arte louca e jovem”. Também numa carta para João Vasconcelos da mesma época se encontra registo desta mesma crise que o abalou e levou à cama. Eu ainda não me sinto suficientemente afinado para escalar a montanha onde vive o vosso abraço (Cartas a Casa de P., 2012: 34). A carta datada de 3 de Abril permite considerar que estando nessa altura a começar a convalescença, ainda sem poder largar de casa, o regresso a Portugal se tenha dado bem antes do equinócio da Primavera.
A missiva tem ainda grande interesse para se conhecerem os seus planos no período que se seguiu à chegada a Portugal, depois de meio ano de Londres. O assunto que está em causa é um quadro seu, na posse de João e Maria Amélia Vasconcelos, proprietários da Casa de Pascoaes, na freguesia de Gatão, Amarante. Esse quadro fora adquirido na época em que Cesariny expusera com Seixas no Porto, na galeria Divulgação, em 1967, numa época em que os dois tentavam começar a dar visibilidade ao seu trabalho plástico com boa recepção dos galeristas. Precisava agora dele e pedira a Isabel Meyrelles, então em Portugal, que passasse por Amarante para o recuperar. Fritzi engripou-se no caminho e já não se deslocou à vila de São Gonçalo, ficando no Porto ao cuidado de familiares. Cesariny escreveu então a carta de 3 de Abril, pedindo a João Vasconcelos que lhe mandasse o quadro por correio postal, não para o endereço da Palhavã mas para a galeria S. Mamede, em Lisboa, na Rua da Escola Politécnica, já a caminho do Largo do Rato. É esta a primeira referência à galeria fundada em 1967 por um comerciante de arte, Francisco Pereira Coutinho, e que virá a ter um papel decisivo na vida do meu biografado ao longo dum lustro, dando-lhe pela primeira vez algum desafogo financeiro e a ilusão, se é que a teve ou se libertou dela alguma vez, de que nunca mais voltaria a ser pobre.
Como assim a galeria S. Mamede? No momento da fundação da galeria, Seixas estava em Lisboa, desempregado e com os pais a cargo – só o pai, o senhor Lutero, tinha uma pequena reforma de empregado dos caminhos-de-ferro. Pediu então a Manuel Vinhas, o comprador em Luanda da sua colecção de arte negra, que lhe arranjasse emprego e o empresário, sabedor das exposições que Seixas fizera em Angola, recomendou-o a Francisco Pereira Coutinho, a quem comprava quadros. Este deu-lhe um serviço de secretaria na nova galeria, cujo director de arte era José-Augusto França. Seixas em conversa comigo caracterizou o emprego como de manga-de-alpaca. As saídas de França, os livros e os artigos que tinha para escrever, as palestras e as reuniões permanentes obrigavam-no a grandes ausências e em vários meses organizou uma única exposição, Artur Cascais, de pouco sucesso – Seixas falou-me mesmo em fiasco.
Pereira Coutinho lembrou-se então de oferecer a curadoria artística ao seu manga-de-alpaca. Além de laborioso, Seixas era homem com muito mundo visto. Tinha alma de inventivo e de aventureiro e uma actividade prodigiosa. Basta pensar na idade que atingiu, sempre com a memória no lugar, para se perceber a sua rija fibra. No dia dos seus 95 anos ainda inaugurou uma exposição na Cidadela de Cascais. Antes da ceia, em pé, debaixo dum céu de Inverno, falou aos presentes, quase todos sentados, mais de 15 minutos. E era um tal homem que estava a receber moradas, a enviar convites e a despachar correio. A sua chegada à direcção artística da galeria da Rua da Escola Politécnica aconteceu no momento em que o seu companheiro estava de partida para Londres e um dos seus primeiros planos foi dar a conhecer a sua obra plástica, que ele acompanhava desde a adolescência e de que possuía uma colecção de ofertas. Estava ainda a par dos planos do amigo – deixar de lado a poesia e dedicar-se mais à pintura, conforme o pedido feito à Fundação da Avenida de Berna na Primavera de 1968. Nasceu assim o projecto duma grande exposição individual da obra plástica de Cesariny para o mês de Maio de 1969. Foi ela que esteve na origem do seu regresso no final de Março a Lisboa; foi ela que estimulou a sua actividade plástica febril nos últimos meses que passou em Londres; foi ela ainda que o projectou em definitivo nas artes plásticas e lhe traçou um destino de pintor de que não mais se afastou.
Que a exposição de Lisboa, em Maio de 1969, contou na sua maioria com obras realizadas em Londres não gera dúvida. Consultada a imprensa da época encontra-se por exemplo esta nota não assinada no suplemento “Literatura & Arte” do jornal A Capital (21-5-1969): A Galeria S. Mamede vai apresentar uma exposição de Mário Cesariny com trabalhos realizados recentemente em Londres.
A primeira exposição de Cesariny na galeria de Pereira Coutinho, a que associou um longo texto de Seixas no catálogo, inaugurou a 27 de Maio de 1969. Antes disso fizera algumas exposições individuais – em 1958, na galeria “Diário de Notícias”, sobre a qual Raul Leal escreveu; em 1959, na galeria Divulgação do Porto; em 1963, na boutique de Carlos Battaglia e em Janeiro de 1967 na galeria da livraria Buchholz – mas qualquer delas, talvez com excepção da última por causa da palestra que então apresentou sobre a pintura de Vieira, teve um alcance muito pequeno ou quase nulo. Por isso a exposição da Rua da Escola Politécnica passa por ser o seu primeiro sucesso como pintor. Beneficiou de exposição mediática intensa e deu então a primeira grande entrevista como pintor (D.L., 26-5-1969). Furou assim o bloqueio que a televisão lhe fazia por causa dos escândalos sexuais e do processo judicial contra a sua poesia, ao mesmo tempo que gozou do favor dos coleccionadores de pintura que na linha de João Pinto de Figueiredo se começavam a interessar por tudo o que era surrealismo português. O regresso de Seixas em 1964, o seu talento de desenhador e de collagista, a facilidade com que multiplicava trabalhos – podia fazer numa tarde três desenhos pormenorizados – haviam aberto as portas e facilitado o caminho. Numa carta que então escreveu para Paris, para Guy Weelen, no rescaldo da exposição, fala do sucesso desta com surpresa e entusiasmo (15-6-1969; Os gatos comunicantes, 2008: 121): Et tu diras à Vieira, puisque je te le dis, que je commence à devenir riche! J’ai vendu très bien, et beaucoup de tableaux (échelle local, bien entendu), grâce a Mr. Pereira Coutinho, le propriétaire de la galerie S. Mamede, qui a monté magnifiquement mon expo, et qui est un jeune homme bien hautement placé auprès des gens d’aisance-et-naissance d’ici.
É exagero e euforia. Basta consultar nos arquivos da galeria as entradas e as saídas de dinheiro relativas às exposições de Cesariny no espaço para se perceber que a mostra de 1969 teve um impacto muito reduzido. Diante dos temores do galerista, o autor chegou mesmo a avançar dinheiro seu, mil escudos, para as despesas do catálogo e da divulgação do evento. É quantia ínfima – o proprietário gastou cerca de 30 mil escudos – mas que faz prova de prudência. Como quer que seja, o balanço foi positivo, a favor do pintor, que ganhou ainda um capital simbólico na imprensa muito prometedor. Foi a partir daí que Pereira Coutinho decidiu apostar nele, fazendo com ele por duas vezes, em 1971/72 e em 1973/4, contratos de exclusividade.
Começou deste modo o desafogo do meu biografado. De momento não enriqueceu. Não sei mesmo se chegou a enriquecer algum dia – mas se enriqueceu foi muito mais tarde, já na velhice. Não se chama fortuna ao dinheiro que ele ganhou a vender quadros ao galerista da S. Mamede antes da Revolução. Ricos eram os vinhateiros do Douro e os banqueiros do ultramar. Ele foi ganhando algum dinheiro com o que lhe saía das mãos, sem mudar a vida que fazia – recebia cerca de 30 mil escudos de dois em dois meses, assim se vê nos recibos que então passou, contra a entrega de 3 quadros mensais. Quando o conheci nos últimos anos, dormia na mesma cama monástica do quarto que sempre ocupara da Rua Basílio Teles, usava as mesmas camisas puídas e as mesmas pantalonas que tinha no tempo do Café Gelo e que foram as que lhe serviram para andar por Paris, Londres e Edimburgo. Ainda no início da década de 60, Fernando Grade, segundo me contou, deu com ele nos passeios dos Restauradores – ó grande selva do asfalto e do empedrado, ó festa do fumo e do ruído – a guardar no papel da mortalha o tabaco das periscas que ia encontrando. Era assim que então enrolava e fumava o cigarro – ele que tinha um vício diabólico e não podia passar sem o paivante aceso entre os dedos. É verdade que com os quadros passou a comprar cigarros, mas pouco mais. Por isso quando faleceu tinha no banco um pé-de-meia que dava para adquirir dois ou três prédios numa zona média da cidade. A isso chama-se riqueza? Se sim, deixou-a toda a uma obra pública de apoio à infância desprotegida – a Casa Pia.
Uma última palavra para Londres. O leitor já sabe o valor que a cidade teve na vida de Cesariny. Serviu-lhe de refúgio no momento em que saiu de Fresnes e foi capaz de reencontrar nela uma alegria de viver e de criar que, depois dos apertões de Lisboa e de Paris, lhe parecia já impossível de viver. Aquela corda que o Torel partira e Fresnes esfolara ainda arranjou modo de consertar ao pé do Tamisa. Londres voltou a servir-lhe de abrigo quando foi processado por causa dum mero poema de antologia e entrou numa guerra fratricida que o deve ter agoniado mais do que as mesas do Torel e a cela 381 de Fresnes. Perdeu então nessa guerra de irmãos alguns dos melhores amigos. Mesmo o insonte menino que o recebeu como um príncipe na sua primeira estadia à beira do Tamisa, esse Dácio que era a santidade e o martírio em corpo de português surrealista, nunca mais foi o mesmo. Também desta vez a cidade o reconciliou, permitindo-lhe um salto decisivo. Isto mesmo diz numa carta a Vieira da Silva, falando-lhe da vénia plástica feita nesse Inverno londrino e que teve exposição na galeria de S. Mamede (26-5-1969, Gatos comunicantes, 2008: 118): (…) é com certeza também um quadro feito com muita alegria, quase à beira dos deuses, numa cidade délfica que dá pelo nome de Londres, onde encontrei o Mário Cesariny, e outras gentes e coisas, importantes, realmente, como o Lisboeta não deixa encontrar.
Ao todo viveu na cidade quase dois anos e na primeira estadia, a mais longa, um ano e quatro meses, ainda veio a Lisboa por três vezes, a última para apresentar A cidade queimada na livraria Divulgação. A duração interior deste tempo, o tal “exercício espiritual” a que ele alude noutro passo desta mesma carta a Vieira da Silva e que lhe permitiu encontrar a sua decisiva linha cromática, foi porém muito superior. Quando aludiu anos mais tarde em carta a Alberto de Lacerda ao segundo período de Londres contabilizou nada menos do que um ano e alguns meses. Ora na verdade deixou Lisboa no final de Agosto ou no princípio de Setembro, logo depois de vender o guacho de Vieira da Silva que só recebeu em Agosto, e em Março do ano seguinte já estava de regresso para tratar da exposição da galeria da Rua da Escola Politécnica. Foram seis meses e duas ou três semanas – nunca mais. No final da vida, na última entrevista, quando avaliou o tempo que passou em Londres contabilizou-o por sete anos. Assim (O Sol, 7-10-2006): Onde estive mais tempo foi em Inglaterra. Com as idas e vindas, estive sete anos em Londres, na década de 60. Estava farto de latinos e fiquei a gostar dos anglo-saxónicos.
Não se engane o leitor. Sete é o número mágico da união do quadrado e do triângulo, a síntese entre o par e ímpar, o algarismo da eternidade. Sete são os traços, sete são as letras, sete são os números, sete são as notas, sete são as esferas, sete são os instrumentos, sete são os planetas, sete são os dias, sete são os céus, sete são os amores, sete são os delírios, sete são as mãos, sete são as pétalas da rosa, sete são os vitrais e sete são os sóis. Sete são ainda as direcções do espaço e sete os raios da estrela da manhã. Tanto bastou para o poeta de Corpo visível associar o número sete à sua estadia em Londres. Sete anos passados em Londres na década de 60 – exclama ele com surpresa e satisfação.
O entrevistador do D.L., o poeta Fernando Assis Pacheco, começa assim a sua entrevista (26-5-1969): Um dos maiores poetas vivos da língua portuguesa tem 46 anos e deixou embranquecer o cabelo. Nome: Mário Cesariny de Vasconcelos. Muitos foram os anos que Cesariny passou em Londres. Foi para lá com o cabelo todo preto e veio de lá com ele todo nevado. E a recordação mais viva que lhe ficou sempre da cidade não foi um prédio, uma torre, um museu, um café, uma ponte, um livro, um altar, um jardim, um copo, um palácio, um cigarro, um passeio, um amor. Foi uma cor, uma linha de cor desdobrada em vários tons – “a magnificência dos verdes de Londres”, diz ele numa carta a Vieira da Silva (2008: 105). É que sete são as cores do arco-íris! E sete são os quadros que ele então pintou! E sete podiam ser os poemas de Londres como sete podiam ser os sonhos feitos na Rua Walton.
SUBVERSÃO INTERNACIONAL
Enquanto ultimava a exposição da galeria S. Mamede, Cesariny recebeu da Ulisseia, a editora d’ A cidade queimada e d’ A intervenção surrealista, uma carta que chegara em seu nome. Vinha da Holanda e era remetida por Laurens Vancrevel – o nome de guerra da família Van Krevelen. Conhece-se a resposta do poeta português datada de 12-5-1969 – duas semanas antes de abrir a sua exposição e que respondeu prontamente à carta que lhe chegara da Holanda. A história conta-se em duas palavras, que são a senha mínima de qualquer lugar. Laurens, ligado às actividades surrealistas na Holanda desde o início da década de 60 – nascera em 1941 – e um dos fundadores da revista surrealista Brumes blondes (1964), comprara por acaso ao poeta belga Marc Duchesne o livro A intervenção surrealista que o deixara perplexo. Falava, lia e escrevia o francês – basta atentar no título da revista que fundou – e com alguma aproximação entendeu o português. Pouco ouvira falar de surrealismo em Portugal – a fonte era sempre o livro de Bédouin – e o que viu no volume, cujo texto de fecho datava de 1963, deu-lhe vontade de saber mais.
Chegava isto para justificar a carta do holandês ao português. Mas havia mais. Em Janeiro desse ano o grupo surrealista de Paris, que perdera há ano e meio o fundador, André Breton, fora abalado por grave crise interna. Editava uma revista, L’archibras (1967-1969), que dedicara há pouco um número especial aos motins estudantis de Paris. A crise foi de tal modo violenta que desde logo se percebeu que nem grupo nem revista resistiam. Em Outubro, Jean Schuster, invocando a sua qualidade de testamenteiro de André Breton, decidiu fazer um acto espectacular – e todo o espectáculo é uma compensação – e declarou ao jornal Le Monde (4-10-1969) a morte do surrealismo histórico. Paris tem o mundo no umbigo e um corredor no coração, quando não uma pala preta nos olhos. O grupo que estava na Holanda e que editava a revista Brumes blondes percebeu desde o início a situação grave que se vivia e anteviu o desenlace. O núcleo holandês que até aí se juntara às iniciativas de Paris preferiu autonomizar-se e ficar livre. Em Abril lançou uma declaração de independência e abriu uma nova fase, dispondo-se a assumir um papel de ligação mundial. O grupo de Paris, mesmo depois da partida do fundador, continuara a ter um papel central nas acções surrealistas internacionais e o seu fim podia significar um desmoronamento geral dos grupos então espalhados pelo mundo. Daí os contactos que os holandeses iniciaram de imediato. E daí ainda a carta que Laurens escreveu ao meu biografado, dando-lhe conta dos distúrbios em Paris, da autonomia em que o grupo holandês ficava e da necessidade de se iniciar de imediato um reagrupamento internacional do que então existia de surrealismo.
Já sabe o leitor a situação de isolamento em que o surrealismo viveu em Portugal. Os contactos de 1947 em Paris – Dacosta, Cândido Costa Pinto e Cesariny – haviam sido promissores e davam a ver que a ligação entre Lisboa e Paris estava activa. As expulsões, as saídas e as dissidências que começaram no momento em que Cesariny estava em Paris com o forçado afastamento de Costa Pinto, o principal contacto junto de Breton, geraram desinteresse por parte de Paris. Resultou daí o silêncio nas “efemérides surrealistas” e as poucas linhas de Bédouin na história do seu vinténio surrealista entre 1939 e 1959. O único ponto a contrariar este isolamento fora o convite que viera de S. Paulo no Verão de 1967 por intermédio de Aldo Pellegrini e Sergio Lima. Os surrealistas portugueses puderam assim colaborar pela primeira vez numa mostra internacional ao lado do grupo francês, que esteve presente e muito bem representado no catálogo e na exposição. O compilador d’ A intervenção surrealista aproveitara então para voltar a escrever a Bédouin (carta, 14-1-1968), lembrando as acções surrealistas em Portugal, ao mesmo tempo que dava o máximo eco interno à exposição de S. Paulo, com o número que lhe dedicou no J.L.A. e que foi a parte mais consistente que a mostra alcançou fora do Brasil.
Os acontecimentos que se seguiram, com a saída de Virgílio Martinho do J.L.A. e as acusações de Luiz Pacheco no J.N., seguidas do panfleto contra a “Luisona” e o contra-panfleto do editor da Afrodite, estragaram em definitivo o ambiente no meio surrealizante português, dando início a uma guerrilha surda e prolongada, com dois blocos irreconciliáveis, dum lado Martinho e Pacheco e do outro Cesariny e Seixas. No meio dos dois estavam os neutrais, que não se comprometiam, como Oom, Leiria (então no Brasil), Ricarte-Dácio, Forte e Sampaio, que tanto podiam colaborar com um lado como com outro. Foi nesta situação que o meu biografado recebeu a carta de Laurens, o que o obrigou a travar na resposta que deu para a Holanda as expectativas sobre as reais possibilidades colectivas do surrealismo em Portugal no ano de 1969 – ele que ainda no final de 1965 parecia tão promissor em termos de movimento com o projecto da revista “Abjecção” e o entusiasmo de Luiz Pacheco pelo livro A cidade queimada. Eis as suas palavras sobre o livro de 1966 (carta, 12-5-1969; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 25): O mínimo que posso dizer-lhe numa carta é que os surrealistas, aqui, tiveram sempre muita dificuldade em serem publicados. E tenho algum receio que o meu volume A intervenção surrealista venha a dar-lhe a impressão contrária. A bem dizer, é um livro em que a maior parte do material que o compõe deveria ter conhecido publicação há muitos anos.
Cesariny ficou assim a partir deste momento numa situação paradoxal. Em termos internos estava isolado – a bem dizer podia apenas contar com a fidelidade de Seixas, o indefectível, que parecia ter junto dele o papel que Péret tivera junto de Breton. A ligação de ambos a Pereira Coutinho, à galeria S. Mamede e ao mercado de arte não terá ajudado a situação e representou um estímulo aos ataques de Luiz Pacheco, que tirou daí fáceis motivos para engrossar os seus estragos e isolar mais o homem da Palhavã. Os ataques datavam da saída do livro A intervenção surrealista – tinham por isso três anos – e assentavam na ideia de que o autor de 1966 já nada tinha a ver com o de 1949, o de 1953 ou mesmo o de 1958, que tivera a coragem de afixar e distribuir nos Cafés da Baixa o folheto Autoridade e liberdade são uma e a mesma coisa. A sua entrada no mercado da arte ao lado de Seixas acentuava para os seus adversários a metamorfose do seu rosto, o irreconhecível das suas atitudes e o desinteresse das suas recentes acções.
Ao invés, em termos internacionais a carta de Laurens Vancrevel e a correspondência que se lhe seguiu e que não mais parou até 2005 abriu-lhe um novo campo de actuação que depois dos fracassos da década de 40 ele não mais sonhara possível. Laurens estava em contacto com os principais núcleos surrealistas mundiais e não tardou a pô-lo em ligação com esse mundo até então desconhecido. Numa altura em que ele amargurado com os amigos se desiludira e se afastara do que se passava dentro de portas, dando a entender que tudo era passado e que nada mais havia a esperar da acção surrealista em comum, novas relações entraram no seu dia-a-dia, abrindo-lhe um novo horizonte de actividade colectiva. O surrealismo é uma aventura interior, com uma componente pessoal tão intransmissível quanto um sonho. Nesse fundo indistinto em que se esfuma a alma humana é até legítimo pensar que a experiência surrealista faz parte da experiência vital de cada ser. O gosto de André Breton pelas assembleias e pelas reuniões, a sua presença irradiante como um Sol magnético de Verão, as suas ideias políticas e ainda a possibilidade de trazer à consciência através de jogos colectivos os conteúdos recalcados da psique emprestaram porém ao surrealismo uma dimensão de grupo à qual se quis sempre associar, na tradição das enigmáticas palavras de Lautréamont “a poesia será feita por todos”, o melhor da sua acção. O surrealismo tanto foi gerado no momento em que Breton tomou conhecimento das teorias de Freud – o que sucedeu numa súmula francesa da época – como quando conheceu Jacques Vaché e com ele conviveu, o que aconteceu no mesmo ano e com pouco intervalo de tempo.
O primeiro vector veio dos Estados Unidos. Desde 1967 que se formara um grupo surrealista em Chicago, em torno de dois jovens nascidos já na década de 40, Penelope e Franklin Rosemont. Haviam estado em Paris em 1965 para conhecerem André Breton e haviam frequentado durante vários meses na sua companhia as reuniões do grupo no Café La Promenade de Venus, o último Café parisiense em que Breton se reuniu com o seu grupo de jovens, entre eles Jean-Louis Bédouin e Jean Schuster. Sergio Lima, um dos organizadores da exposição de S. Paulo, também nascido na década de 40, frequentara em 1962 este mesmo café na companhia de André e Elisa Breton. Os Rosemont de regresso aos Estados Unidos tornaram-se muito activos, fundaram duas publicações, Surrealist insurrection (folha volante) e Arsenal/surrealist subversion (1970; 1973; 1976; 1989) e uma casa editora, The Black Swann, juntaram-se a outros grupos históricos como os anarco-sindicalistas da central sindical Industrial Workers of the World (I.W.W.), geriram em conjunto uma livraria e iniciaram a publicação de panfletos cortantes em áreas tão diversas como a guerra do Vietname, a situação dos animais nos Jardins Zoológicos, os direitos dos negros e dos índios, o urbanismo industrial, os museus, os hiper-mercados, o feminismo radical, os Blues, as igrejas, o desejo sexual, a Organização Mundial do Comércio e a globalização. As suas declarações mereceram elogios de Herbert Marcuse e desmentem por si tudo o que de pior se disse sobre o surrealismo no pós-guerra. É impossível ler os documentos do grupo e continuar a dizer que o surrealismo não criou nada de novo depois da segunda guerra. Se há novidade e novidade necessária, capaz de ler o tempo que nasceu depois da guerra e vem até aos dias de hoje, é ali, nesses textos, que se encontra.
Quando recebeu o primeiro número de Arsenal, Cesariny escreveu estas palavras (8-3-1971; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 77-78): (…) a revista porta-se muito bem, indignada com uma “declaração de guerra” assinada por “The surrealist group” (o que significa, creio, Franklin e Penelope Rosemont), duma violência magnífica. (…) Escuta bem o que quero dizer: para os surrealistas, é sempre muito bom (e muito lisonjeiro!), não tanto “A Escola”, mas a “A Associação, mais ou menos Secreta), e a “Propagação de Ideias”. E creio, com toda a sinceridade de espírito, que em solo novo (U.S.), a flor deverá conhecer florescências bastante estranhas e mesmo novas. O que está em jogo é, sobretudo, uma ideia moral. E isso quem o garante é o Rosemont. Numa carta seguinte ainda dirá (Primavera, 1972; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 93-4): Não conheço Rosemont e imagino que se um dia chegarmos a apertar a mão, isso pode dar mau resultado e bem depressa, mas confio-te um segredo: o que mais gosto nele (nas suas publicações) é exactamente essa violência que [John] Lyle denunciou. Não sei que idade tem – talvez me possas elucidar –, mas vejo nele o ardor da juventude – como a América pode ser tão (demasiado) jovem.
Ora uma das primeiras ofertas que o editor holandês enviou para Lisboa foram as primeiras folhas de Surrealist insurrection, que apanharam de surpresa o destinatário, que chegava duma longa estadia em Inglaterra e nunca vira tal erupção. O choque foi tão grande que logo, na recensão que fez em Outubro e Novembro de 1969 para o jornal A Capital da tradução portuguesa dos “manifestos do surrealismo” de André Breton, e que em 1972 intitulou “Contra o prefácio de J. de Sena”, citou um longo trecho de Franklin Rosemont. Era decerto a melhor maneira de corroer a tese de que o surrealismo era um movimento epocal, situado na década de 20, defendida por Jorge de Sena no prefácio ao livro – e que fora de resto a proposição de Gastão Cruz na nota publicada no J.L.A. (8-11-1961). A primeira carta de Cesariny para Rosemont é de Outubro de 1970 – seguiu cópia para a Holanda – e a partir daí a correspondência foi continuada. Uma das linhas de orientação do grupo de Chicago, e logo no manifesto que assinalou o seu nascimento o afirmou, era a negação da existência de “surrealismos nacionais”. Propunha-se um surrealismo sem fronteiras, de junção e combate internacional. Por esse motivo o grupo logo no ano do seu aparecimento lançara a ideia de fazer uma grande exposição mundial em Chicago. Os Rosemont tiveram-se assim o maior interesse em manter o contacto com o português, que acabou por ficar com a responsabilidade da representação portuguesa na grande exposição internacional, que abriu em Maio de 1976 no centro histórico de Chicago e contou com a presença física de Cesariny.
Outra ponte que Cesariny estabeleceu por intermédio de Vancrevel foi com a França. Ele que estivera em 1947 com o fundador do surrealismo e vivera em Paris longos meses no ano de 1964 – para lá foi em fins de Inverno e só de lá saiu no final de Novembro, embora em Junho tenha feito a primeira visita a Londres e em Agosto tenha ido a Madrid estar com Francisco Aranda – nunca conseguira mais do que escrever três indignadas cartas a Bédouin. A turbulência de Janeiro de 1969 encaminhara o grupo francês para a auto-dissolução, dando lugar à declaração de Schuster ao jornal Le Monde. Fosse como fosse, alguns membros do grupo, como Jean-Louis Bédouin e Vincent Bounoure, não aceitaram o caminho traçado e reagruparam-se em torno duma nova publicação, Bulletin de liaison surréaliste (1970-1976), que decidiu seguir o caminho que os holandeses propunham, que era aliás o ponto de partida do grupo de Chicago – a ideia dum surrealismo de junção internacional.
Havia ainda a revista francesa Phases (1954-1986) e Édouard Jaguer, seu fundador. Nascera este em Paris em 1924 – tinha poucos meses de diferença de Cesariny e era do mesmo ano de O’Neill – e publicara os seus primeiros poemas nas revistas que o grupo surrealista “La main à plume” (1941-45) tivera durante a guerra em Paris, tornando-se um dos fundadores do surrealismo revolucionário, grupo que não aderiu à exposição do Verão de 1947, na galeria Maeght, que Cesariny visitou na sua primeira estadia em Paris. Correspondente da revista Cobra, fundou em 1954 o seu próprio grupo e publicação – a revista Phases. Quer revista quer grupo tornaram-se pontos de diálogo com o surrealismo e em 1959 Jaguer aproximou-se de André Breton, passando a partir daí a existir um trabalho comum entre os dois núcleos. Depois da declaração de Schuster, os phasistas mantiveram a ponte com o surrealismo e continuaram a contribuir com as exposições que faziam em todo o mundo e com a sua revista para o reforço do diálogo internacional entre os núcleos surrealistas espalhados pelo orbe. Já na parte final da vida, em 1996, deve-se a Édouard Jaguer a ideia de criar um boletim bimensal em língua francesa, Infossur, dando conta através de pequenas notícias do maior número possível de acções, publicações e efemérides surrealistas no mundo. O boletim ainda está hoje em curso de publicação sob a responsabilidade de Richard Walter, um jovem amigo de Jaguer. O grupo holandês tinha desde o início da década de 60 relações com Jaguer e Anne Éthuin, sua esposa, e Vancrevel tornou-se no início da década seguinte correspondente holandês da revista do grupo. Os contactos entre Cesariny e Jaguer ocorreram a partir de 1971 e estiveram na origem da publicação na revista Phases (n.º 4, II S., 1973) do texto “Para uma cronologia do surrealismo em português” em tradução francesa de Isabel Meyrelles, primeiro desenvolvimento da contra-historiografia cesarínyca sobre o surrealismo em Portugal começada com as cartas a Bédouin e a publicação d’ A intervenção surrealista.
Outro vector veio do lado dos surrealistas checos. O surrealismo tinha na Checoslováquia um longo historial, remontando à primeira metade da década de 30. Na Primavera de 1968, com a abertura política de Dubeck, tivera lugar em Praga, com a colaboração do grupo de Paris, então a editar ainda a revista L’archibras, uma grande exposição. Ora a invasão russa de 21 de Agosto de 68 atirou para o exílio com todos os surrealistas checos, que se fixaram em Paris e Bruxelas, prosseguindo as suas acções no exílio. Daí as relações próximas do grupo holandês com o meio surrealista checo, então a colaborar numa revista, Gradiva, que se publicava em Bruxelas e da qual Cesariny, em ligação com Arnost Budík, se tornou correspondente português. Houve ainda contactos com os amigos ingleses de Laurens Vancrevel, como John Lyle (Outubro de 1970), editor da revista surrealista inglesa Transforma(c)tion (1970-77), e Philip West, seu colaborador, que permitiram a Cesariny, ele que estivera em Londres durante cerca de dois anos, chegar ao principal organizador da exposição surrealista de 1967, “The enchanted domain”. Foi na revista de John Lyle que publicou pela primeira vez o conjunto feito em Paris “Les hommages excessives” (n.º 6, 1973), talvez o primeiro que ele escreveu em 1947 debaixo da influência do surrealismo. Lyle, Budík e Vancrevel serão três dos colaboradores de Cesariny na tradução por cabala fonética dum soneto de Gôngora, cujos resultados foram dados a conhecer na revista de Lyle também em 1973 e estão hoje na secção final do livro Primavera autónoma das estradas.
Só se pode lamentar que esta abundância de novidades e de incentivos, este reconhecimento geral da importância do surrealismo em Portugal, que mais tarde veio a ter expressão no Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs (1984), em que boa parte dos verbetes relativos a Portugal pertenceu a Édouard Jaguer, tenha numa fase interna dalgum isolamento e mal-estar. Cesariny tinha o processo em tribunal – deu conta a Laurens Vancrevel (carta, 21-3-1970) da condenação no tribunal plenário da Boa-Hora em Março de 1970 – e a guerrilha que Luiz Pacheco lhe fazia e que impossibilitava o regresso das acções colectivas das décadas de 40 e 50. Na talvez derradeira manifestação das duas primeiras gerações surrealistas portuguesas, o volume Grifo (1970), que se apresenta como “antologia de inéditos organizada e editada pelos autores”, Cesariny e Seixas não estão. Marcam presença António José Forte, Ernesto Sampaio, João Rodrigues, Pedro Oom, Manuel de Castro, Ricarte-Dácio de Sousa, Virgílio Martinho, mas os dois mais velhos, Cesariny e Seixas, estão ausentes. Em carta para a Holanda, Cesariny diz que recusou convite (?-10-1970; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 65): Acabo de recusar uma participação numa revista de cá, Grifo, que acaba de surgir com a participação de alguns mais ou menos “veteranos” e dois ou três jovens. A desconfiança impossibilitava a colaboração das duas partes. Se Cesariny recusou participar no volume colectivo que apareceu em 1970 não foi pela participação dos mais novos – um Dácio que ele muito apreciava de Londres e um Barahona sobre o qual tinha escrito no J.L.A. – mas pelo receio que isso pudesse dar lugar a felonia, a rasteira inesperada por parte dalgum dos séniores. Havia porém sinais de degelo. A nota biográfica que sobre ele aparecera na Antologia do humor português (1969), não assinada mas da autoria de Ernesto Sampaio, era exaltante, conquanto a história da inclusão nessa antologia revele as tensões existentes. Convidado a colaborar, recusara – decerto pelos motivos que o levaram pouco depois a escusar-se a entrar em Grifo. O editor decidiu incluí-lo, pois em nada o beliscavam. Cesariny contou a história em texto de jornal (“Reina a Paz em Varsóvia”, A Capital, 19-8-1970; recolhido em As mãos na água…). Os panfletos de Martinho e de Ribeiro de Mello de Maio e Junho de 1968 estavam ainda muito frescos para que Cesariny se quisesse meter em livros onde eles aparecessem. Ora Ribeiro de Mello, autor do homófobo panfleto As avelãs de Cesariny, era o editor da colectânea sobre o humor português e Virgílio Martinho era com Ernesto Sampaio seu responsável. Demais é certo que o poeta de Pena capital sentia o flanco fragilizado com o seu recente sucesso como pintor e a sua ligação a uma das mais ricas galerias de arte de Lisboa.
O sucesso que foi a exposição de Cesariny na galeria S. Mamede, com vendas, apoio da imprensa e até um documentário filmado de João Martins que passou na televisão, as relações fraternas que mantinha com Seixas e as ligações internacionais que começava a ter por intermédio de Laurens Vancrevel, fizeram que Francisco Pereira Coutinho assinasse com ele contrato de exclusividade e o associasse, embora de forma informal, já que tinha um funcionário nesse cargo, Seixas, à direcção artística da galeria. A exposição da galeria que abriu no início de 1970 com têmperas de Arpad Szenes e sobre a qual ele deu texto ao jornal A Capital (18-2-1970) foi com certeza ao menos em parte obra dele. Era ele que falava e escrevia francês, que tinha contacto com o casal e com o secretário, Guy Weelen. É provável até que parte da ligação que teve com a direcção da galeria de Francisco Pereira Coutinho se devesse antes de mais à facilidade com que ele chegava a Vieira da Silva e Arpad Szenes. Já em Junho de 1969 – carta de Mário Cesariny para Guy Weelen (Os gatos comunicantes, 2008: 121) – que o galerista mostrava interesse em comprar trabalhos ao casal. Seixas não escrevia francês nem tinha acesso ao casal, que então conhecia muito mal e sempre através do amigo. Coube pois ao meu biografado tratar dos assuntos relativos a Vieira e a Arpad. Desde o final de 1969 que se sabia que a pintora iria fazer uma grande retrospectiva em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, e que o antigo bolseiro estava indicado por ela para colaborar no catálogo. Nasceu então a ideia de se aproveitar a sua vinda a Lisboa no final da Primavera para se fazer em simultâneo uma exposição na galeria S. Mamede com trabalhos seus.
Pereira Coutinho e Mário Cesariny foram a Paris em Fevereiro de 1970 – e por isso Cesariny esteve ausente do Tribunal da Boa Hora no momento em que correu o julgamento contra a antologia de Natália Correia, sendo aí representado pelo advogado Fernando Luso Soares, com quem trabalhava desde 1966 e que substituíra Luiz Francisco Rebelo como seu causídico. Dessa estadia ficou alguma correspondência para Cruzeiro Seixas, que permite perceber o itinerário então feito. Cesariny ficou instalado na Rua de Savoie, no apartamento de Isabel Meyrelles que estava então em Lisboa com Natália Correia a lançar o Botequim do Largo da Graça e lhe passou as chaves de casa. O plano era levar Pereira Coutinho a ver pintura dos portugueses que viviam em Paris, como Vieira da Silva, António Dacosta, Gonçalo Duarte e Eduardo Luiz, ou por lá estavam de passagem, como Lourdes Castro e René Bertholo. Esperavam-se compras – queixou-se em carta (21-2-1970) a Seixas que Coutinho nada comprara a Gonçalo Duarte, um jovem do Café Gelo que participara na Antologia surrealista do cadáver esquisito – e marcações de exposições. A 12 de Fevereiro houve jantar oferecido por Vieira da Silva no seu ateliê, que Cesariny em carta (14-2-1970) a Seixas diz ter sido “lauto”. Foi nesse momento que ficou falada a exposição de Vieira da Silva na galeria e que veio a ter lugar em Junho, a coincidir com a retrospectiva da Gulbenkian. Tratadas as exposições e comprada alguma pintura, sobre a qual Cesariny terá tido percentagem – confirma-se em carta para Seixas (3-3-1970) o acordo que ele tinha com a galeria com que Dacosta trabalhava –, o galerista regressou a Lisboa, onde o esperava ainda nesse mês de Fevereiro a abertura da exposição de D’ Assumpção, ficando o seu companheiro de viagem ainda em Paris, ao cuidado do casal Margarido, Alfredo e Manuela, então a viver em casa de Isabel Meyrelles, na Rua de Savoie, já que a velha amiga de Cesariny e de Seixas estava a viver em Lisboa, onde tinha sociedade com Natália Correia no botequim do Largo da Graça. Essa exposição foi a primeira que se organizou depois do suicídio de D’ Assumpção no dia em que pela primeira vez pé humano pisou a Lua, 21-7-1969, e resultou duma conversa a três – Seixas, Cesariny e Pinto de Figueiredo, que emprestou as obras e escreveu o texto para o catálogo. Recebeu em Paris o catálogo e notícias da abertura, com recortes de jornais, escrevendo então um texto, “D’ Assumpção”, enviado por carta para Lisboa ao cuidado de Seixas (4-3-1970, 2014: 287), que o passou a Rui Mário Gonçalves, que por sua vez o deu ao suplemento “Literatura & Arte” d’ A Capital (11-3-1970; v. As mãos na água…). Recorda aí a correspondência que trocou a partir de Londres com o pintor no final de 1968, quando habitava o estúdio de Luís Amorim de Sousa e D’ Assumpção estava na Alemanha.
Não houve apenas pintura e Pereira Coutinho na estadia de Cesariny em Paris entre o início de Fevereiro – a 3 de Fevereiro ainda estava em Lisboa mas a 14 de Fevereiro já estava em Paris há três ou quatro dias – e o início de Março, até porque a estadia do galerista foi muito curta, apenas cinco dias, e ele ficou sozinho em Paris várias semanas. Tinha as chaves da casa da Rua de Savoie e contou com o apoio do casal Margarido, refugiado em Paris desde o início da década de 60. Alfredo Margarido tivera convívio estreito com Seixas em Luanda na década de 50 e alguma aproximação no Café Gelo a Cesariny, que conhecia desde os tempos do Café Royal, se não antes. Convidaram-no a fazer as refeições em casa, o que ele aceitou deixando em troca uma quantia que em carta para Seixas diz ser simbólica. No passo dessa carta – que confirma que a estadia de Pereira Coutinho em Paris se limitou a cinco dias – percebe-se que a situação financeira de Cesariny estava longe de famosa: (24-2-1970; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 276): Embora esteja abrigado chez Margaridos, e o dinheiro que os obriguei a aceitar seja nada em comparação do que gastaria se tivesse de comer sempre fora, é bem difícil que uma nota de cem francos chegue ao fim do dia. Abandonei os táxis pelos autocarros, mas mesmo assim uma reles viagem de autocarro custa habitualmente doze merréis. Daqui para cima deixo à tua imaginação. E a propósito de táxis é pena que o Pereira Coutinho se tenha esquecido de me dar os cem francos diários que me havia prometido por cada dia de estadia dele aqui. A culpa é minha porque ele em Lisboa fez menção de dar-me esse dinheiro, eu é que lhe disse, numa voz larga, liberal e moscovita, que não valia a pena, que mos daria em Paris. Mas não deu, fosse por esquecimento, fosse pelo que fosse. Ora eram quinhentos francos, meu rapaz, que bom seria.
Sobre a sua situação financeira neste momento existe outra informação também numa carta para Seixas. É um pormenor lateral que lhe permite tirar o retrato de mendicante. Quando se vêem as fotografias inéditas que o apanharam em Edimburgo em Janeiro de 1969 percebe-se o que eu quero dizer. Com as temperaturas quase polares do Inverno escocês, tudo o que ele tinha eram uns sapatinhos estafados de pala, umas calças no fio e um casaco escuro que mal lhe chegava às coxas. Está muito mais próximo do vadio que do aristocrata, com sobretudo assertoado até aos pés, cachecol de merino, luvas de cabedal, com reforço de lã por dentro, botas lustrosas. Em Paris não fugiu disto – e tão aflito que até tinha de lamentar o bilhete do autocarro e aceitar a mesa que o casal Margarido lhe oferecia. O seu exterior era o mesmo que se vê nas fotografias de Edimburgo – um “clochard” em trânsito, com os sapatos no fio, esburacados, umas calças amarfanhadas pelo uso continuado. Viajava sempre com muito pouco. Foi com uma maleta onde cabia quase nada que ele se apresentou à porta de Luís Amorim de Sousa para uma estadia de mais de três meses. Assim numa das visitas que fez ao ateliê de Vieira, Arpad, apiedado do rapaz, meteu-lhe na mão uma nota grande para o tirar de aflições. Eis como ele contou a história para Lisboa (carta, 3-3-1964; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 286): Insisto em que não deixes de enviar, fazer enviar, a Vieira e a Szenes o catálogo D’Assumpção. É importante. Ele gostou muito do meu artigo. Tanto que, a despropósito – isto é, num propósito pela primeira vez observado nas minhas relações com ele – espero que continue – me meteu à saída uma notinha na dextra. Eu disse, que é isto, vê lá se tens juízo, etc., mas introduzi, pensando que era para o táxi. Resultado, visto na rua: eram quinhentos francos (novos!).
Cesariny acabara de promover em Lisboa a pintura de Szenes com a exposição de têmperas dele na galeria de S. Mamede e a publicação dum artigo sobre a sua pintura no suplemento d’ A Capital. Já o mesmo fizera, no momento da exposição de Lausana, com a pasta de materiais que saiu no jornal de Azevedo Martins. Mas o artigo em causa nesta história era sobre D’Assumpção e a nota de 500 francos não queria pagar nada mas ajudar alguém em que a falta de dinheiro saltava à vista todos os dias. A exposição de Maio em Lisboa, que o levou a dizer de forma precipitada para Paris “je commence à devenir riche”, não passou dum sobressalto sem grandes consequências. Continuava a ter o mesmo ar pindérico que sempre fora o seu, muitas vezes sem trocos sequer para pagar o café. O primeiro contrato de exclusividade com a galeria da Rua da Escola Politécnica só chegou depois, em Janeiro de 1972, e só nesse momento se pode falar de desafogo, com mensalidades então na ordem dos 15 mil escudos. Mello e Castro ganhava nesta mesma época, como engenheiro têxtil numa empresa privada, 20 mil escudos por mês – um ordenado “principesco” nas palavras do testemunho que me deu. Um professor de liceu ganhava perto de cinco mil escudos e um professor universitário cerca do dobro. Antes do contrato apenas recebia percentagens de vendas suas ou intermediadas por si, como sucedeu em Paris neste início de ano de 1970. Cesariny herdara dos seus antepassados corsos e sardenhos uma elegância fina, sonhadora, aristocrata – mas herdou também deles o nomadismo e o exílio. Numa entrevista da época (A Capital, 4-8-1971), aceitou ser um rei – mas um rei que dera de barato o reino. Criadas mais tarde as condições para o retomar já estava tão habituado à solidão que se recusou ao ceptro, à coroa e ao trono. É esta a história da sua riqueza!
Sozinho em Paris, com o tempo à disposição, frio e indiferente ao que corria em Lisboa, esse julgamento do processo contra a antologia poética de Natália, Cesariny regressou então às suas deambulações pela cidade. A sua grande curiosidade foi ir à margem direita do Sena à procura da esplanada onde na Primavera de 1964 se sentara a ler Borges e da Torre que então descobrira e o magnetizara. Fora ela que sinalizara a sequência dos poemas dessa Primavera, que estão na origem d’ A cidade queimada. Retomou o convívio com o lugar e deparou com tantas modificações que acabou por sentir necessidade de voltar ao “diário de composição” do referido livro. Escreveu uma nova entrada para o “diário”, onde deu conta das alterações entretanto ocorridas. Em carta para Seixas enviada de Paris refere-se assim à nota e à sua origem (21-2-1964; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 275): Diante do estado miserável em que encontrei o Jardim da Torre Saint-Jacques – completamente rapado pelos serviços camarários –, tive de escrever uma nota a inserir em qualquer futura publicação do poema. Entras nela, claro. Em carta posterior copia-lhe a nota, que fecha de feito com citação de carta de Seixas que ele diz recebida no dia em que anota. Datou a redacção de 17 de Fevereiro mas na primeira edição que dela deu na antologia Burlescas, teóricas e sentimentais (1972) antecipou a data para 14 desse mês, que manteve nas edições posteriores e consta hoje do volume Poesia (2017: 451). A nova entrada constituída por vários parágrafos ficou nas edições finais do livro feitas em vida pelo autor reduzida a dois. O derradeiro bloco que terminava com a citação da carta de Seixas desapareceu. Não consta hoje, nem mesmo em nota, o que se lamenta, na edição póstuma e anotada da poesia reunida. A limpeza do parágrafo final deveu-se aos problemas graves surgidos entretanto entre Seixas e Cesariny e de que em breve o leitor terá notícia pormenorizada. Atendendo à redacção da nota no seu conjunto, é possível pensar que A cidade queimada só esfriou as suas cinzas com esta revisitação da Torre. Mas para isso ser assim, alguma falta lhe faz o bloco final escrito a quente em Paris onde a citação de Seixas é esclarecedora dos nexos que fazem que a cinza seja para sempre cinza – e cinza dispersa. Esta nota escrita em Paris no meado de Fevereiro de 1970 ajuda a perceber que a sua passagem por Paris a caminho de Londres, no Verão de 1968, se aconteceu, como a chegada de comboio a Londres dá a entender, com o episódio já conhecido do casal Macedo, terá sido tão breve e atarefada, que nem vagar teve para desfrutar do reencontro pleno com a Torre, só agora acontecido.
Outro ponto importante da estadia em Paris neste Inverno foi o contacto estabelecido com os surrealistas franceses então activos e que iriam lançar em breve o Bulletin de liaison surréaliste. Essa fracção do antigo grupo de Paris em discórdia com a orientação de Jean Schuster decidira ficar por sua conta, mantendo estreita ligação com o grupo holandês da revista Brumes blondes e os exilados checos que estavam por Paris e Bruxelas. Vincent Bounoure, ligado ao grupo francês desde 1953, foi um dos que ficara e se opusera ao decreto de liquidação de Schuster. Em Outubro lançou um inquérito de auscultação internacional, “Rien ou quoi”, que a pedido de Vancrevel foi enviado para a Rua Basílio Teles. Datada de 30-12-1969, a resposta seguiu em francês e foi publicada em Março numa pasta com 45 respostas – foi depois recolhida numa versão em português no livro As mãos na água…. Essa pasta de Março foi o primeiro ensaio do boletim que Bounoure fez com Bédouin, o Bulletin de liaison surréaliste. Os contactos epistolares entre o meu biografado e o autor do inquérito estavam assim muito frescos e foi fácil em Paris estabelecer a ligação. A primeira alusão a Bounoure aparece-nos na carta a Seixas datada de 21-2-1970, a mesma em que pela primeira vez lhe dá notícia da existência duma nova anotação para o final do “diário de composição”. O dia 21 de Fevereiro calhou nesse ano num sábado. Diz ele (Cartas de M.C. para C.S., 2014: 275): contactei o Vincent Bounoure e na próxima terça-feira vou à noite a casa dele. Confirma-se por carta a Laurens Vancrevel do dia 25 a ida de Cesariny a casa de Bounoure na data prevista e o que por lá sucedeu (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 50): Ontem estive em casa de Micheline e Vincent Bounoure, passámos um belo serão a falar de si, de nós, de toda a gente. Ele deu-me imensas moradas para que eu continue a minha peregrinação através de outros surrealistas e amigos. Em carta para Cruzeiro Seixas – a mesma em que conta a história da nota dos 500 francos de Arpad – ficou um registo mais desenvolvido sobre o encontro (3-3-1964; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 285): Estive com o Vincent Bounoure e com a mulher dele, Micheline, na casa deles. Se vieres a Paris, tens de ir ali ver a mais fabulosa colecção de arte negra e da Oceânia que já me foi dado ver. (…) Do que conversámos, saiu pouco ou nada, senão o propósito de camaradagem e de continuação de contacto em que assentámos. (…) O Bounoure é lindíssimo, pernas azuis escuras de metro e meio de raio e cabeça de viking no alto do pescoço. A mulher, considerável, sempre para o estilo Nora, mas agregando a quadratura da serpente. E movem-se em círculos mágicos em torno das enormes esculturas de madeira e outras que, em vez de atravancar, povoam nobremente toda a casa.
A 24 de Junho inaugurou-se a exposição “34 pinturas de Vieira da Silva”, organizada a bem dizer por Cesariny e com texto dele no catálogo. A exposição ocorreu em simultâneo à grande retrospectiva da Fundação da Gulbenkian e contou com a presença da pintora no momento da abertura. Cesariny chegou atrasado ao evento, pois nesse mesmo dia à tarde teve de ir a Santa Apolónia esperar o comboio que vinha de Paris e trazia Frida e Laurens Vancrevel, que tinham decidido aproveitar as férias para virem a Portugal conhecer o seu correspondente português, que tinha nas cartas que enviava para Amesterdão extravagância suficiente para justificar a viagem. Foi instalá-los num pequeno hotel da Avenida 5 de Outubro, onde deixaram as bagagens, e só depois seguiram os três de táxi para a Rua da Escola Politécnica. Quando chegaram à galeria, Vieira e Arpad já haviam saído, pois partiam nesse mesmo dia ou na manhã seguinte para um passeio pelo norte do país. Por carta de Cesariny escrita ao casal no dia seguinte, sabe-se que Cesariny e o casal holandês chegaram à galeria logo a seguir à saída dos pintores. Sabe-se ainda pela mesma carta que a exposição teve a visita de Cupertino de Miranda, banqueiro e fundador do Banco Português do Atlântico, e que o autor do texto do catálogo lhe serviu de guia na exposição, aconselhando-o na compra a fazer. Contou no dia seguinte a história a Vieira do seguinte modo ([25]-6-1970; Os gatos comunicantes, 2008: 124): Quanto a Mr. Banquier Cupertino caiu em estado de abelha: queria um quadro muito belo, muito grande, muito caro, e voava, voava, voava. Não havia o que ele queria! Eu disse-lhe que tivesse juízo, disse-lhe que, se tivesse juízo, não perderia o mais ligeiro segundo em adquirir o único quadro que ali estava passível de transacção, o número 5 do catálogo. (…) Deixou de espernear quando lhe disse que um quadro como aquele, de 1950, nunca mais poderia encontrar. O resto foi com o Pereira Coutinho, mestre em abelhas. O quadro a que Cesariny se refere – “o número 5 do catálogo” – era trabalho de 1950, chamado “Vermelho”, um dos que estava para venda directa, já que outros eram empréstimos e pertenciam a colecções privada.
Nesse fim de tarde Laurens e Frida conheceram Cruzeiro Seixas, que tinha responsabilidades na recepção – era o director artístico do espaço – e tinha de guiar várias visitas pelas salas da exposição. Excepcionalmente a abertura da galeria prolongou-se até às 21 horas – em geral fechava às 19 – e só nessa altura o casal holandês teve ocasião de falar melhor com Seixas. Este convidou-os a jantar em Sesimbra e foram os quatro no pequeno Fiat que Seixas então tinha – Mário e Seixas à frente, o casal atrás. Apanharam a ponte em Alcântara e viram a noite a cair sobre a foz do rio. Meteram depois pela velha e escura estrada que por entre pinhais passava a Fernão Ferro, Marco do Grilo, Cotovia, Santana e descia por fim a pique a falésia para Sesimbra. Jantaram peixe fresco numa das esplanadas do porto – duas ou três traineiras tinham acabado de chegar a terra e a praia estava coberta de oleados carregados de espadartes, robalos, sardinhas e outros peixes que eram arrematados por compradores particulares – e regressaram a Lisboa a meio da noite depois duma longa conversa sobre aquilo que mais os apaixonava, o surrealismo e o seu futuro, que continuou no dia seguinte na galeria S. Mamede e no ateliê de Seixas que ficava por cima da Rua do Ferragial, num escalavrado pátio que tinha um miradouro para a Rua do Alecrim e para onde os dois amigos levavam nas horas vagas os marujos que chegavam na vedeta do Alfeite e outros engates de ocasião que faziam discretamente por Lisboa e arredores.
A vida dos dois girou nessa época quase em exclusivo em torno da galeria S. Mamede – um a receber como funcionário da casa e outro em vias de fazer com ela contrato de exclusividade. Eram eles que escolhiam exposições e artistas, que compravam as obras para o fundo da galeria, que faziam os catálogos e as visitas guiadas, que planeavam as viagens a fazer e tratavam do grosso da correspondência. A ligação dos dois a Francisco Pereira Coutinho foi nesta época diária. Qualquer história de Portugal diz que correu muito dinheiro em Portugal na segunda metade da década de 60. O comércio com o Ultramar, as exportações para a Europa ocidental, o surto de industrialização, a concentração monopolista, o incentivo ao consumo fizeram desse período um ponto de referência do capitalismo em Portugal. Uma forte burguesia monopolista e financeira apareceu então interessada em investir uma parte do seu dinheiro na compra de arte. Foi o caso de Cupertino de Miranda do grupo Português do Atlântico e de Jorge de Brito do grupo Intercontinental Português. Exposições como a de Vieira da Silva, e mais tarde as de Henri Michaux, de Poliakoff, do grupo Phases, de Paula Rego e de Anne Ethuin trouxeram muito dinheiro ao galerista. Em muitas destas exposições que tinham o seu dedo recebia uma comissão sobre as vendas, que podia variar mas nunca era menos de cinco por cento. A exposição de Vieira é um marco na história da galeria e na situação de Cesariny. Bastou a venda dum quadro desta pintora a um banqueiro como Cupertino de Miranda para tudo se modificar. Os apertos em que se vira em Paris no início do ano, sem trocos para pagar o táxi, começaram a ficar para trás.
Esclareça-se a situação de Cesariny e Seixas neste período. Importa ver os contornos exactos da sua realidade social. Eles não eram os donos da galeria e muito menos a aristocracia financeira que decidira comprar arte com as sobras do seu capital. Até o galerista, Francisco Pereira Coutinho, não se confundia aos banqueiros; era só um comerciante que lhes vendia produtos de luxo e metia ao bolso uma parte das transacções. Cesariny e Seixas nem eram banqueiros, comerciantes ou intermediários de arte; eram apenas artistas que criavam obras e faziam exposições. Seixas acabara de fazer na galeria, em Maio desse ano, 1970, o mesmo da exposição de D’Assumpção e de Vieira, com texto do amigo no catálogo, a sua segunda exposição individual em Lisboa desde o seu regresso de Angola, “20 bules e 16 quadros”; um ano depois, em Janeiro de 1971, caberia ao tradutor de Rimbaud expor por sua vez as “iluminações” que trouxera pensadas de Londres mas que só concluiu em Lisboa com as condições que a casa de Pereira Coutinho lhe deu e que pela boa recepção foram decisivas para o contrato de exclusividade que no final do ano estava já em marcha. Pelos contactos em Portugal e na Europa, pela visão dinâmica das suas ideias, pelos vastos conhecimentos no domínio da História da arte, Seixas por uma intuição fulgurante e Cesariny pela muita experiência recente que acumulara em visitas a museus e galerias nas principais capitais europeias, eles eram ainda dois funcionários especializados que trabalhavam para um patrão, o galerista. Eram eles que mantinham fisicamente o espaço, que davam as ideias e estabeleciam a maioria dos contactos e até a mulher da limpeza recebiam e ajudavam nas manhãs em que ela lá ia tirar o balde e a esfregona para lavar a laje do pavimento. Idêntico ou muito próximo fizera André Breton quando na sua juventude servira Jacques Doucet e depois na maturidade se pusera à disposição doutros coleccionadores e negociantes de arte.
Nada disto impediu que a ligação dos dois à galeria de S. Mamede fosse motivo de ataques. No espólio de Seixas que está na Biblioteca Nacional existe uma carta inédita sem data, mas cujo carimbo é de 11-9-1970, quer dizer, do rescaldo da exposição de Vieira da Silva na galeria da Rua Escola Politécnica, carta sem remetente e não assinada mas da autoria de Luiz Pacheco – a letra é inconfundível – e dirigida a “Monsieur Cruzeiro Seixas et Madame Cesariny”. No interior tem recorte do Diário da Manhã, “Cosmopolitismo e lusitanismo na pintura de Vieira da Silva”, de Fernando Pamplona, um crítico de arte alinhado com o Estado Novo, que colaborava ainda na Emissora Nacional com notícias culturais e que era um dos contactos da galeria na divulgação dos seus eventos. O recorte aparece comentado nas margens com alusões à capitulação do surrealismo diante do regime fascista. Esta carta foi enviada numa altura em que Cesariny preparava já a segunda exposição na galeria de Pereira Coutinho. Desde a exposição de Maio de 1969, que Cesariny retomara a pintura e preparara um conjunto de novas obras, diversificando os processos e os materiais. Estava neste momento a dar a última demão às traduções das “Iluminações” de Rimbaud – a edição é de Abril de 1972 e o livro foi lançado na galeria com nova exposição – e porventura a rever já as primeiras provas do livro. Os trabalhos plásticos desse período sofreram assim o choque dos poemas de Rimbaud e alguns apareceram no ano seguinte como ilustrações do livro – “traduções plásticas das Iluminações”, assim informa o frontispício. A nova exposição abriu em Janeiro de 1971 com o título “30 pinturas de Mário Cesariny sendo 14 com títulos colhidos nas “Iluminações” de Rimbaud”. Natércia Freire, coordenadora da página de artes e letras do D.N., fez sair no jornal, reproduzindo uma das obras, uma notícia pessoal da exposição e que abria assim (21-1-1971): Somos de chofre rasgados, batidos, esfrangalhados na sua “Entrada de Cristo em Madrid”. “Entrada de Cristo em Madrid” era o título dum dos trabalhos expostos na galeria (n.º 22). Luiz Pacheco não deixou passar a frase e glosou-a em “Cesariny, o esfrangalhador? … Homessa!”, que retoma a verve violenta e burlesca da paródia “Cesariny muito cansado”, que correu no final do Inverno de 1962 em folha volante e que se destinava a castigar como o leitor lembra a edição de António Maria Lisboa feita por Cesariny na editora da Rua da Misericórdia. Desta vez, recorreu ao mesmo processo de montagem satírica, arredando qualquer pretensão de seriedade crítica, essa que usou na muito sergiana recensão d’ A intervenção surrealista, de Setembro de 1966. Ficou com um soberbo texto de sátira e riso, que correu os cafés e as redacções dos jornais em folha copiada e mais tarde recolheu na colectânea, Pacheco versus Cesariny (1974: 329-330), e é com certeza um dos pontos altos do seu humorismo. Fecha com o seguinte pregão, que é ainda uma glosa à notícia do D.N.: – Real, real, por Dom Cesariny I, o Esfrangalhador de Portugal! Ou do Freixial.
Outro ponto da guerrilha contra a presença de Seixas e Cesariny na galeria de Pereira Coutinho foi o primeiro número do jornal & etc (17-1-1973), “quinzenário cultural”, fundado e dirigido a partir do número 7 por Vitor Silva Tavares, o director literário da Ulisseia que publicara A cidade queimada e A intervenção surrealista. Trata-se dum jornal de boa tiragem, com grafismo de grande qualidade, que tirou 25 números, e muito chegado à sensibilidade surrealista que se desenvolvera na Lisboa do pós-guerra no pequeno círculo dos alunos da escola António Arroio e depois no do Café Gelo. No número de estreia, em nota não assinada, “O que é o surrealismo S. Mamede”, a propósito duma crónica de Vera Lagoa no D.P. (21-12-1972), ataca-se a presença do surrealismo, de Seixas e de Cesariny, na galeria de Pereira Coutinho, fronda que se repete com o mesmo título, “O que é o surrealismo S. Mamede (Bis)”, no quarto número da publicação (28-2-1973). Estas curtas notas, escritas em tom de gozo, numa secção não assinada “A pata na poça”, e que parecem por isso da autoria do principal responsável pela publicação, são apenas uma manifestação de superfície dum mal-estar mais fundo que dava seguimento aos violentos rasgãos da Primavera de 1968, resultantes da fricção inesperada que a divulgação de Comunicado ou intervenção da província provocara no início do ano de 1966, no momento em que a polícia judiciária apreendia e processava a antologia erótica de Natália Correia.
O pequeno desafogo que Cesariny e Seixas então viveram permitiu-lhes relançar alguma actividade editorial em torno do surrealismo em Portugal. Imaginaram então publicar um conjunto de cadernos, em papel tipo mata-borrão, capa em cartolina avermelhada, formato rectangular, com muito mais altura do que largura, tiragem de 250 exemplares, todos assinados pelos dois editores. Desde o início da década de 60 – momento em que lera em Lisboa o livro de Jean-Louis Bédouin – que Cesariny sabia que o surrealismo português estava em risco dum desajuste com a História. O Balanço das actividades surrealistas em Portugal (1950) de José-Augusto França arriscava-se a ser a única fonte, ou o ponto de partida de qualquer outra fonte, que o futuro iria buscar para fazer a história do movimento em Portugal. A intervenção surrealista foi uma contra-resposta ao caderno de França. A carta que chegou a Lisboa de Laurens Vancrevel mostrou que o livro cumpriu e que substituiu em definitivo a visão de França. Mas estava ainda muito por fazer e era preciso recolher textos da década do final da década de 40 e início de 50 que haviam ficado fora da colectânea de 1966 – Luiz Pacheco apontou alguns nas duras recensões que fez ao livro – e mostrar que matérias muito mais recentes, até do presente, faziam prova de vida do surrealismo em Portugal. Publicaram então no início do ano de 1971 um caderno de recolha colectiva, Reimpressos cinco textos colectivos de surrealistas em português, um deles, “Para bem esclarecer as gentes que ainda estão à espera, os signatários vêm informar que:”, distribuído em folha volante em 1951 à saída dalguns espectáculos de Lisboa e da autoria de Mário Henrique Leiria e Cesariny, com uma actualização datada de Dezembro de 1970, “Para Bem Esclarecer as Gentes que Continuaram à Espera, os Signatários vêm Informar que:”, assinado por Artur Manuel do Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny de Vasconcelos e Mário Henrique Leiria (texto recolhido no livro Primavera autónoma das estradas, sem qualquer referência a Seixas). A actualização, dada em extra-texto, destinou-se a homenagear o regresso de Leiria a Portugal, que se associou às acções de Seixas e de Cesariny e passou a ser visto de quando em vez na galeria S. Mamede. Pelo prestígio político que tinha – estivera preso em Caxias em 1952, pela acção militante que tivera no Brasil contra a ditadura militar, pelas posições de extrema-esquerda não parlamentar que assumia, pela sua influência até como escritor, Leiria passou a ser uma ponte segura entre os surrealistas desavindos, tanto acedendo ao núcleo que se reunia na galeria da Rua da Escola Politécnica como ao restante que frequentava sobretudo as mesas do Café Monte Carlo.
Nesta mesma colecção de cadernos de formato invulgar, longitudinal, com capa de cartolina avermelhada e papel mata-borrão, tiragem restrita e toda assinada pelos editores, apareceu em 1974, no cinquentenário do primeiro manifesto de André Breton, o caderno Contribuição ao registo de nascimento… (recolhido na segunda edição do livro As mãos na água…), o derradeiro a ser editado. Trata-se duma montagem feita por Cesariny no ano de 1973 e de 1974 com os materiais epistolográficos de 1947 e 1948 do seu arquivo e que é hoje a principal peça existente para se fazer a historiografia do Grupo Surrealista de Lisboa sobretudo no momento do seu nascimento. Com base em documentos novos e fiáveis, com estatura idêntica aos que aí são apresentados, nenhuma outra surgiu depois a contestar nem pouco nem muito qualquer ponto aí avançado.
No Verão de 1971, saiu novo livro de Cesariny, 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão seguidos de Poemas de Londres. É o último assinado por “Mário Cesariny de Vasconcelos”. Depois dele, o apelido final, paterno, desapareceu para sempre. A antologia do ano seguinte, Burlescas, teóricas e sentimentais, é assinada só por “Mário Cesariny”. Limpar do seu nome de autor o apelido do pai foi o seu derradeiro acto público anti-edipiano. Tinha quase 50 anos. O livro, a bem dizer uma antologia, é constituído por duas partes distintas: os 19 projectos de prémio (selecção de poemas das décadas de 40 e 50, alguns colectivos) e os poemas de Londres, escritos na Rua Walton, trabalhados no estúdio dos Priors e concluídos no período final de Chelsea e que acabaram integrados na colectânea final de Pena capital (1982; 2004). O livro deu pela primeira vez a conhecer poemas da sua primeira colectânea, “Burlescas, teóricas e sentimentais”, anterior à adesão ao neo-realismo e que foi a primeira que ele seriamente pensou publicar – por isso a mostrou a Gaspar Simões – e a única que sobreviveu dos recuados tempos do final da adolescência. Está lá o poema chamado “Arte poética”, que nas edições finais da poesia de Cesariny se integrou em “Romance da praia de Moledo” da colectânea final Manual de prestidigitação (1981; 2005). O novo livro foi editado por uma livraria de Lisboa, a Quadrante, na Avenida Luís Bívar, e para o lançamento o autor promoveu um baile no espaço. Maria Teresa Horta entrevistou-o logo de seguida para o suplemento “Literatura & Arte” do jornal A Capital – foi nessa entrevista que se referiu à actuação de Ginsberg no recital de 11-6-1965 no Albert Hall de Londres. Aproveitou então para se desforrar de Gastão Cruz, o crítico que lhe sovara A cidade queimada. O poder da sátira em Cesariny era assassino. Uma única frase dele desmoronava uma muralha. Assim sucedeu com “Novo Cancioneiro”. Os poemas de Nicolau Cansado, curtos e de poucos versos, fizeram mais pelo descrédito do neo-realismo que qualquer tratado teórico. Desta vez limitou-se a inverter dois números. O efeito foi porém fatal. Ao enumerar os presentes na livraria, disse assim (4-8-1971; texto recolhido em As mãos na água…): Noutro sector, um pequeno representante da chamada Poesia 61 ficou todo o tempo à porta da rua (lado de dentro). Observando tão estranho procedimento fui ter com ele, admoestando-o, dizendo-lhe que gozasse um pouco a vida, homenagem que o homem não entendeu, não aceitou, perseverando num mutismo de fazer recta paralela à imobilidade assumida. Aí achei-o demais e chamei-lhe Poesia 16, que é o que realmente penso, sobretudo no caso do Gastão Cruz, daquilo a que G.C. chama Poesia 61.
Pouco antes desta entrevista, Nelson de Matos acabava de lhe fazer uma crítica arrasadora ao livro e à apresentação (“O Jardim da Celeste”, D.L., 29-7-1971). É uma paródia hirta, que não chega a ter a graça, a leveza e a inventiva dos grandes momentos de Luiz Pacheco no “Cesariny muito cansado”, no “esfrangalhador do Freixial” e até mesmo na “moça” da Rua Basílio Teles. Retoma-lhe porém a argumentação – o Cesariny do presente nada tem a ver com o do passado. Diz: Ele, o poeta, olhamo-lo como quem recorda um cheiro, uma paisagem, um rosto conhecido. Algo que definitivamente passou. (…) Cesariny já não sabe onde é que está. É a imagem dum passado o que as câmaras da têvê nos metem pela casa dentro. É assombroso como um poeta com a força verbal do autor de Pena capital, com a autenticidade do seu verso, levou nos jornais tosas tão cruas e duras. Não lhe bastaram as meias palavras de sacristão dum Óscar Lopes falando em 1952 do seu “amoralismo literário”; foi preciso apanhar com o suplício dum inquisidor, queimando-lhe as cinzas dum livro já queimado, e com a brutalidade dum fidalgo que em vez dum baile na livraria queria uma corrida de touros na praça. O génio é sempre um escândalo e há-de por força ser maltratado pelos acomodados. O insulto não faz o génio mas é o seu certificado. Cesário Verde é mais Cesário por lhe terem chamado amarelo e o Nazareno só tem a seu favor o facto de o terem crucificado! É de desconfiar dos grandes que passam por este mundo tratados a açúcar e a seda. Ai dos que não forem gozados nem insultados!
No Inverno de 1972, Cesariny trabalhou em novo projecto editorial com Seixas, dando seguimento ao caderno do ano anterior, Reimpressos cinco textos colectivos de surrealistas em português, que saudara a chegada a Portugal de Mário Henrique Leiria e continuara a tarefa de dar a conhecer documentação surrealista portuguesa ignorada pela historiografia de José-Augusto França. Desta vez decidiu ir à prosa de Teixeira de Pascoaes colher as frases mais impressivas e fazer com elas um livro de aforismos. Os aforismos são faíscas que resultam da fricção das letras. Não se podem acumular, a não ser à custa da eficácia. A rijeza das palavras é como a do sílex: só resulta num alto grau de isolamento. Demais a insatisfação do surrealismo sempre precisou de criar uma genealogia própria, uma família só dele, que antes não existia ou não se via. O cânone vulgar, aquele que as opiniões críticas das gerações anteriores construíram, o cânone que se lega e se transmite, não lhe servia. À luz da singularidade dos seus valores, ele precisou de descobrir a sua estirpe, de inventar os seus antecedentes, de afirmar que em cada geração do passado havia um cânone oculto à espera de ser revelado. Pascoaes foi esse escritor arrancado à zona de sombra dos livros reconhecidos, um santo herético que chegou às escrituras pela mão dos surrealistas. Leram-no, editaram-no, comentaram-no, expuseram-lhe a pintura, frequentaram-lhe a casa e a aldeia em que viveu, transformaram-no no mane oculto do surrealismo em Portugal e brindaram-no com um culto contumaz de fogo. Embora sem procissão sequente de defuntos, esta exumação fez sensação e um surpreso João Gaspar Simões – ele que fora um dos coveiros do poeta do Marão – chegou a afirmar que a descoberta era “sensacional” (D.N., 23-11-1972).
Em carta de Março de 1972 para a Casa de Pascoaes expõe assim a sua ideia para o novo caderno (Cartas para a Casa de P., 2012: 40): o meu projecto que o João aprovou de publicar uma pequena colheita de Aforismos do Poeta e senhor seu tio. Pequena: explico-me: não posso ou não quero e não sei, ou não estou, numa recolha exaustiva. Para isso, parece-me, há a própria obra do Poeta. Será antes, ao mesmo tempo que uma singela homenagem, uma revelação, até certo ponto revelação, como podem surgir-nos penedos preciosos desengastados da montanha. Contou com livros emprestados por João Vasconcelos, pintor e herdeiro da Casa de Pascoaes, e por João Pinto de Figueiredo, o coleccionador de Lisboa que acabara de prefaciar o catálogo da exposição D’Assumpção na galeria S. Mamede. A ideia era fazer um caderno rectangular, longitudinal, com as características do anterior: subida altura e apertada largura, papel grosso, escuro, tipo mata-borrão, capa em cartolina almagre a descair para o rosa. Ainda em Março em carta para Laurens Vancrevel deu conta assim do plano (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 101): De qualquer modo, e antes de Maio, conto mandar fazer uma publicação de Aforismos, colhidos em Teixeira de Pascoaes, o nosso primeiro e último grande poeta metafísico; será editado também por mim e por Seixas, talvez com dois desenhos, e naquela colecção onde fizemos publicar alguns/cinco manifestos surreais.
Em Abril a recolha estava pronta, faltando só a leitura ou releitura do folheto Guerra Junqueiro, que alguma importância tinha para o meu autor como adiante se verá. A recolha seguiu em Maio para a tipografia Peres, juntando reprodução de licença de isqueiro concedida ao poeta do Marão em 1949 e três ilustrações – uma de cada um dos editores e outra de João Vasconcelos, herdeiro do poeta. A ilustração de Mário Cesariny tem frase-epígrafe: a luz é cada mais/ clara e a treva cada/ mais negra. Na segunda metade de Julho o caderno estava impresso e a 25 de Julho foi apresentado na galeria S. Mamede. Da apresentação ficaram registos na imprensa da época. Assinalem-se dois. Primeiro, João Gaspar Simões (D.N., 23-11-72), assistindo boquiaberto ao regresso dum poeta que a sua geração enterrara e dera por abencerragem; o segundo, Luiz Pacheco, tentando desviar o anúncio do lançamento do caderno surgido no D.N. (27-7-1972) a favor da sua guerrilha, “O que é feito do Argelino” (D.L., 24-8-72; recolhido em Figuras, figurantes e figurões, 2004: 94-5). O texto está longe do efeito humorístico obtido em Janeiro de 1971 com a paródia do “esfrangalhador do Freixial” e talvez por esse motivo o autor se tenha inibido de o recolher em Pacheco versus Cesariny e só muito mais tarde o tenha querido meter em livro seu.
Logo depois da apresentação do caderno, no início de Agosto, Cesariny planeou viajar. Conhecera um jovem nortenho rico, Maurício Macedo, a viver na cidade de Haia, Holanda, e que estava interessado em comprar pintura. É provável que um e outro se tenham encontrado na apresentação dos aforismos de Pascoaes. Macedo era chegado a João Vasconcelos, que esteve presente no acto – era o herdeiro dos direitos de Pascoaes e um dos colaboradores do caderno – e insistiu com certeza na presença do amigo. Tinha pintura exposta em Lisboa pela primeira vez – os originais das obras reproduzidas no caderno foram expostos na galeria. No início de Agosto, Cesariny escreveu para Frida e Laurens Vancrevel dando-lhes notícia da sua próxima passagem pela Holanda. Contava antes passar por Londres, onde Maurício se lhe juntava, seguindo depois os dois para a Holanda. A última saída datava do início de 1970 e destinara-se a preparar a exposição de Vieira desse Verão na galeria da Rua da Escola Politécnica e a estar bem longe da sala do tribunal da Boa-Hora onde decorria o julgamento da edição da antologia poética de Natália e onde ele se fazia representar por Luso Soares. No Verão de 1972 estava desejoso de voltar a sair do país. Eram assim os planos (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 97): Eu irei a Londres daqui a alguns dias – pelo menos é o que eu espero – e um amigo, ou quase, português, ou quase, milionário, ou quase, e meio-louco, que vive em Haia, convida-me obsessivamente. Ele vai a Londres ter comigo. Acabou de me falar pelo telefone. Quer comprar uma pintura boa – uma Vieira – para o papá arqui-milionário… e suplica-me que o ajude. Não sabe nada de pintura.
Entretanto as relações do meu biografado com o casal holandês haviam conhecido novos e importantes desenvolvimentos. Eles haviam regressado a Portugal para uma segunda estadia na Primavera de 1971. Depois desse reencontro as relações estreitaram-se muito. Cesariny em Lisboa traduziu um poema de Vancrevel e publicou-o com um desenho de J. H. Moesman (A Capital, 17-11-1971). Por seu lado, Vancrevel ofereceu aos portugueses a edição do número de Brumes blondes, que apareceu no final do Outono de 1971, com capa de Raul Perez, que Seixas e Cesariny haviam acabado de descobrir em Lisboa e expuseram na galeria de Pereira Coutinho. O volume chegou a Lisboa no final do Inverno de 1972 e o meu biografado agradeceu assim (?-3-1972; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 99): Chegou Brumes blondes. Uma verdadeira publicação. Receio que comece a ser embaraçoso o tanto que te devemos.
Mais determinante para a solidez da amizade e da confiança entre os dois foi a recensão de Laurens à antologia italiana de António Tabucchi, La parola interdetta – poeti surrealisti portoghesi (1971), reunindo traduções de poemas de Alexandre O’Neill, António Maria Lisboa, Cruzeiro Seixas, Fernando Alves dos Santos, Herberto Helder e Cesariny. O estudo introdutório do organizador retomava no essencial as teses da historiografia de França com um surrealismo em Portugal centrado no G.S.L. e na figura de António Pedro, o que desagradou muito ao homem da Rua Basílio Teles. Depois do que se passara com Jean-Louis Bédouin e com José Pierre – este repetira os erros de Bédouin no livro Le surréalisme (1967) –, via a ressurreição das proposições de França e num momento em que nada fazia esperar que isso ainda pudesse suceder. Foi nesse momento que ele decidiu mergulhar na correspondência do seu arquivo dos anos de 1947 e 1948 para esclarecer de vez a secundaríssima contribuição que à formação do G.S.L. haviam dado Pedro e França. Resultou daí o terceiro caderno que deu com Seixas, Contribuição ao registo de nascimento… (1974). Sentiu-se vingado com a nota de Laurens Vancrevel na revista Gradiva, que cortou rente as razões do organizador e deu a ler a versão dos factos que a colectânea A intervenção surrealista começara a construir. Na Primavera de 1972, na carta em que lhe agradeceu a nota, não lhe poupou elogios (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 93): Do que te quero falar (…) é da tua pequena nota para a Gradiva sobre a antologia Tabucchi. É excelente. E se eu próprio te digo, é porque é a primeira vez que alguém – tu – deita fogo às miseráveis urtigas que os digníssimos Pierres, os digníssimos Bédouins e os digníssimos Misère têm por hábito deixar crescer no estrangeiro à conta do surrealismo português. Com J.-A. França a ajudar. De partida para Haia nunca Cesariny deixaria de encontrar os Vancrevel que viviam em Amesterdão, a poucas dezenas de quilómetros da cidade portuária.
Embora o projecto inicial fosse voar para Londres, acabou por ir directamente para a Holanda. Numa carta a João Vasconcelos, com quem na altura alugara um ateliê na Calçada do Monte, o seu primeiro ateliê a sério e que será o seu “grande” ateliê de sempre, escrita já em Agosto, a Inglaterra perde terreno a favor da Holanda. E a 11 de Agosto já estava em Haia há vários dias, em casa de Maurício Macedo. Nesse dia, sexta-feira, escreveu duas cartas a Seixas. Por uma delas se fica a saber que já estivera pelo menos duas vezes em Amesterdão, já encontrara Frida e Laurens, já visitara vários museus – o Rijkmuseum com a maior colecção de pintura holandesa do mundo, a Casa de Rembrandt, o Stedelijkmuseum e o Museu Tropical, este com uma grande exposição de arte da Oceânia. Em Haia, no museu local, ficara deslumbrado com uma retrospectiva exaustiva da obra de Mondrian. Uma das facetas que mais o impressionavam no país era a limpeza. Não se via um único papel a voar no vento. Estamos numa altura em que em Lisboa o lixo se punha ao fim da tarde nas ruas embrulhado em jornais – as folhas do D.N. eram então quase de metro – que os animais vinham depois remexer ao longo de horas. A carroça da recolha só passava de madrugada. O encontro com os Vancrevel foi exaltante e na carta que então escreveu para Seixas diz (11-8-1972; Cartas de M. C. para C. S.., 2014: 289): Os Vankrevellers foram e são admiravelmente nossos. Sente-se, mesmo, uma forma de dor aguda (uma certa aflição) por não podermos ou não sabermos ser mais nesse sentido. Fizemos uma noite em Amesterdão em que só faltou irem para cima dos telhados da cidade, para se mostrarem ou serem comigo.
Nessa sexta-feira de Agosto já conhecia Ted Joans, poeta e músico afro-americano, que estava então de passagem em Amesterdão, talvez em casa dos Vancrevel, e que ele abanara de forma entusiástica no prefácio da colectânea de 1966. Joans era um dos mitos vivos do surrealismo. Depois de se interessar pelo jazz e colaborar com Charlie Parker e Archie Shepp, conhecera André Breton em 1961 e aderira ao movimento. Breton saudou-o então como “o único surrealista afro-americano”. Cesariny fez questão de na introdução d’ A intervenção surrealista transcrever uma longa carta dele. Dois anos depois colaborava na revista surrealista L’Archibras (n.º 3, Março, 1968) com um manifesto, “Black flower”, que um ano depois foi acrescentado e editado em livro em Paris. Mas talvez o mais tocante na figura de Ted Joans fosse a sua forma de viver, que ele equiparava a um único e longo solo de jazz. Deixara os Estados Unidos no início da década de 60, onde criara reputação de músico e de poeta beat – publicara Beat poems em 59 e The hipsters em 61 –, passara a correr na Europa, vivera na Nigéria e no Mali, comprara uma pequena casa em Tombuctu, tivera um filho em Gibraltar, andava agora pela Europa e pelos Estados Unidos, de costa a costa, a promover as suas obras – tinha livros editados em Dakar, Tunes, Nova Iorque, Londres, Paris e Amesterdão – e a envolver-se em acções surrealistas. O encontro com Joans em Amesterdão foi um dos momentos altos da viagem. Descreveu-o assim na carta para Seixas (idem, p. 291): Surpresa monstra e encontro encantador foi ver e falar Ted Joans, em Amesterdão. Vê-lo-ei de novo no próximo domingo, mais devagar e mais forte. Ele quer – ele mesmo propôs – combinar coisas. O afro-americano passou depois disso várias vezes por Lisboa, uma delas em Março de 1985 a caminho de Marrocos, ficando sempre instalado no ateliê da Calçada do Monte, onde a sua assinatura ficou traçada a tinta nos degraus metálicos da escadinha em caracol que levava ao varandim da parte de cima. Cesariny foi um dos colaboradores do número único da revista surrealista que Joans publicou na Alemanha, Dies und das (1983) com um poema, “Autoractor”, traduzido em francês por Isabel Meyrelles, e duas collages de palavras.
O casal Vancrevel tinha férias marcadas para o final de Agosto e mais uma vez em Portugal. Partiam no dia 26 de Agosto e nos contactos prévios sobre a chegada de Mário à Holanda tinham encarado a possibilidade de embarcarem todos juntos no final desse mês. Antes de deixar Lisboa, a 3 de Agosto, Cesariny recebera uma carta do casal a falar-lhe das semanas de Setembro que contavam passar em Portugal. Respondera no mesmo dia, garantindo que assim regressavam juntos. Penso que podemos regressar os três juntos a Portugal, no final do mês de Agosto – diz ele (idem, 2014: 102). Já na Holanda, deslumbrado com os museus, decidira ficar e para isso escreveu a Seixas dando-lhe indicações sobre a chegada do casal. Os Países Baixos, que ele nunca chegara a atravessar na época das correrias alucinantes entre Paris, Londres, Madrid, Grenoble e Lausana, atraíram-no muito mais do que ele esperava. Amesterdão era uma síntese de Paris e de Londres, com um travo de arenque fumado que só ali existia e que devia já lembrar as turfas geladas da Escandinávia. O recheio dos museus era riquíssimo. Parecia tratar-se dum povo que enriquecera tanto nos séculos do comércio que agora não tinha mais com que se entreter senão com o cuidar dos seus museus. Sobre este clima de lazer pairava uma sexualidade livre, exposta, um clima de erotismo permanente e escaldante, que ele nunca vira – nem mesmo em Londres, no momento alto do psicadelismo, em 1968. Na carta para Seixas fala em “clubes de bichas louquíssimas” e em “saunas” – mais tarde, numa carta a Frida, dirá que “a sauna nocturna é tudo o que resta, ou (re)começa, do Falanstério de Fourier” – que terão feito mais que os museus para que ele perdesse a vontade de regressar a Lisboa à pressa. A Holanda é um país demasiado frágil para perder tempo e se entregar a confusões. O prazer e a tolerância são pois dois dos seus valores estruturantes. Ora quando um lugar conseguia interessar o meu biografado era impensável deixá-lo por lá duas semanas. Assim acontecera com Paris em 1947, para onde fora em Agosto e donde só regressara no fim de Outubro, e assim sucedera com Londres, onde chegara a estar e por duas vezes mais de meio ano de seguida. E assim voltou a suceder na doce Holanda das loiras brumas em Agosto de 1972.
Decidiu pois ficar. Os Vancrevel insistiram em recebê-lo no apartamento da Rua Ruysdaelkade, perto do Rijksmuseum, no seu regresso de férias. Assim aconteceu e ele passou um período do mês de Outubro com o casal. Repetiu-se então o que já sucedera em Londres e em Paris, e até em Haia, com as suas estadias em casa de amigos. Só que desta vez era hóspede sempre acompanhado. Os Vancrevel levaram-no a tudo o que era sítio e deram-lhe a conhecer Kristians Tonny e Rik Lina – o primeiro, nascido em 1907, amigo de René Crevel e de Georges Hugnet, organizara nos Países Baixos a exposição internacional do surrealismo de 1938; o segundo, mais novo, nascido em 42, era um jovem amigo de Laurens, que colaborava na revista Brumes blondes, estudara litografia e pintura na Academia Gerrit Rietveld e acabara de fazer numa galeria da cidade a sua primeira exposição individual. Ambos tinham oficina de trabalho em Amesterdão – Tonny era filho da cidade e nela faleceu em 1977 –, o mais velho num salão transformado em apartamento, com as paredes pintadas de paisagens com animais e humanos distorcidos, e o mais novo no andar médio dum grande armazém comercial do século XVII, com cerca de dezasseis metros de fundo e cinco de largura. Com as paredes forradas a tijolo caiado e pesadas vigas de madeira que sustentavam o tecto, o espaço fazia lembrar a plataforma dum navio imenso em movimento. Conheceu ainda Her de Vries, fundador do grupo surrealista holandês (1959) e responsável com Vancrevel da revista Brumes blondes. Vivia em Amesterdão, na cidade velha, no segundo andar dum prédio com vista para um canal, numa casa pequena, atulhada de livros, pinturas, objectos, recordações e caixas que ele mesmo fazia.
Cesariny regressou a Lisboa já na segunda metade do mês de Outubro. Conhece-se uma carta para Frida do final de Outubro anotando o livro de Ramalho Ortigão sobre a Holanda, que foi a leitura no regresso a Portugal. Leu-o de lápis na mão, não tanto pelo livro, que em carta posterior avaliou com desplante de “mauzinho”, descaramento nele previsível, mas pelo que acabara de viver ao longo de três meses. A carta só foi enviada com a que se lhe seguiu, de 15 de Dezembro, em que faz o balanço da sua estadia em Amesterdão. Estava passado mais de mês e meio sobre o seu regresso a Lisboa mas as imagens do que vivera na cidade dos diques estavam ainda muito presentes no seu espírito: (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 109): Mas aí, na vossa Amesterdão, senti-vos tão vivos! (…) E vocês foram formidáveis comigo. E gosto perdidamente de Rik Lina, e mesmo desse Tonny muito mauzinho que está sempre a tentar morder-te os olhos. Lina tem um ateliê grande como um grande navio, e uma mulher (encantadora!). Tonny é a licorne sequiosa por uma gota de luz negra. A casa de Her de Vries foi evocada no final dessa carta desta forma (idem): Her de Vries é a casa do gato. (…) A vertical fica-lhe muito bem. Como as telhas e a rua-canal, boulevard dos gatos (…). Sonho em levar-lhe, se voltar a Amesterdão, quatro gatos dos mais desorientados (nascidos em Lisboa).
A estadia na Holanda não foi apenas uma questão de férias. O pretexto inicial foi ajudar Maurício Macedo a comprar pintura e na carta a Seixas de 11 de Agosto há indicações de que pode estar em marcha uma operação que redundará numa nova exposição em Lisboa. Demais, a Holanda era um dos raros países da Europa em que alguns dos surrealistas do período anterior à guerra continuavam activos. Joop H. Moesman, que descobrira o surrealismo num ano mítico, 1929, estava vivo e continuava a criar. Era um caso absolutamente insólito – fizera vida profissional como litógrafo dos Caminhos-de-Ferro e a bem dizer nunca expusera até 1961. Não era um artista credenciado pela crítica e pelos organismos artísticos mas um franco-atirador, que durante anos construíra na sombra uma obra pessoal, influenciada às escondidas pelo surrealismo, e que todos reconheceram depois como genial. Van Leusden, nascido em 1886, trânsfuga do cubismo e do construtivismo, continuava a trabalhar e em ligação com os mais novos do grupo Brumes blondes. E havia ainda Her de Vries, Rik Lina e Kristians Tonny. Pereira Coutinho, contagiado pelo entusiasmo dos seus empregados, interessou-se pelos catálogos e reproduções chegados da Holanda e planeou uma operação comercial com os artistas holandeses. Estava já programada uma exposição para o início de 1973 com Henri Michaux – que acabou por ter lugar no Verão. Em Dezembro já o galerista congeminava uma compra em larga escala de pintura surrealista holandesa para enriquecer o fundo da galeria e ter um trunfo de parte para futura exposição. Em Janeiro, com o balanço comercial feito, Pereira Coutinho decidiu investir em força no surrealismo holandês e deu luz verde aos seus dois empregados. Em 12 de Janeiro já o meu biografado garantia por carta aos Vancrevel a partida próxima para a Holanda ao serviço do galerista e desta vez com Seixas (idem, 2017: 113): Quer dizer que no próximo dia 24, de nome quarta-feira, Seixas e eu estaremos em Amesterdão, pagos por Coutinho, a estabelecer os contactos necessários para uma exposição de Amesterdão em Lisboa. (…) Enfim, de momento, é esta alegria de um novo encontro, e pedimos-te (vos) humildemente que nos arranjes um pequeno hotel, dos mais em conta na cidade, com um quarto para mim e outro para Seixas. (…) Quero dizer que, com Coutinho, ainda não é o Ritz, mas connosco também não. Creio que ficaremos de quarta a domingo.
A viagem realizou-se na data prevista e Seixas e Cesariny chegaram ao aeroporto de Amesterdão, onde alugaram um carro para as deslocações. Cesariny nunca tirou a carta de condução. Só aí se vê a sua incompetência para a vida prática e quanto havia nele de gato e de gato ilegal. Nascera em Agosto, sob o signo do Leão, não por gosto de reinar mas por ser felino e selvagem. Na sua juventude andou sempre a pé ou de eléctrico e nunca se preocupou de carro. O seu interesse por máquinas parava na bicicleta, que funcionava à força de músculos e não precisava de carta – essa mesma bicicleta em que ele se passeara com Carlos Eurico da Costa na Primavera de 1950 na casa da barca do Lago, de Eduardo de Oliveira. Era demasiado poeta para se poder interessar por uma coisa tão linear e funcional como o código da estrada. Ao invés, Seixas era um prático. Começara a trabalhar muito novo como amanuense – aos 16 anos já há no seu processo da escola António Arroio certificados de trabalho – e tirara logo a carta de condução. Em Angola fizera milhares de quilómetros de picada num Volkswagen à procura de arte primitiva, que no regresso, em 1964, deixara nas mãos do industrial Manuel Vinhas. Foi dele pois a ideia de alugarem carro. Sentia-se bem ao volante e era um piloto experimentado e habilidoso, capaz de conduzir o seu pequeno carro da altura, um Fiat, em qualquer pequena rua de Alfama. Compraram litografias a Rik Lina impressas manualmente – segundo Lina toda a sua produção da época foi vendida nesse negócio. Visitaram a oficina de Tonny, que lhe servia de habitação – vivia com um tucano tropical, todo negro, de bico amarelo, que dava gritos assustadores – e lugar de trabalho. Compraram-lhe desenhos a tinta-da-china, feitos segundo uma técnica inventada por ele no final da década de 20. Visitaram ainda Moesman e Van Leusdan, que viviam em aldeias retiradas, o primeiro nas margens do rio Lek, um afluente do Reno, numa casa rural desenhada pelo próprio, e o segundo, antigo professor de desenho de Moesman, numa moradia do século XVIII, perto da aldeia de Maarssen. Compraram mais litografias e desenhos a tinta-da-china, adquirindo assim uma variada colecção do surrealismo pictórico holandês. Antes do regresso estiveram ainda no apartamento de Her de Vries, que o meu biografado tomava por um irmão gémeo de Pedro Oom tantas as parecenças físicas entre os dois. O riquíssimo acervo adquirido nessa viagem foi depositado no arquivo da galeria e ficou à espera dum espaço na programação para ser exposto. A chegada do 25 de Abril – Pereira Coutinho chegara a prever para o Outono de 1974 a exposição – e as mudanças que então ocorreram na galeria vieram impedir a exposição. Parte desse material foi adquirido então a preço de saldo pelos dois empregados da galeria.
Pouco depois do regresso a Lisboa, Cesariny abriu nova exposição de pintura na galeria S. Mamede, com novas obras, fruto do seu trabalho no ateliê da Calçada do Monte, que alugara a meias com João Vasconcelos na Primavera de 1972. Foi este o primeiro que ele considerou efectivo, o primeiro que lhe permitiu pintar e trabalhar fora de casa. Numa carta para Vieira e Arpad, numa altura em que se vira em risco de o perder, por falta de dinheiro para pagar a renda, descreveu-o assim (2-12-1976; Os gatos comunicantes, 2008: 135): quando apanhei aquele ateliê foi uma alegria por dentro e por fora. Foi o meu primeiro ateliê mais a sério, já se podia pintar, embora um bocadinho de viés. Em baixo, a porta de entrada, uma janela, uma chaminé de cozinha e logo ao lado os despejos. Em cima, de uma escadinha, com varandim de ferro, não se sabia o que era. A cor das paredes e também o feitio era de submarino. Segunda janela, e maior, para o mesmo pátio. A entrada para o conjunto, desde a porta da rua, era mais ou menos por Marrocos. O ateliê, à saída da Mouraria, a caminho do bairro da Graça – as traseiras do quartel da Graça viam-se da porta de entrada do prédio –, ficava num pátio com várias oficinas no rés-do-chão, muita agitação e ruído durante o dia, desde o barulho das serras mecânicas do carpinteiro a um cão branco que ladrava sem freio sempre que alguém assomava à entrada do pátio. Ao fim tarde o sossego descia e à noite só se ouvia de quando em quando o serrabulho dos gatos nos telhados. Já nessa época João Vasconcelos usava pouco o espaço – vivia numa freguesia de Amarante, tinha relações no Porto mais do que em Lisboa e o espaço só a princípio lhe interessou e mais para convívio com amigos do que para trabalhar. Cesariny tanto aproveitava o ateliê para levar os amigos e os amantes – alguns vinham dos bairros próximos que tinham uma copiosa fauna de adolescentes desocupados – como para pintar e ouvir música. Num móvel da entrada tinha discos e gira-discos. Preferia deixar o andar da Palhavã, com a misteriosa clarabóia em vidro do telhado mesmo ao pé da porta de entrada da casa, à velha mãe que fizera 80 anos em 1971 e à irmã Henriette. Ia comer à Rua Basílio Teles – sempre preferira a cozinha de casa e sofria desde há muito de problemas gastrointestinais – mas acontecia dormir na Mouraria. Não tinha carro mas nesta época já quase só se deslocava de táxi ou a pé. Nunca o vi numa carruagem de metropolitano – usava porém eléctrico e autocarro e durante muitos anos continuou a tirar Passe da Carris – mas lembro-me de o ver em Entre Campos, à saída dum teatro que havia na Feira Popular, de boné na cabeça, à espera de táxi.
A sua nova exposição de pintura abriu a 15 de Fevereiro com recepção à imprensa e beberete. Chamava-se “11 crucificações em detalhe – 3 afeições de Zaratustra – Retrato de Jean Genet”. Esteve aberta até 10 de Março e contou com boa imprensa – uma das notas, a mais certeira, era da autoria de João Gaspar Simões (O Primeiro de Janeiro, 20-2-1973). Na carta que então escreveu para a Holanda fez o seguinte balanço do acto (16-3-1973; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 119): a minha exposição foi um êxito: quase me matam nos jornais. Coutinho, fraco, muito fraco, mas corajoso. Vou reunir alguns artigos de imprensa. Isso pode dar-te uma pré-visão do que poderá acontecer com a exposição de Amesterdão. Como quer que fosse, foi a propósito do beberete de 15 de Fevereiro que surgiu a segunda nota no jornal & etc (28-2-1973), “O que é o surrealismo S. Mamede (bis)”. Aí se diz: (…) o tal surrealismo (virado “artístico”, isto é, tornado inofensivo, mero produto de consumo luxuoso, troca de galhardetes passadistas, pretexto para oportunismos estético-financeiros, cada vez mais cadáver de museu ou de gabinete milionário) mostra a sua face vácua, a sua demissão, a sua mentira.
Esta ideia de que o surrealismo em Portugal em 1973 se demitira da sua luta – lembre-se a carta anónima que pouco antes chegara à galeria dirigida a “Monsieur Cruzeiro Seixas e a Madame Cesariny” – e fossilizara em inofensivos quadros de museu actualizou as teses de Luiz Pacheco sobre o livro A intervenção surrealista, teses que foram por sua vez um transfert do que se passara a propósito do “comunicado” do mesmo Pacheco sobre A cidade queimada e que só o conteúdo do livro Pacheco versus Cesariny veio revelar. Mas tal como a colectânea de 1966 nada teve de recuo em relação às antologias anteriores, nem mesmo às acções mais ousadas do final da década de 40, antes as inscreveu no presente como indeléveis actos vivos que faziam parte duma memória comum da rebeldia, também a pintura destas “crucificações” de 1973 choca como a palavra de Genet. Esta é a época em que o surrealismo do homem da Palhavã se alarga e renova com a revolta dos Rosemont de Chicago. Os equívocos que tiveram lugar de 1966 a 1972 – primeiro os materiais de A intervenção surrealista, depois a edição do Sade de Ribeiro de Mello e os episódios em torno do texto crítico de Virgílio Martinho no J.L.A. e por fim a actividade da galeria S. Mamede – impediram nesta época o mais modesto trabalho colectivo. Um jornal tão vivo e tão criativo como o & etc de Vitor Silva Tavares, que durou dois anos, tirou 25 números e tocou um público vasto e jovem, acabou por nunca contar com a colaboração do autor de Pena capital, isto numa altura em que teria sido possível canalizar através dele toda a novidade do surrealismo mundial com centro no Illinois. Hoje isto afigura-se-nos incompreensível mas na época todos juravam que fazia todo o sentido. Havia dois grupos em guerra desde 1966 e um deles alimentava os seus ataques com tudo o que lhe vinha à mão.
A extraordinária riqueza material de Cesariny, que foi uma das ofensivas que então contra ele se lançou, não passava de fábula forjada. Tudo o que ele possuía vinha das vendas dos quadros e do ordenado à peça que recebia dos serviços que prestava na galeria. Já se sabe que um engenheiro têxtil da época ganhava mais do que ele. Na melhor das certezas, dava-lhe para fazer viagens, ficar instalado em hotéis baratos, comprar cigarros, andar de táxi, ele que nunca teve carro, comprar o passe, pagar a oficina da Calçada do Monte que já então estava por inteiro a seu cargo. Dois anos depois, em 1975, já nem sequer dinheiro tinha para saldar a pequena renda mensal do ateliê e esteve cerca de oito meses a dever ao senhorio. Se não o perdeu, foi porque a Fundação Gulbenkian lhe liquidou as rendas em atraso. No Verão de 1973 conseguiu alugar uma casa na Cotovia, perto de Sesimbra, para dar o prazer à mãe de sair umas semanas da Rua Basílio Teles. Qualquer um com um pequenino ordenado de amanuense conseguia fazer o que ele fez nesse Verão. Comprar casa na praia para passar os fins-de-semana e as férias não estava na época ao seu alcance. Só muitos anos depois, em 1992 – a data da escritura é de 4 de Setembro desse ano –, já a mãe partira, pôde comprar casa no espaço mítico da sua liberdade juvenil, a Costa da Caparica, um segundo andar na Rua Gil Eanes n.º 38, no centro da povoação, para se retirar às temporadas com a irmã Henriette. Da sua espalhafatosa riqueza foi tudo o que ele viu.
Depois do fecho da exposição, pouco tempo se aguentou em Lisboa. O seu horóscopo tinha Júpiter em casa nove – a das viagens. É uma posição determinante para o enriquecimento da personalidade através dos contactos com o estrangeiro. Na verdade, ao longo de 10 demorados anos, entre 1964 e 1974, ele não fez senão viajar com os inevitáveis intervalos para se retemperar em roupão ao pé da mãe. Compreende-se assim como doloroso para ele foi a residência fixa e a impossibilidade de deixar o país no lustro da década de 50 em que a polícia o obrigou a apresentações regulares no Torel. Na segunda metade de Abril já estava em Madrid, de novo em casa de Francisco Aranda. Conhecera Madrid em 1963 – de que ficou o texto então apresentado a um colóquio de escritores e uma carta a Virgílio Martinho – e regressara no ano seguinte, antes da temporada em Yèvre-le-Châtel na companhia de Arpad, Vieira e Lacerda. Interessavam-lhe sobretudo os museus e as galerias. Num espaço acabado de estrear viu uma exposição, “Surrealistas do Novo Mundo”, com o cubano Wilfredo Lam e o chileno Matta Echaurren, que o entusiasmou. Sonhou de imediato com uma exposição idêntica em Lisboa e escreveu a Seixas, convidando-o a juntar-se-lhe. Queria comprar pintura de Matta em quantidade – cada quadro ficava em cerca de duzentos contos (mil euros) – para expor em Lisboa. Embora Seixas se lhe tivesse juntado na primeira metade de Maio, acabou por não concretizar o projecto, pois Pereira Coutinho, por iniciativa dos dois, estava nesse momento a negociar quase todo o fundo de Édouard Jaguer, do movimento Phases, onde até trabalhos de Marcel Duchamp existiam, vindo a realizar com o material adquirido várias exposições na galeria, uma já no início de 1974, com collages de Anne Éthuin, esposa de Jaguer. Demais, o galerista acabara em Janeiro de realizar uma compra de peso na Holanda, sempre por intermédio dos seus empregados, junto dos surrealistas holandeses.
Já no mês de Maio, Cesariny realizou um velho sonho – voar até às Canárias e conhecer em Tenerife Pedro Garcia Cabrera, Maud, Eduardo Westerdhal e Domingos Perez Minik, a velhíssima guarda do surrealismo local que promovera em Maio de 1935 no Ateneu de Santa Cruz a primeira exposição internacional do surrealismo em Espanha, à qual compareceram Jacqueline Lamba, Péret e André Breton, que registou no livro Amor Louco (1937) o choque impressivo da ilha. Todos estavam vivos – apenas Lopez Torres desaparecera em 1936, assassinado pelos franquistas aos 26 anos, e Agustin Espinosa, o poeta de maior alcance do grupo, em 1939 – e punham gosto na visita. Viviam isolados numas ilhas ao largo da costa africana, sem contactos com o mundo, vigiados ao longe pelo franquismo, todos a caminho dos 80 anos, mas sem nunca perderem a ardente nostalgia da aventura que haviam vivido. Minik escrevia as suas memórias, que deu a lume pouco depois, Facción surrealista española de Tenerife (1975). A viagem foi planeada com Aranda e o seu namorado, Manolo Rodriguez Mateos, nascido em 1938, e à última hora Cesariny convocou Seixas, entusiasmando-o com uma exposição na galeria de Pereira Coutinho do surrealismo canarino. Na carta convite que lhe escreveu não esqueceu o assunto (1-5-1973; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 294): Além do gozo e do gosto, há que ainda és director do Santo Mamede e bom seria seres tu, que andas pago para isso, a botar o termómetro, fazer medidas e levar o despacho.
Esta mesma carta informa que a estadia devia ser duma semana a dez dias, com instalação num hotel de Santa Cruz de Tenerife. Assim sucedeu, tanto na instalação como no tempo de estadia, segundo confirmação oral de Seixas, que acabou por voar a partir de Lisboa para as Canárias com o grupo. Mais uma vez a exposição na galeria S. Mamede, homenageando a vanguarda que recebera André Breton nas ilhas atlânticas, voltou a não andar por Coutinho estar então empenhado na compra do fundo de Jaguer e ter ainda o fundo holandês por expor e por vender. Demais, os contactos com o grupo – na carta convite a Seixas, Cesariny chama-lhes “os moços de Tenerife” – não foi tão pródigo em maravilhas como os dois esperavam. Tinham passado muitos anos desde a estadia de Breton e de Péret na ilha e todos eles se tinham dedicado a actividades inofensivas, centradas na promoção da cultura local, depois da guerra civil. Cesariny comprou uma peruca platinada de senhora, cabelo ondulado até aos ombros, e passeava-se com ela pelos cafés de Santa Cruz. Era um nativo do Leão, com o Sol em conjunção com Vénus, Marte e Neptuno, gostava de chamar a atenção e de fazer escândalo, lembrando à sociedade o erotismo recalcado. Daí a sua admiração na época por Genet. Ficou uma fotografia dos três – Seixas discreto, Manolo displicente e Cesariny de peruca platinada – num café de Santa Cruz, com ar tranquilo, quase de enfado. Seixas confessou-me que num instante deram a volta a ilha de carro e ficaram a maior parte do tempo nas esplanadas de Santa Cruz em longos e vazios conciliábulos de férias.
No regresso a Lisboa, Cesariny escreveu ao casal Vancrevel, dando-lhe notícias e avaliando como positiva a viagem (21-5-1973; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 167): Das coisas várias vistas e sentidas nesta minha viagem a Espanha – e sobretudo o contacto, em Santa Cruz de Tenerife, com os sobreviventes do grupo surrealista (ou para-surrealista) de 1936 – saíram muitas coisas belas que vos contarei quando vierem. Como quer que seja, o mais exaltante da viagem terá mesmo sido o convívio com Pepe Aranda e Manolo Mateos, que se tornou a partir daí e até ao fim da vida – morreu em 2008 – um dos diálogos mais regulares quer de Cesariny quer de Seixas. Laurens ainda se entusiasmou por esse núcleo paleontológico, pedindo os endereços de Garcia Cabrera, Perez Minik e Westerdhal, que Cesariny lhe enviou para a Holanda já em Julho. Atarefado com a vida de editor profissional na casa Meulenhoff de Amesterdão, Laurens nunca chegou a entrar em contacto com o velho núcleo canarino, recolhendo testemunhos, imagens e poemas para um número especial da revista Brumes blondes como ainda chegara a planear.
O Verão de 1973 foi marcado pela exposição na galeria S. Mamede de Henri Michaux, que veio a Lisboa a 6 de Julho para a inauguração e para o lançamento dum livro de poemas traduzido por Natália Correia e que foi lançado na galeria (D.P., 7-7-1973). Houve pouco depois outra viagem marcante. Foi o regresso a Londres, desta vez na companhia de Seixas. Andava desejoso de revisitar a cidade do Tamisa que não revia desde Março de 1969. Na ida à Holanda no Verão anterior acabara por pôr de lado a ida a Londres, o que enterrou um pouco mais o espinho da falta. Desafiou então Seixas a fazer uma incursão à cidade, duas semanas, para verem museus e monumentos, irem ao teatro, marcarem algum encontro com Alberto de Lacerda, que entretanto Seixas conhecera na galeria S. Mamede, passearem pelas margens e as pontes do Tamisa, frequentarem algum clube homossexual, o que já acontecera na viagem a Amesterdão – aqui com ida às saunas. A viagem foi programada entre 25 de Novembro e 9 de Dezembro, 15 dias, com partida de avião num domingo e regresso num domingo. Numa carta aos Vancrevel ele adianta o seguinte para a estadia em Londres (22-11-1973; idem, 2017: 121): Nós chegamos no próximo domingo, dia 25, e regressamos no dia 9 de Dezembro, sexta-feira. Os primeiros oito dias, estamos no Russel Hotel, mesmo ao pé do Museu Britânico, e os dias restantes serão no Mount Royal Hotel, em Marble Arch, Londres, também, claro. O Russell era um dos mais caros hotéis de Londres e foi aqui indicado por brincadeira. Acabaram por ficar numa pensão do centro – nas palavras de Seixas, uma “espelunca” –, num quarto apertadíssimo do sótão, com duas camas, em ângulo recto, e um lavabo minúsculo anexo. Tiveram diárias muito económicas, comendo nos restaurantes mais baratos que encontravam e que o autor de Pena capital já conhecia das anteriores estadias. Seixas acabou por ficar mal dos intestinos e passou duas noites a correr para a retrete, quase sem dormir e sem deixar dormir o amigo.
Cesariny chegou a convidar o casal holandês para se lhe juntar mas Laurens e Frida não puderam deixar Amesterdão naquele intervalo. Seixas recorda esta viagem como uma iniciativa do amigo, que fez questão de lhe mostrar Londres. Na carta que então escreveu para a Holanda, Cesariny insistiu em que a viagem nada tinha a ver com trabalho (22-11-1973; idem, 2017: 121): É preciso esclarecer que esta nossa viagem não tem nada a ver com negócios, ou pseudo-negócios. Será puro recreio! Da vista e do olfacto! Alberto de Lacerda dava então já aulas nos Estados Unidos, vivia ou tinha morada em Boston, mas vinha com regularidade a Londres, onde mantinha um quarto. Seixas recorda um único encontro com ele, num restaurante, durante a estadia. Mesmo Paula Rego, ligada à galeria de S. Mamede e já próxima de Seixas, que a visitava na casa da Ericeira quando a pintora vinha com o marido e o filho a Portugal, não teve qualquer contacto com eles. Sobreviveu uma foto dos dois, numa ponte de Londres, com roupas de Outono, talvez acabadas de comprar nas lojas de Picadilly Circus, e o ar de quem entrou na bruma melancólica da meia-idade – nada que possa fazer lembrar o fogo vivo de riso matinal que é a fotografia de Dácio e Cesariny tirada em Londres oito anos antes.
No início de Janeiro de 1974, Cesariny recebeu um convite da Holanda para participar no Festival Internacional de Poesia de Roterdão desse ano, em Junho. O convite vinha assinado por Adriaan van der Staay, director da Fundação das Artes de Roterdão. Aceitou de imediato, comprometendo-se a enviar livros e poemas para tradução. Cópia desta carta, datada de 31 de Janeiro, foi enviada a Laurens Vancrevel, membro do conselho literário do Festival, e sobreviveu por isso na sua correspondência. Foi nesta mesma altura que recebeu o número da revista Phases com o seu texto “Para uma cronologia do surrealismo em português” em tradução francesa de Isabel Meyrelles, que é uma resposta decisiva à historiografia de José-Augusto França, que António Tabucchi retomara na recente antologia italiana e que merecera a cortante recensão de Laurens Vancrevel. O português foi talvez o primeiro colaborador a receber o seu exemplar, e da mão do seu director o recebeu, pois a revista surgiu em Dezembro e o fundador do movimento Phases veio a Portugal no início do ano para a exposição de collages de Anne Ethuin, sua esposa, no espaço de Pereira Coutinho. Seguiu um postal lisboano para os Vancrevel assinado por Jaguer, Ethuin e os portugueses. Foi nessa estadia de Jaguer em Lisboa que o meu biografado recebeu o seu exemplar da revista, cuja edição foi paga com o dinheiro das vendas feitas à galeria S. Mamede – e isto afirma ele numa carta (23-3-1974) para a Holanda. Doutro modo não teria sido possível a sua saída. No momento em que lhe chegou o convite para Roterdão e recebeu da mão de Jaguer o exemplar da revista Phases com o seu texto vertido para francês, estava ele a ver provas tipográficas do terceiro e último caderno em papel tipo mata-borrão, Contribuição ao registo de nascimento…, de que o leitor já tem notícia e que começara a ser preparado no final do ano anterior e fora interrompido pela viagem a Londres com Seixas. O caderno saiu em Maio, já depois do golpe militar e do início da revolução, com dois extra-textos a recordar o quadro mágico – uma carta de Lisboa a Cesariny de 1950 e outra de Seixas a Lisboa de 1953.
Ao tempo que tudo isto tinha lugar, em Massamá, num andar arrendado em 1970, Luiz Pacheco revia as últimas provas do livro Pacheco versus Cesariny, onde a correspondência de Pacheco e Cesariny que estava no seu arquivo foi publicada. Incidindo nos anos de 1965/66, estas cartas são apenas uma parte dum conjunto mais vasto, que na maioria se perdeu em mudanças várias de casa. E se a correspondência do meado da década de 60 se salvou foi que um bibliófilo do Norte, Laureano Barros, a comprou e a preservou, pondo-a mais tarde à disposição do escritor para a elaboração do Pacheco versus Cesariny. O livro, edição da Estampa, já dirigida então por Manso Pinheiro, saiu depois do 25 de Abril, na segunda metade do mês de Junho, a tempo de estar na Feira do Livro, onde Cesariny o viu e comprou – sobre o assunto ficou uma entrada no Diário remendado de Luiz Pacheco. O lido levou-o a trabalhar nos seus arquivos, preservados no estúdio da Rua Basílio Teles, resultando o livro Jornal do gato, editado no final de 1974 à sua conta mas financiado por Raul Vitorino Rodrigues e em que retomou algumas das anotações sobre o abjeccionismo que pouco antes escrevera no prefácio aos poemas de Buñuel reunidos por Francisco Aranda e por ele traduzidos para português e que saiu antes da revolução, no início de 1974, já com algum atraso.
Já vi escrito que este Jornal do gato não é fiável pela falsificação dos documentos. Cuidado! Em 10 documentos só um foi forjado e esse sem ludíbrio – a continuação da célebre carta de 14 de Agosto de 1966 de Luiz Pacheco a Vitor Silva Tavares, já atrás citada e em que se resumem sem rodriguinhos os argumentos críticos contra A intervenção surrealista. Foi essa a peça do livro que mais magoou o homem da Palhavã, que só então, no livro da Estampa acabado de sair, a conheceu e remoeu. Não há aí engano, já que o pastiche é feito às claras, sem nada escondido. Qualquer leitor percebe que o autor não pode escrever em nome de Pacheco uma carta ao editor da Ulisseia, alterando as linhas do livro Pacheco versus Cesariny, a não ser por falsificação. Trata-se pois duma montagem crítica, não duma impostura. Todos os outros documentos são autênticos e constituem um precioso auxiliar para a historiografia do surrealismo em Portugal, em particular a última carta – sem data mas que tudo aponta ser de Maio de 1966 – a derradeira que Cesariny escreveu a Pacheco e que é indispensável para fazer a história dos retoques finais que o livro de 66, A intervenção surrealista, sofreu. Se o Jornal do gato não tivesse visto a luz, apenas se leria no livro Pacheco versus Cesariny (1974: 259-65) a longa resposta, também sem data, a esta carta. Tudo leva a crer que o destinatário extraviou o original dessa carta – em Maio de 1966 as condições em que vivia nas Caldas da Rainha eram tão precárias que foi obrigado a mudar-se duma boa residência no centro da vila para um lugar dos arredores, o Casal da Rochida, a cerca de meia hora do centro – e por isso não a publicou no livro da Estampa, restituindo apenas aí a resposta que lhe deu e que estava no material que Laureano Barros lhe passou para construir o livro. A carta chegou assim ao presente através da cópia que dela guardou o remetente e que ele decidiu transcrever no seu livro resposta Jornal do gato. Sempre que possível dactilografava as suas cartas com folha de cópia a carbono; também as copiava de formas várias para guardar ou distribuir duplicados e mais tarde passou a fazer fotocópias de certas cartas ou dalgumas notas que enviava.
A PHALA DA REVOLUÇÃO
O caso fortuito que desvia o plano esperado pode trazer um acréscimo inesperado de saídas. Não há boa surpresa nem até deleite sem desagrado inicial, ou pelo menos indiferença. Não acredito no amor à primeira vista. Antes do coup de foudre há sempre uma inércia de frieza. Foram precisos anos de cegueira para Dante pôr os olhos em Beatriz. Em Fevereiro de 1974, a expensas suas, Cesariny teve convite para ir a Paris à grande retrospectiva de Arpad Szenes que abriu no final do mês no Museu de Arte Moderna. Não foi – andava então aflito com as provas de revisão muito demorada do seu caderno com a correspondência relativa à formação do G.S.L. em 1947/48 e que demorou muito mais a sair do que ele previa. Demais havia a ida a Roterdão na Primavera e a falta crónica de dinheiro. Mesmo nesta época, em que recebia quantias regulares da galeria S. Mamede, e não tão pequenas, quase não recorria a conta de Banco – em 1976 tinha conta no Banco Português do Atlântico mas hesitava ao dar o número (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 184) – e o dinheiro que tinha guardava-o em casa, numa gaveta do quarto ou na mão da mãe. Na carta que então escreveu para Arpad lamentou porém a decisão (?-3-1974, Os gatos comunicantes, 2008: 132): Como eu queria poder ver a tua Retrospectiva, ir agora a Paris, ir passar as tardes com ela!
Voltou de seguida a ter novo convite, desta vez de Vieira, que abria no final de Abril uma exposição em Genebra, na galeria Artel. A pintora convidou-o para o jantar íntimo que dava em Genebra no dia 26 de Abril, na pré-inauguração da exposição. Ele chegou a pensar seriamente na ida mas os atrasos com o caderno, a necessidade de acompanhar o trabalho de impressão, o regresso próximo à Holanda, a despesa para uma viagem de ida e volta a Genebra de avião, levaram-no a desistir. Os dias em Londres no Outono haviam-lhe limpo o melhor do mealheiro – não foi preciso o Russell, bastou o quarto do sótão onde ele e Seixas ficaram atravancados – e o que sobrara estava reservado para o pagamento do caderno papel mata-borrão. Quando no final do ano precisou de pagar o Jornal do gato, livrinho de 56 páginas, papel fino e barato, capa a uma cor, não tinha como. Para cobrir a despesa, teve de recorrer a um mecenas, Raul Vitorino Rodrigues. É verdade que pelo meio, a partir de Maio ou Junho, deixou de receber qualquer mensalidade de Pereira Coutinho, o que trouxe de novo aflitivas situações. Viagem e estadia em Roterdão no final da Primavera estavam a cargo do Festival e pagavam-lhe ainda um extra pelas leituras e pela participação nos debates. Chegou a pensar pedir um apoio à Fundação Gulbenkian para se deslocar a Genebra mas acabou por desistir, já que não dava com motivo plausível, a não ser um jantar, para pedido de ajuda. Em carta para Guy Weelen (14-4-1974; idem, 2008: 133) deu conta de todas estas hesitações e da sua lástima em não estar com o casal no jantar de Genebra.
Ainda assim foi o que lhe valeu para estar em Lisboa, quando se deu a queda do Estado Novo. Caso tivesse tido modo de marchar para a Suíça a jantar com Vieira e Arpad, só de longe se daria conta do ruir do seu grande papão – e assim num poema de juventude, dos tempos do M.U.D., tratara ele Salazar. Era o momento mais aguardado pelos da sua geração e desde as manifestações do fim da guerra, há 30 anos, que o esperavam quase dia a dia. Roída de desalento, desanimada por décadas de espera, a maior parte desesperava de ver fim ao fascismo à portuguesa e alguns foram mesmo ficando para trás, pelo caminho, como essa excelente Maria Natália Duarte Silva, colaboradora de Bloco (1946), que faleceu em 1971. Em 1968 – mudava-se nesse momento o meu biografado da Avenida Fitzjohn para Hampstead Heath – Salazar caíra da cadeira, fora internado e afastado do poder mas Estado, Constituição, forças repressivas e guerra em África continuaram. Por isso mal soube que os militares estavam na rua para deitarem o gadanho a Tomás, Caetano e companhia e libertarem os presos políticos de Caxias e de Peniche, desandou a caminho da Baixa e Chiado, de máquina fotográfica na mão. Foi o momento mais aguardado da sua vida e um dos que mais alegria lhe deu. Para os da sua idade foi a concretização dum sonho de adolescência que já não parecia possível aos 50 anos. Das raras vezes em que a máquina fotográfica tem visibilidade na sua vida é no momento da queda do Estado Novo. Quis registar na película o impossível, não como prova de vida da História mas como euforia dela. O impossível é para um surrealista a única motivação da sua vida.
Regressou nos dias seguintes e esteve na grande manifestação do primeiro de Maio – decerto na concentração dos escritores que saiu das traseiras do Instituto Superior Técnico, Avenida António José de Almeida – onde reencontrou alguém que não conhecia e de quem muito ouvira nos tempos da sua juventude, Henrique Ruivo. Destas jornadas ficou pelo menos uma fotografia sua, publicada sem nome de autor no livro de Paulo Madeira Rodrigues, De súbito Abril (1974). Trata-se da tomada na manhã de 26 de Abril das instalações do Diário da Manhã por uma multidão de civis enquadrada por marujos e soldados de arma na mão. Anos depois, em Setembro de 1978, reproduziu a fotografia, dando-a como sua, numa folha, que foi a segunda, do Bureau Surrealista, entidade simbólica criada depois da queda do fascismo. Fez a primeira folha em Junho de 1975 com os seguintes dizeres: “O França é pior do que a NATO; A A.I.C.A é pior do que a C.I.A; A arte é pior do que tudo; fora os doutores”. Estava nessa época isolado e dependente apenas dalgum curioso que lhe batia à porta. Pedro Oom falecera no dia 26-4-1974 – o mesmo em que ele fotografara a multidão na Rua da Misericórdia pronta a deitar a mão às instalações do Diário da Manhã – e Mário Henrique Leiria estava já então paralisado, ou quase, vindo a falecer pouco tempo depois, em 1980. Foi ainda nesse mês de Setembro de 1978 que se deu a ruptura definitiva com Seixas, o seu velho amigo de adolescência e grande parceiro de acção nos anos que antecederam a revolução.
A primeira iniciativa de Cesariny depois da revolução foi uma exposição na galeria S. Mamede evocativa da queda do Estado Novo e da abolição da censura. Tinha acesso a Pereira Coutinho e ao espaço da galeria e decidiu aproveitá-lo de imediato para comemorar a libertação das artes plásticas do peso dos censores. Mais tarde confessou que a ideia foi do galerista – fazer uma exposição saudando a revolução – mas que tudo o resto lhe pertenceu a ele. O galerista telefonou-lhe a 30 de Abril, a meio do dia, para a Rua Basílio Teles – o telefone era então o 770433 – a falar-lhe duma exposição que saudasse o 25 de Abril. Cesariny captou a seu modo a ideia, formou um embrião de comissão promotora – ele, Seixas, Lima de Freitas e Urbano Tavares Rodrigues – e em duas horas redigiu e dactilografou um texto que devia servir de suporte e convite à exposição. Encontrou-se com o galerista e o texto foi policopiado, enviado para a imprensa e distribuído por correio a grande número de artistas. Tive acesso a um exemplar – uma folha A4, dactilografada e copiada a estênsil – que reproduzi no livro Cartas para a casa de P. (2012: 45-48). Cesariny integrou-o na segunda edição do livro As mãos na água… (1985: 325-326). A ideia que está na base do certame é das mais revolutivas em termos de arte e de literatura: realizar uma exposição sem júri, sem prémios e sem qualquer selecção prévia das obras. Era a liberdade em estado absoluto. Qualquer um, artista ou não, exposto ou não exposto, podia participar, desde que estivesse dentro do critério de orientação da exposição – obras de pintura ou de desenho criadas antes do 25 de Abril e que não haviam visto a luz do dia devido à censura ou ao medo dela – surgiram assim à luz do dia muitas obras de natureza erótica – e obras criadas durante ou depois da revolução saudando emocionadamente a liberdade. A galeria recebeu trabalhos até 30 de Maio.
Com o título de “Maias para o 25 de Abril”, a exposição abriu a 25 de Junho com algum atraso – estava prevista para o início do mês – e esteve aberta até ao final de Julho. Cesariny não esteve na inauguração e só a viu em Julho, numa altura em que já nem catálogos havia. Foi nesse período – partida a 18 de Junho, uma terça-feira, e regresso 15 depois, a 2 de Julho, com uma ida no meio a Bruxelas ver a irmã Maria del Carmen, que lá estava com o marido e fazia anos a 24 de Junho – que esteve em Roterdão, no Festival Internacional de Poesia. Só depois de regressar a Lisboa é que foi ver a exposição à galeria de Pereira Coutinho. Numa carta que então escreveu a Ana Hatherly (s/d; espólios da B.N.P.) dá conta que o catálogo esgotou no dia da inauguração e que era necessário reimprimir para o poder enviar ao cuidado de Jasmim, o jovem refractário ainda em Londres e que ele frequentara com adesão nos tempos em que vivera em Chelsea.
Em Roterdão conheceu e conviveu com Marie José e Octávio Paz, com quem se escrevia desde os tempo de Hampstead, e ainda com o poeta africânder Breyten Breytenbach, que no ano seguinte acabaria condenado a nove anos de cadeia na África do Sul – por pressão internacional, ao fim de sete foi libertado e exilou-se em França – e de quem Cesariny traduziu pouco depois uma antologia poética (Enquanto houver água na água, 1979; contrato feito com Snu Abecassis no Outono de 1977) que contou com a ajuda do casal Vancrevel e a colaboração de Adriaan van Dis. No dia da independência de Angola, 11-11-1975, Cesariny registou um longo poema anti-colonialista, “Quinhentos anos de opressão tirânica/ quinhentos anos de imbecilidade despótica”, em que interpela o poeta africânder encarcerado, invectivando a presença branca em África, e que foi publicado pouco depois no jornal A Luta (17-11-1975), “Ao 11 de Novembro e a Breyten Breytenbach preso à ordem do falso governo de Pretória”, e recolhido mais tarde no livro Primavera autónoma das estradas, com leves alterações, incluindo o título que passou a “Breyten Breytenbach”. É um dos seus poemas mais firmes e combativos, a recordar a voz revoltada e altiva que acusa de dedo em flecha – releia-se “Pastelaria” –, invectiva que agora se alarga a todos os continentes, tendo por alvo não um estrato social, o burguês, mas o homem branco no seu conjunto. Comoveu-se com a independência de Angola e deu-lhe um sentido simbólico mais geral – o fim da presença da cultura do Ocidente, que o surrealismo detestava, em África. Ao enviar um cópia dactilografada do poema a Laurens, confessou (?-11-1975; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 156): O 11 de Novembro, dia da completa extinção da tirania branco-portuguesa em África (…) suscitou em mim uma comoção muito viva, e escrevi este poema, metade do qual é dedicado a Breyten Breytenbach.
O longo texto do catálogo da exposição da galeria de Pereira Coutinho, com reprodução de passos de Peter Weis sobre Marat e Sade, pertenceu ao meu biografado e foi reproduzido na segunda edição do livro acima citado. Pelo texto percebe-se como a geração dele foi afinal privilegiada. Não são muitas as gerações que podem acusar às claras um regime de transformar um país “num gigantesco campo de tortura mental e de trabalho escravo”, que é afinal o que os regimes todos fazem desde que a Cidade-Estado impôs os princípios da sua autoridade – e menos ainda são as gerações que têm a possibilidade de crer que num certo momento a “negação do amor em todas as suas formas de exaltação criadora” acabou ou está para acabar, que foi aquilo que a madura geração que viveu em Portugal a queda do Estado Novo creu estar a acontecer. Quando hoje se lê esse texto escrito em Maio de 1974 percebe-se que o seu autor vivia a euforia duma crença. Estava lúcido mas eufórico. A lucidez é a visão distanciada do real, sem a qual não pode haver a percepção do grau de abjecção dos princípios de toda a civilização humana orientada para a eficiência do trabalho e para a acumulação de riqueza, enquanto a euforia é a exaltação sem limite e por isso prodigiosa do princípio do amor. A comissão organizadora do evento alargou-se a Sophia de Mello Breyner e a Mário Henrique Leiria. António Areal, Jorge Vieira, Nikias Skapinakis, Marcelino Vespeira foram também convidados mas não aceitaram; Vieira, Spakinakis e Vespeira, arrastaram a questão para os jornais, o que fez com que Leiria escrevesse uma nota a seu jeito, “A chateação continua”, no jornal República (29-6-1974), em que diagnostica a “indigestão napoleónica” dos subscritores e aproveita para saudar de passagem os “oito milhões de democratas novos” que entretanto haviam surgido no país.
A segunda intervenção conhecida do meu biografado na revolução ocorreu ainda na primeira metade de Maio com uma tomada de posição a propósito das relações da Associação Portuguesa de Escritores (A.P.E.), acabada de refundar no Outono de 1973, e de que Cesariny era sócio, com o Movimento das Forças Armadas. Através da sua Comissão de Cultura e Espectáculos, nomeara este Movimento uma Comissão Consultiva, que a A.P.E contestou em declaração noticiada no Diário de Notícias (14-5-1974). Apresentava-se como a única entidade representativa dos escritores e propunha a substituição duma parte da referida comissão pelos seguintes nomes: Sophia de Mello Breyner Andresen, Maria Velho da Costa, José Gomes Ferreira, Fernando Namora, José Cardoso Pires e José Saramago. Cesariny pronunciou-se no dia seguinte no Diário de Notícias contra a inclusão de José Saramago na comissão proposta pela A.P.E., com o argumento de que ele não o representava. Foi tão duro e cortante, quanto isto (“Contestada pelo poeta Mário Cesariny a posição da A.P.E.”, D.N., 15-5-1974): Protesto contra a inclusão nessa comissão de préstimos do escritor José Saramago, pessoa que não tem qualquer direito a representar-me e com a qual a única relação que vejo provável nos próximos tempos é a da aplicação duma boa sova assim que o vir. Acresço que a dita manutenção desse senhor na dita comissão de préstimos implicará a minha retirada imediata de sócio da A.P.E.
Não se ficou por aqui – uma “boa sova” em Saramago e a ameaça de dar na água com a A.P.E. (era e foi o sócio n.º 205) – e clamou que a única literatura que saía limpa do passado era a clandestina – a política e a pornográfica. A restante, fosse ela qual fosse, e por aí se presume que nela incluía a surrealista, também ela editada a partir da década de 60 por casas comerciais com relações com os coronéis da censura, metesse a viola ao saco e ficasse caladinha. Fizera sempre o jogo da pedrinha com a censura. Os que se estavam a querer evidenciar, passando por heróis e por mártires, dispondo-se até à denúncia, eram os que no passado se haviam acomodado aos limites traçados pelo regime. Cesariny conhecia bem o fenómeno do tempo em que andara no M.U.D. e convivera com o largo círculo de Lopes Graça. Construíra então com essa experiência a personalidade de Nicolau Cansado – esse que “abandonou as concepções burguesas sem por isso ter mudado de vida”, esse que, como banqueiro que vai à missa de domingo cumprir um dever e chorar compungido pelo próximo, ia ver o povo nos dias de folga. Por isso na mesma carta cortou: Vi muitas e repetidas vezes, estes zelosos purificadores da hora, mais ou menos confortavelmente instalados, e durante tantos anos quantos foram os da ditadura salazarista e caetanista que vivi, em direcções literárias e outros lugares economicamente rentáveis da oposição burguesa à burguesia fascista.
Reconhece-se nesta invectiva o satírico desesperado de muitos poemas de “Nobilíssima visão” e o quase niilista do suicídio de certos versos do Discurso – o poema a Mário Sá-Carneiro é aí modelar – e dos passos mais sufocantes de Louvor e simplificação. Uma tal tomada de posição em hora tão precoce e com um grau de agressividade tão alto – uma boa sova num dos mais salientes protagonistas da manifestação dos escritores no 1.º de Maio – acabou por lhe criar novas inimizades, ou cavar as feridas antigas, mas deu também dele a imagem destemida dalguém que não depusera as armas e se dispunha a lutar, ainda que sozinho, contra as novas opressões e os novos aspirantes ao poder. Desconhece-se como acabou a sova em José Saramago – à época militante estalinista destacado – mas sabe-se que de imediato o jornal de Vitor Silva Tavares, & etc (n.º 23, Junho, 1974), em notícia local não assinada, “Cesariny ao ataque”, secundou a intervenção. Foi a primeira vez que o jornal o apoiou – embora já em Janeiro, Paulo da Costa Domingues, em “Louvor e simplificação do surrealismo ou o surrealismo segundo S. Gastão” (& etc, n.º 19), denunciasse, e ninguém o fizera ainda, a manobra forçada e disfarçada de Gastão Cruz na leitura realista de Cesariny.
Quando no final do ano de 1974 um jovem realizador, João d’Ávila, que estivera na década de 60 em Londres a estudar teatro, quis levar ao palco a peça editada em 1964 por Bruno da Ponte e logo apreendida pela censura, Um auto para Jerusalém, Cesariny deu-lha de boa vontade, com alguma curiosidade em ver como é que aquilo se dava em cena numa época em que a censura oficial acabara. O encenador acertou com o Teatro S. Luís, com gestão municipal, a realização da peça e a sua estreia para 11-3-1975. Tanta a desconfiança que Cesariny inspirava, que a gerência do teatro começou a levantar problemas e exigiu antes da estreia um ensaio geral prévio fiscalizado por uma “comissão de leitura”. Visionada a peça, o encenador foi obrigado a fazer cortes em cenas consideradas pornográficas e o mesmo esteve em risco de suceder ao texto. Em entrevista ao jornal República (18-3-1975), Cesariny adiantou: Tristemente quase se ia verificando uma nova censura do tipo fascista que pretendia novamente mutilar-me o texto, o que eu nunca permitiria. Igual indulgência não existiu com o encenador. Exigiu-se o corte de passagens – mostra de slides – que a comissão fiscalizadora considerou indignas dum teatro público. Mesmo depois de limpa, a comissão continuou a manifestar desagrados e a peça, desta vez com o pretexto da intentona militar, não foi autorizada a estrear a 11 de Março. O arrastar da situação – agravada pelo facto da concessão do teatro estar limitada a oito dias – levou João d’Ávila a pedir a intervenção dos militares, que obrigaram os edis a cumprir o que se haviam comprometido com João d’Ávila e o grupo, “Teatro dos 7”. Ele relatou assim a história (idem): Quando nos preparávamos para estrear no dia 11 de Março, com todas as burocracias regularizadas, e após um ensaio geral em que esteve presente uma comissão municipal, dita de “leitura”, fomos informados de que não poderíamos ir para cena, sobretudo porque a peça continha uma projecção de slides com cenas “eventualmente chocantes”. Dispusemo-nos a retirá-los mas nem mesmo assim nos foi concedida autorização, com todos os prejuízos que tal nos iria causar, e ao que não são alheios uns tais senhores Pina Vidal e Piteira Santos. Havia pois uma única solução: recorrer ao M. F. A. E em boa hora o fizemos. Tal medida fascista foi retirada, a censura que surgiu não se sabe bem donde, como e porquê, foi ultrapassada, e assim foi possível atingirmos o dia de hoje [a peça estreou a 15 de Março]. São evidentes os prejuízos, já que temos cinco dias de atraso, o que significa que faremos apenas três dias de representações, findos os quais seremos afastados desta sala de espectáculos, dado que a Câmara tem já contrato feito com uma companhia brasileira por um período mínimo de quinze dias, prorrogável.
Texto e espectáculo foram de imediato arrasados pelo principal crítico de teatro da época, Carlos Porto, numa resenha violentíssima, “O Teatro contra a Revolução” (D.L., 19-3-1975), que lastimou que a apresentação tivesse acontecido num teatro público: É legítimo pôr em questão o direito dum grupo se apresentar com um espectáculo desse tipo num teatro municipal. Podemos perguntar nesse caso, para que existe na Câmara Municipal de Lisboa uma Comissão Cultural ou se essa Comissão tem receio de se tornar impopular não cedendo o Teatro S. Luís (que é do povo) para espectáculos que se colocam contra os interesses do povo. O autor da peça não deu qualquer resposta – já se manifestara na entrevista do dia anterior ao jornal República – mas o grupo respondeu, “O teatro contra a revolução ou a crítica contra o teatro?” (D.L., 29-3-1975). Talvez o meu biografado tenha tido conhecimento prévio do texto desta resposta e tenha até colaborado nela. Não será dele o título?! Pela leitura fica-se a saber que o espectáculo depois de sair do Teatro S. Luís pelas razões atrás indicadas continuou em cena no Teatro Villaret, onde voltou a estrear a 21 de Março. Carlos Porto, que no mesmo jornal alguns dias antes publicara nova crítica, “O teatro ao serviço da Revolução” (26-3-1975), desta vez sobre encenação de João Mota de texto de Alfredo Nery Paiva, respondeu em seis pontos, para voltar a defender a necessidade de censura prévia nos teatros públicos.
Muito do comportamento político de Cesariny ao longo do período em que revolução se desenvolveu, e mesmo no que se lhe seguiu logo depois, é para ser tirado das tomadas de posição de Maio de 1974 e de Março de 1975. A luta contra o estalinismo foi uma das suas prioridades – como já havia sido a de André Breton no regresso a França em Maio de 1946. Ser governado por Nicolau Cansado, o que fora em 1943 a Espanha colher “in loco – nas palavras do Dr. Araruta Província – alguns quadros multímodos da guerra civil espanhola”, era barbaridade tão grossa como ser governado pelos católicos doutores de Santa Comba Dão. Isso explica a colaboração posterior que deu a jornais como O Dia (1976) de Vitorino Nemésio, O Diabo (1977) de Vera Lagoa, e Jornal Novo (1978) de Helena Roseta. Mas, atenção, nada disto levou a qualquer perda de tom e de soberania da sua voz. No jornal de Vera Lagoa, em que pouco colaborou, apenas três textos (30-8-1977; 20-9-1977; 18-10-1977), deu-se ao luxo de entregar um longo memorial em que defendia a homossexualidade, atacava o antigo Diário da Manhã – o seu jornalismo e as suas campanhas anti-pederásticas – e fabulava a epopeia de Guilgamesh, poema que muito o magnetizou na parte final da vida e cuja tradução ainda ensaiou nas décadas seguintes mas que não teve tempo já de concluir. Narrativa cosmogónica, fonte dalguns passos bíblicos, o poema conta a história de amor entre dois homens e constitui por aí uma prova do prestígio mítico do amor pederástico. Vera Lagoa se quis ver o poeta associado ao jornal foi obrigada a publicar esta intransigente defesa da homossexualidade em duas longas páginas. De resto foi essa a sua última colaboração no jornal. Era impossível uma folha vocacionada para apoiar os valores da família cristã e pressionar o poder em nome da Igreja e do Ocidente continuar a publicar reflexões tão estrambóticas e ofensivas como esta sobre a pederastia.
Outra prova da independência de Cesariny está na resposta que deu a uma lista de protesto contra as limitações do exercício da liberdade de imprensa em que o seu nome surgiu. Elaborada pelo círculo em que então se movia Vera Lagoa, não gostou de se ver nela ao lado de Manuel Maria Múrias e Barradas de Oliveira e não descansou enquanto não arquitectou desforra. Pegou na sua fotografia que Paulo Madeira Rodrigues publicara – ocupação das instalações do Diário da Manhã em 26-4-1974 – e fez com ela uma folha de cem exemplares, assinada pelo Bureau Surrealista – foi a bem dizer o acto do seu segundo nascimento depois da folha contra José-Augusto França de 1975 – e datada de Setembro de 1978, a que colou a legenda: Esta fotografia (…) foi tirada por Mário Cesariny (…) e fixa o povo de armas aperradas contra as instalações do ex-jornal Diário da Manhã. Reimprime-se neste papel como reiteração de intenções apontada a quem teve o desplante de, num recente protesto contra limitações ao exercício da liberdade de imprensa, juntar a assinatura de Mário Cesariny aos nomes dos Srs. Manuel Múrias e Barradas de Oliveira, criaturas (?) que, durante muitos e odiosos anos, foram, em letra de imprensa, os mais responsáveis e ferozes perseguidores da liberdade de imprensa. Ele não podia esquecer as infamantes ameaças que o Diário da Manhã havia escrito – nada menos do que “o caminho só poderá ser ou a cadeia ou o hospício” – a propósito da antologia que Natália Correia havia editado em 1965. A brincadeira valera-lhe em 1970 45 dias de cadeia, remíveis a dinheiro, isto sem contar os sustos – idas à polícia judiciária e às secretarias do tribunal da Boa-Hora – e as guerras irreparáveis em que à conta do assunto tivera com os amigos.
Caso digno de lembrança foi ainda o de Baptista-Bastos. Desagradado com as posições anti-estalinistas que Mário Cesariny ia tomando – ameaça de sova a José Saramago, acusações contra Fernando Piteira Santos (então com ligações à Câmara de Lisboa) no 11 de Março por causa da sua peça, apoio a Pires Veloso no golpe militar de 25 de Novembro, apoio à direcção do jornal República, manifesto de Natália Correia e Cesariny no jornal O Dia (3-1-1976) contra as posições do M.U.T.I. (Movimento de Unidade dos Trabalhadores Intelectuais), colaborações com jornais anti-comunistas, remoção da dedicatória a Fernando Lopes Graça na segunda edição de Nobilíssima visão (1976) – o autor de Cão velho entre flores esperava recolhido mas atento a primeira ocasião para lhe cair em cima. Quando no Chiado, em especial na boémia da Rua da Trindade, correu que o Grémio Literário, na Rua Ivens, dominado por uma elite endinheirada que ocupara cargos importantes em programas do Estado Novo, acabava de convidar Cesariny para seu sócio honorário, Baptista-Bastos viu chegada a hora da desforra. Estávamos no início de 1981, na abertura de nova década e de novo ciclo. O sentimento geral dominante era que se vivera um sobressalto no meado da década anterior mas que passara já. Tudo voltava a rodar nos velhos e conhecidos carris. A direita subira ao governo e a nova década – cheirava-se no ar, sentia-se nas roupas, via-se nas caras rapadas e nos cabelos cortados – tinha muito mais a ver com o clima social do tempo do caetanismo do que com a atmosfera eufórica e escaldante da revolução. Voltavam as personagens do passado, com uma diferença aceitável – a liberdade de imprensa e a alternância no poder de dois blocos partidários, que monopolizavam em seu benefício a intervenção política. Cesariny era uma flor acre e selvagem que a burguesia culta dum clube privado e rico do Chiado achou que lhe ficava bem pôr na lapela dos seus fatos numa época em que os costumes tinham perdido a rigidez das décadas do Estado Novo.
Conheço a carta que o presidente do círculo, o advogado Salles Lane, responsável pela reabilitação do clube na década de 60, dactilografou ao autor de Pena capital. Datada de 13-2-1981, foi-lhe endereçada para casa e diz assim: Ex. mo Senhor Sócio Honorário: Tendo o contentamento de o informar formalmente que, no passado dia 9 de Fevereiro, a voto unânime dos Sócios do Grémio Literário e sob proposta do Conselho Director, foi, o grande poeta português, Mário Cesariny, eleito para Sócio Honorário – pela classe de “Literatura e Belas-Artes” – na vaga deixada por outro grande poeta, que foi José Régio. Ao distinguir o autor de Corpo visível, tivemos presente, designadamente, a participação ímpar que teve no movimento surrealista português. Em sentido mais amplo, considerámos o poeta, que também nos seus desenhos e pinturas “encontrou o seu próprio caminho, na exaltação da imaginação, da liberdade e do amor como verbos sinónimos”, como em tempos anunciou. Por tudo nos congratulamos. Creia-me com grande admiração. Presidente do Conselho Director, Salles Lane. Esta carta chegou aos conciliábulos da Trindade, que Baptista-Bastos – um jornalista que fizera sempre a sua vida no Bairro Alto – frequentava. Havia pombos-correios que faziam o trajecto entre os dois pontos do Chiado. O Grémio Literário tinha uma sala Luís XV, um restaurante com um chefe francês onde almoçava a fina flor dos bancos que flanava pelas ruas da Baixa, um bar renomado frequentado ao fim da tarde por políticos, mas fora fundado em 1846 por Herculano, Garrett, Rebello da Silva e Rodrigo da Fonseca. Os rebeldes das tascas do Largo da Misericórdia e da Rua da Trindade mantinham-se informados sobre as actividades do clube, muitas sobre literatura, para alimentar o escárnio e a má-língua. Assim soube Bastos da eleição do meu biografado para sócio honorário do Grémio. Nunca lhe passou pela cabeça, como não passou a Salles Lane quando lhe escreveu para casa dando-lhe conta da eleição, que o poeta não aceitasse a distinção – o clube era então uma atracção para grande parte dos escritores lisboetas e tinha magnetismo bastante mesmo sobre pessoas da esquerda radical, ou que dela vinham, como Manuel Villaverde Cabral – e decidiu chegado o momento de tirar a desforra do seu comportamento durante a revolução. Escreveu assim a nota “Obituário de um só-realista – César-infecto feito”, que saiu no semanário O Ponto (19-2-1981).
Que diz o texto? Obituário ou nota necrológica, retoma a argumentação que vinha de Luiz Pacheco, outro frequentador do Largo da Misericórdia e das tascas carbonárias da zona, e passara depois, nos gloriosos tempos da galeria S. Mamede, à folha cultural de Vitor Silva Tavares. Cesariny fora grande, quando ousara desafiar os acomodados; perdera interesse, morrera até, a partir do instante em que adoptara os valores dominantes do dinheiro e do prestígio. A sua recente eleição para um lugar honorário – sócio que não pagava quotas e beneficiava de forma gratuita de todas as regalias – do luxuoso Grémio Literário era a prova acabada que se tratava dum cadáver. Daí o obituário. A nótula abria destarte: Mário Cesariny foi eleito sócio honorário do Grémio Literário. Rima e é verdade. Do grande poeta de Corpo visível, Louvor e simplificação de Álvaro de Campos, pouco rastro existe já. Das passeatas truculentas, Chiado acima, Chiado abaixo; dos prospectos contra, da epistolografia assanhada, dos uivos jovens, das higiénicas polémicas surrealistas a zurzir no lombo de tudo o que a neo-realista cheirava – apenas sobra a zaragatoa. Cadáver esquisito – qual quê? O Cesariny é, hoje, uma silhueta ambulante, espécie de obituado civil, escaqueirado, escaveirado, de saúde pulmonar suspeita, boné old tweed, cabelo ralíssimo, cheio de seborreia, dentes postiços, mesmo assim piorraicos, olhar aguado para as iguarias do establishement, infantes de lavoura inclusive, lado a lado com o vice-rei do Norte, lagoadas veríssimas, um recuperado, um académico, um escangalhado à cata dos caracóis, a rimar egípcio com chourípcio; tonterias, desconchavos, caganificâncias. Coitado do Cesariny, coitado! Agora, está no Grémio, honorário e tudo! Qualquer dia, é recebido na Academia, como sócio de número (que grande número!), pelo Luís Forjaz Trigueiros. (…)
No momento em que esta nota foi posta a circular, já Cesariny escrevera ao presidente do clube a recusar a distinção. Mal recebeu o convite, tratou sem hesitar da resposta – datada de 14 de Fevereiro. Respondeu na melhor verve que fora a sua no tempo de Nicolau Cansado e das intervenções na Casa do Alentejo. Foi mais um gato preto que ele soltou e que muito terá perturbado Salles Lane, que acreditava que Cesariny agarraria com unhas e dentes a ocasião, e surpreendido o articulista do semanário O Ponto, ele também longe de imaginar qualquer outra saída que não fosse a aceitação. Esqueciam-se os dois que o distinguido era autor duma recente saudação à livre Angola, saída no jornal A Luta, e em que gritava contra a “gatunagem da Europa reis presidentes duques generais/ tudo rãs deste charco que ainda hoje vibra na proliferação do inútil”. Eis a resposta, dada em folha timbrada do Mount Royal Hotel, em Marble Arch (A Capital publicou-a, 19-8-1989): Ao Presidente do Conselho Director do Grémio Literário em Lisboa: com referência à sua carta datada 13 do mês corrente, venho informar que os senhores têm de ir engatar outro porque eu não aprecio a sociedade, nem a honorabilidade, que me é proposta.
No final da adolescência, Cesariny entendera o mecanismo social e o seu funcionamento – reprimir o desejo e as suas manifestações para canalizar as forças físicas para o trabalho e a riqueza – e tornara-se um dissidente. Assim ficou pela vida fora, embora a guerrilha que lhe fizeram – e o tiro d’O Ponto fez parte dela – afirmasse o contrário. A história do Grémio é um indicador. Ofereceram-lhe o prestígio do “bom nome” – era a principal das condições de entrada – e ele mandou-os pentear bugios. Não aceitava ser domesticado; menos ainda dissolver o seu veneno. Continuava sendo o mesmo insubmisso que se recusara na juventude seguir uma carreira e fazer família. O vetusto leão, agora a caminho dos sessenta anos, mesmo desdentado, dava de barato o chique do Chiado e, se já não mordia como mordera, que desde Londres os dentes lhe caíam de podres, esgadanhava com as unhas afiadas que ninguém lhe cortava. Detestava reis, presidentes, cardeais, bispos, duques, generais. O seu meio continuava a ser o de certas tocas do Bairro Alto, frequentadas por magalas e pegas – seus preferidos de sempre, os marujos quase haviam desaparecido depois da revolução –, e o das leitarias por baixo do Torel ou do Jardim do Príncipe Real, tudo nas traseiras da Avenida da Liberdade, esse grande e anónimo corredor de hotel. Não tinha em Lisboa as saunas homossexuais de Amesterdão, os clubes londrinos gays por onde desfilavam as madonas de Rafael que lhe faziam lembrar Oscar Wilde, mas adorava esses antros de bairro, que de dia serviam copos de leite e torradas e à noite viravam poiso de passarada clandestina – galdérias, chulos, picolhos, bêbados, vadios, doidos, larápios, falhados sem cheta, corrécios, suicidas, magalas e outros de passagem. Era aí que continuava a fazer os seus engates e a ser o que sempre fora – um homem negro das sombras sociais. A Rua da Palma da sua meninice, antes de Salazar mandar arrasar o labirinto de vielas que ficava entre as duas encostas, era um fabuloso mostruário dessa fauna pelintra e marginal, que foi a primeira que ele entreviu e amou, sentindo nela um magnetismo que vinha dos mistérios dionisíacos das origens. Não trocava o ventre da ralé, forte o bastante para gerar uma Titânia mítica, o Homem-Mãe, pelos sáurios carnívoros de gravata de seda e sapatos engraxados que apareciam no Grémio Literário – os mesmos que em tempos tiveram direito ao verso dos “crocodilos a rir em corredores bancários”.
Outro momento ilustrativo da presença de Cesariny na revolução foi o texto que apresentou ao primeiro Congresso dos Escritores Portugueses, integrado na secção “Ideologia, revolução cultural e função do escritor”. O encontro estava previsto para 15/16 de Março de 1975 mas foi adiado devido aos sucessos militares dessa semana. Acabou por se realizar a 10 e 11 de Maio, um fim-de-semana, no auditório da Biblioteca Nacional, com alocução inaugural de José Gomes Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Escritores, e intervenção final do primeiro-ministro, Vasco Gonçalves (foi reproduzida no jornal A Capital, 12-5-1975). Pelo meio houve pequenas balbúrdias, que não chegaram a ser notícia. Cesariny acabou por não estar presente – passou esses dias em Tânger (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 149 e 154) – e o seu texto foi lido pela mesa. Helder Macedo, presente, recorda-se de o ouvir e aparece ainda referido no D.N. (12-5-1975, p. 9). Faz parte hoje dos arquivos da A.P.E., que mo cedeu, nunca tendo sido recolhido em livro. Trata-se duma folha, em 12 parágrafos, policopiada a estênsil, que correu a assistência. Por iniciativa do autor, o texto foi vertido para inglês e enviado em Junho para Franklin Rosemont, que o publicou no terceiro número da revista Arsenal (1976) com o título “Communication to the portuguese writers association”. Apareceu sem nome de tradutor mas foi decerto traduzido por Jonathan Griffin, tradutor de Fernando Pessoa que Cesariny conhecia e que é citado no início do texto como tendo estado em Lisboa havia pouco, altura em que o autor de Pena capital o terá conhecido. Griffin era grande amigo de Helder Macedo, a quem deixou à morte a biblioteca portuguesa, livros de Cesariny incluídos com generosas dedicatórias, e de Lacerda.
Se deixarmos de lado por um momento a altiva e solitária meditação no momento do puxão angolano, é este o texto mais significativo de Cesariny no quadro da revolução. Proposta de intervenção – reformar a linguagem literária dos escritores portugueses e estancar o processo em que a língua literária vinha a evoluir desde o século XVI –, o texto é em simultâneo uma retrospecção avaliativa. O que o autor põe em causa é o processo do Renascimento e tudo o que se lhe associa – latinização forçada da língua, surgimento duma norma culta nos domínios da fonética, da morfologia e da sintaxe, fixação e codificação duma gramática oficial e consequente repressão duma estirpe oral e popular que vinha do medievo e das origens moçárabes da língua, representante da sua evolução mais espontânea e criativa. Denuncia-se o papel que o escritor teve no processo de asfixiação – aceitar essa norma, ajudando assim a marginalizar e a sufocar as fontes vivas da língua popular – e aponta-se o único momento em que o escritor pôs em causa essa colagem, o vintismo e a sua ruptura revolucionária com o antigo regime, logo deixada para trás com os bons modos da burguesia urbana e rural, nada interessada em ouvir palavras grossas e vernáculas nas suas recepções. Essa mesma elite preferiu falar francês nos seus salões, como hoje inglês, a usar a velha e “imprópria” palavra das classes baixas e sem instrução. Neste processo o poema de Camões teve um lugar crucial, pois foi por ele que passou o processo de latinização da língua e foi nele que se codificou um ensino forçado e normativo da gramática, que actuou ao longo dos séculos da sua formação e estabilização como instrumento de tortura – a divisão sintáctica de orações na frase – e de regularização. Demais foi ele que mais apto se mostrou a preencher as exigências míticas e propagandísticas do imaginário do Estado moderno, nascido no crisol do Renascimento, e do pequeno imperialismo periférico português que com ele se desenvolveu.
É neste quadro que se entende a proposta de trabalho de Cesariny – fazer “uma profunda reforma da linguagem literária dos escritores portugueses”. A queda do fascismo equivaleu para ele à queda do antigo regime. Estava-se diante duma ruptura que podia fazer abalar o edifício social que vinha a ser construído desde o Renascimento e da formação do Estado-nação. No desabar do salazarismo, creu que era possível olhar para as classes baixas doutra forma, valorizando-as, e pondo o escritor a aprender com elas. As classes baixas não deviam ser normalizadas segundo o padrão da cultura oficial – acesso à escola e à universidade, acesso ao trabalho e ao mercado; essas classes deviam ser vistas como um reservatório de valores vivos e pessoais, muito mais soltos e criativos que os da cultura dominante. Era necessário garantir-lhes a possibilidade de preservar e desenvolver as suas formas culturais próprias, cabendo ao escritor assinalar a sua vivacidade e tomar aí lugar. A linguagem erudita, ensinada pelos mestres-escola na linha e no modelo dos antigos mestres de retórica, seria assim deixada de lado, a favor do linguarejar vernáculo, ordinário e popular, que fora o dos cancioneiros trovadorescos medievais e ainda o do teatro vicentino. Depois de constatar a “insipidez e moralidade fonética, morfológica e sintáctica” em que o escritor português se enforcava, o autor propõe a única revolução ao alcance de qualquer escritor – a revolução da fala, o corte com a língua literária tal como ela se sistematizava e desenvolvia desde a adaptação dos modelos italianos e estrangeirados no século de Sá de Miranda, António Ferreira e Camões. Finalizava considerando medidas a pôr de imediato em prática para libertar a língua dos espartilhos em que a asfixiavam desde a Renascença: denúncia dos acordos ortográficos e da norma gramatical; liberdade de escrita em desacordo com estas normas; recolha e valorização do linguarejar urbano e rural então vivo; criação nas universidades duma cadeira de “revolução de língua portuguesa”; ensino escolar da língua às crianças segundo códigos flutuantes e variáveis, nunca fixos e normativos. No contexto da queda do Estado Novo e das possibilidades que se abriram estas propostas representam um momento de transcendente importância – o único em que a revolução quis ganhar voz própria, não a da propaganda, a dos chavões e a das palavras de ordem repetidas e marteladas, linguagens do domínio que servem o esquecimento, mas a da phala viva, que era a linguagem do desejo, a linguagem sem censura, a linguagem da rua, a linguagem do Homem Mãe como Mãe fálica.
No que cabia ao meu biografado a revolução era permanente. A sua obra escrita aí se dava por prova. Um livro como Alguns mitos maiores…, que o leitor conhece e que foi uma das consequências ao nível do procedimento verbal da sua adesão ao surrealismo, era expressão desta inventividade liberta de qualquer norma, com um novo léxico não compendiado pelos dicionários a subir à superfície. Os neologismos criados nesse livro fazem parte duma língua sem código e sem convenções, uma língua despida e nua. O mesmo se pode dizer do poema “Ditirambo” de Pena capital, construído em boa parte por neologismos febris e apaixonados que resultam da aglutinação de duas ou mais palavras (maresperantotòtémico). A sua recusa em conviver com os crocodilos do Chiado é ainda por aqui que passa. É uma língua falada e escrita que ele está a negar ao dizer não ao Grémio Literário, uma língua convencional, académica, institucional, seca e dessorada por séculos de escola e de censura. Por isso na carta de resposta ao advogado Gerald Salles Lane ele em certo momento liberta-se dos códigos formais das epístolas oficiais e decide falar à malandro: têm de ir engatar outro – diz ele. Surge aqui a phala da revolução no esplêndido sol das suas palavras livres, saborosas, bem temperadas! A sua opção pela canalha que vivia no Bairro Alto – com o fim dos marujos o Cais do Sodré perdera sangue como Bairro Alto mais tarde também perdeu – é ainda a escolha duma língua escaldante, solta, livre, inventiva e amoral, na qual ele via o coração mesmo de qualquer revolução, de qualquer desejo, de qualquer criação poética digna – e assim o afirmou na sua comunicação de 1975. Não quis com esse texto dar uma fala à revolução; quis com ele dizer que essa phala sempre existira, sempre atravessara a História, posto que escondida e recalcada nas catacumbas invisíveis dos valores sociais. E daí o desvio que fez em 1975 num verso de Sophia de Mello Breyner que ilustrava cartaz de Vieira celebrando a revolução e dizia “a poesia está na rua” e a que ele acrescentou “esteve sempre” (col. Fundação Cupertino de Miranda). Detectar onde estava a phala, trazê-la para a luz do dia, dar-lhe novo espaço, intimidar as moradas civilizadas onde reinavam soberanas as instâncias repressivas da censura e da culpa, foi o seu impulso e a sua única tarefa revolucionária. Em momento tão auspicioso como a segunda morte do antigo regime, e foi isso que sucedeu em 1974, pareceu possível que a phala, a poesia, o amor e a liberdade subissem à superfície e viessem exigir nos gabinetes da cidade escrava o seu direito de voltarem a governar a humanidade.
A obra que desenvolveu no período da democracia partidária aparece marcada por esta orientação, antes de mais a pesquisa apaixonada que fez na Biblioteca Nacional, na direcção de João Palma-Ferreira (1980-1983). Indagou então com paixão uma literatura clandestina que a história oficial menosprezara e escondera. Viu na literatura de cordel, criada à margem do sistema erudito e do ensino escolar, com um público próprio, não burguês, a sobrevivência na idade moderna da palavra primeira que lhe interessava, a palavra vernácula, não adulterada, expressão livre de instintos essenciais como o amor e a morte. Dessa descoberta, resultado directo dos princípios de acção da sua comunicação de 1975 ao evento da A.P.E., acabou por sair um livro raríssimo, Horta de literatura de cordel (1983), dos mais vivos e promissores que Cesariny legou. Fabuloso repositório de tesouros ocultos que a censura erudita, eclesiástica e depois civil, recalcou, é também uma revisitação da tradição como nunca até aí se fizera em Portugal e como nunca depois disso se voltou a fazer. Só com este livro o sentido do neo-tradicionalismo do final do século XIX, o de António Nobre e o de Eça de Queirós, foi deixado para trás. O que interessa não é a tradição recente, a que Jacinto viu em Tormes, ou a que Nobre chorou em Leça, tão destinada a ser substituída como qualquer outra camada histórica, mas uma tradição muito mais arcaica, sem fundo nem fim, e que se confunde ao que está antes ou fora da arché, a “única real tradição viva” nas palavras de Ernesto Sampaio. Essa mesma tradição sem princípio que move a phala, a poesia, o amor, a liberdade, a gnose – tudo o que uma civilização normalizada pela necessidade de conta bancária detesta e toma por inaceitável. O livro contém uma interpretação da história da cultura em Portugal – parte do título do prefácio é nesse sentido significativo: “Porque foi que Bernardim Ribeiro morreu doido no Hospital de Todos os Santos em 1532” – e constitui-se como a única grande revisão da cultura portuguesa que o surrealismo entre nós deixou. Dessa cultura interessa reter o que está antes do Renascimento, a coincidir no caso português com a chegada do Tribunal do Santo Ofício, que instalou pela primeira vez a civilização do dinheiro, do comércio e do trabalho na seda dos gabinetes para governar a cidade com o medo, a culpa, o castigo. Trata-se dum continente submerso, que a cultura erudita recalcou e apagou, e que apenas sobreviveu em raros representantes da cultura oficial e nessas margens menosprezadas que foi a literatura do cordel. Aconteceu aqui uma surpresa – a inesperada ligação de Cesariny com Teófilo Braga. Numa entrevista quase coeva à edição da sua compilação de 1983 ele disse (Semanário, 18-10-1986): A História da literatura portuguesa de Teófilo Braga diz, em extensão e profundidade, o que eu ando a balbuciar há anos. É de truz esta chegada de Teófilo ao surrealismo. Depois de tanta e tão grande bordoada que apanhou desde Antero, Martins e Sérgio, teve aqui o seu momento de ressurreição! É mais um santo herético que fica às portas das escrituras canónicas pela mão dos surrealistas, que nunca aceitaram cânone sem sombras.
A tradução para inglês do texto apresentado na Biblioteca Nacional não foi um mero acidente. O seu autor teve consciência da importância desse texto teórico e do contributo que através dele o surrealismo estava a dar a uma revolução que tinha por tarefa refazer um país a partir do zero – o mesmo que acontecera aos liberais quando o absolutismo sucumbiu. É por isso que um livro como Horta de literatura de cordel, com todas as fábulas que a imaginação popular conservara ou continuara a criar à margem duma cultura que já não passava sem a tesoura do barbeiro e do alfaiate (e daí o papel insubstituível que a Inquisição tivera), é um livro só comparável, e num plano superior, pois está para lá da nação e da inofensiva gesta dos homens a cavalo, ao Romanceiro de Garrett. Entende-se assim melhor a solidão, a acre incomodidade, o confronto permanente à cultura dominante em que o meu biografado viveu depois da adolescência e que estas atitudes durante e logo após a revolução – comunicação ao congresso da A.P.E., saudação vibrante ao negro angolano, missiva a Salles Lane, valorização do escrito de cordel como reservatório cultural recente que interessava salvar e seguir – actualizaram. O seu embate foi com a mentalidade ocidental nas suas várias versões – em momentos vários da parte adiantada da vida lamentou não ser índio ou árabe bem do deserto e quando Angola se livrou de Lisboa gritou bem alto a sua raiva ao mundo branco e ao que ele criara – e não com um tipo de gestão desse mental. Por isso quando percebeu que na União Soviética os valores dominantes eram a produção e a acumulação de riqueza, com a natural consequência do recalque das expressões do desejo, renegou o estalinismo e ficou livre para escrever mais tarde, no período da revolução, um texto tão chocante como o que foi lido em Maio de 1975 no primeiro congresso dos escritores portugueses. Entre tudo o que escrevera e publicara ao longo de 30 anos – desde os linguados do jornal A Tarde até ao Jornal do gato – elegeu-o para vir a lume numa revista que era então um dos estaleiros mais activos do combate político surrealista. A característica do surrealismo americano que se desenvolveu em torno dos Rosemont nos Estados Unidos na década de 70 do século passado foi a insistência na mensagem política do movimento e na necessidade de manter viva e cada vez mais escaldante a sua radical intransigência com o sistema, em detrimento de qualquer valorização ou favor que passasse pelo ângulo estético. Isto só podia dar assobio do meu biografado, que se opusera teimosamente a António Pedro em razão desta mesma fractura.
AS PIRÂMIDES DE TEOTIHUACAN
As relações de Cesariny e do grupo surrealista de Chicago foram muito próximas nesta época. Desde o início da década que os Rosemont e o colectivo que se reunira em Chicago à sua volta planeavam na linha do que fora costume em vida do fundador do surrealismo uma grande exposição internacional que reunisse criações dos núcleos surrealistas mundiais então vivos. Uma exposição surrealista, como aquela que acontecera na galeria Maeght em 1947, era um momento de evocação mágica dos poderes do espírito e um espaço de afirmação e de consolidação do movimento e das redes que o constituíam. Só nesses encontros era possível o encontro de pessoas que viviam por vezes em continentes diferentes e uma troca de experiências. No quadro dum desses eventos falou Cesariny com André Breton e nele se acertou a formação dum colectivo surrealista em Lisboa – neste caso pelo diálogo do autor de Nadja com Cândido Costa Pinto. Foi numa exposição, 20 anos depois, em 1967, que portugueses e brasileiros estabeleceram pela primeira vez contacto. Desde a saída do segundo número de Arsenal (1973) que o colectivo de Chicago preparava a mostra, cuja abertura devia coincidir com a publicação de novo número da revista, o terceiro, aquele em que o meu biografado entrou com a versão inglesa da comunicação lida na Biblioteca Nacional, a que juntou ainda reprodução de pintura sua, “O regresso de Ulisses” – pintura mais tarde comprada pelo casal Vancrevel num serão em que jantou na Rua Basílio Teles, em Julho de 1977, quando a tradução de Breyten Breytenbach para português começou e as finanças da casa andavam muito coxas.
O responsável da participação portuguesa na exposição foi Cesariny, como de resto fora ele já o responsável do material que seguira de Lisboa para S. Paulo em 1967. Estava em diálogo postal com Franklin Rosemont desde o Outono de 1970 e chegara mesmo a convidá-lo a passar em Lisboa, na sua oficina da Calçada do Monte, alguns dias. Escrevia em francês e Rosemont respondia em inglês. No seio dessa colaboração seguiu para Chicago em Junho a tradução da comunicação ao congresso dos escritores. Em Maio de 1975 já o meu biografado tinha a participação portuguesa muito adiantada. Numa carta para Laurens desse mês, sem indicação de dia, faz o ponto da situação: a Fundação Calouste Gulbenkian encarrega-se do envio das obras e respectivos seguros e paga-lhe a deslocação aos Estados Unidos, de modo a estar presente na abertura do evento, que tudo apontava então para o Outono. Graça Lobo, actriz e declamadora, que acabara de conhecer Cesariny – telefonou-lhe para lhe pedir autorização para fazer um disco com os seus poemas, que fez (ficou registo do envio nessa carta de Maio de 1975) –, acedeu em acompanhá-lo. Uma das razões fortes para esta companhia, e assim o diz na carta para Laurens – “eu falo mal americano” confessa – e assim me confirmou Cruzeiro Seixas, foi o medo que teve da língua numa estadia que era para ser longa, com trânsitos demorados no interior do país, pois contava ficar no regresso em Nova Iorque e subir a Boston para estar com Alberto de Lacerda. Quando esteve a primeira vez em Londres, no final da Primavera de 1964, o seu conhecimento da língua inglesa era tão pequeno que só conseguiu mesmo falar francês com o poeta Christopher Middleton com quem almoçou na companhia de Lacerda e de Amorim de Sousa. Mais tarde, depois de muitos meses em Londres, Amorim de Sousa continuava a avaliar o seu inglês como fracote. Graça Lobo, ao invés, desembaraçava-se bem e estivera inúmeras vezes em Nova Iorque, que conhecia muito bem. Em Outubro desse ano, em carta para Lacerda, então em Boston, Cesariny juntou que Graça Lobo tinha acção própria no evento – dizer e encenar poemas orientais – mas esse acto teve sobretudo a ver com a justificação do subsídio de apoio à viagem que a actriz também recebeu da Fundação Gulbenkian.
A primeira carta a Laurens sobre o assunto, ainda de Maio, tem a grande vantagem de nos indicar, além dos avanços da participação portuguesa na exposição, o estado de espírito de Seixas nesta época filtrado pelo amigo. Escreve ele (?-5-1975; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 150): Seixas horrivelmente ciumento com o acontecimento. O sucesso é a exposição de Chicago. Verdade ou não, o certo é que já neste momento – em Fevereiro houvera na galeria Ottolini, em Lisboa, uma exposição de “cadáveres esquisitos” organizada e participada por ambos em franca camaradagem – a relação de ambos estava ser agitada pela turbulência do evento de Chicago. Nos primeiros dias de Junho, a situação turvou-se tanto que o responsável pela participação portuguesa escreveu para a América a alijar a carga da tarefa. Estavam em causa as obras que Seixas indicava para participar, propriedade da galeria S. Mamede, então em situação quase de fecho e com Pereira Coutinho mais interessado em fazer comércio de arte em Madrid, para onde se mudou, e no Rio de Janeiro, junto dos exilados políticos portugueses. Segundo ele, em Lisboa o comércio de arte findara. A galeria encerrou no final do Verão desse ano, para só reabrir ainda debaixo da alçada do velho Pereira Coutinho, que só veio a falecer no século XXI, no final do ano de 1977, ou mesmo no início de 1978, ano em que voltou a expor serigrafias e litografias de Vieira da Silva. Cesariny e Seixas ante o caso tomaram posições diferentes – o primeiro, que deixara de receber as mensalidades fixas anteriores, não se entusiasmou com os novos negócios do galerista; o segundo ficou mais atento. O desacordo veio ao de cima com a exposição de Chicago e a obstinação de Seixas em expor obras do fundo da galeria. O amigo recusou expô-las, preferindo assim escrever para Chicago, dando por finda a sua responsabilidade na parte portuguesa. Numa carta a Seixas ele deu assim conta do assunto (17-7-1975; Cartas de M. C. para C. S., 2014: 297): Desde que disseste a tua “última palavra” (ao telefone) sobre o que desejavas enviar para Chicago, como representação individual tua (obras que pertencem à galeria S. Mamede) eu procedi de acordo (comigo) e escrevi para lá a dizer que, por minha organização e responsabilidade, não haveria qualquer participação portuguesa na Exposição Surrealista de Chicago.
A perturbação entre os dois começou pois na Primavera de 1975 e teve origem nas peças que Seixas queria enviar à exposição de Chicago e que Cesariny se recusou a aceitar. No meio está a galeria da Rua da Escola Politécnica, dona das peças, e a política comercial que na nova situação do país Pereira Coutinho começou então a fazer, negociando fora de Portugal nos meios dos foragidos à revolução. Segundo ele, era lá que estava a verba e por isso era lá que se vendia! Numa missiva do meado de Junho a Laurens, ulterior já à carta que seguiu para Chicago dando por acabada a participação portuga na mostra, escrita esta no início de Junho, Cesariny pormenorizou os meandros do conflito. Trata-se da sua visão a quente, a explicar a um terceiro, mas ainda assim de monta para fazer alguma luz sobre o que se jogava no lance (15-6-1975; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 153): Ainda uma coisa triste: Rosemont, que prepara uma grande exposição internacionalsurrealistachicago, tinha-me encarregado de reunir a participação portuguesa. Tudo caminhou muito bem até ao dia em que eu e Seixas chegámos a uma discordância absoluta; para mim, era necessário conseguir uma participação completamente independente, por parte da galeria S. Mamede – que, depois da Revolução, só sonha em expor-me a mim, a nós, em conseguir expor em Madrid e no Rio de Janeiro, onde presentemente se alojou o grosso do fascismo português, ele e toda a sua guita; Cruzeiro Seixas descobriu que não há nada melhor para expor em Chicago do que obras que pertençam ao Sr. Coutinho. Motivo primordial: o Sr. Coutinho continua, de qualquer modo, a comprar a Seixas alguns desenhos e, então, tem de haver maneira de sustentar isto. Por exemplo, é necessário que o catálogo Surrealista Internacional Chicago inclua algumas obras – e, se possível, com as reproduções – das que pertencem a Coutinho, para que depois o Sr. Coutinho as vá vender no Brasil, muito, muito, muito caras ao almirante Tomás, a Champallimaud (por enquanto, ainda não vi Spínola, ele viaja muito).
Chicago respondeu à carta de desvinculação, mostrando consternação e pedindo encarecidamente resolução do assunto – ele nunca esclareceu com Rosemont as verdadeiras causas da demissão e limitou-se a dizer que havia excesso de pedintes num país pobre, o que era um modo bem dele de enfrentar um assunto que doutro modo ainda mais insuportável lhe seria. Na carta que chegou de Chicago pedia-se com insistência a não desistência dos portugueses. Parte da colaboração, a mais significativa, já era conhecida em Chicago, pois o responsável tivera o cuidado de a enviar fotografada (carta de 27 de Maio para Franklin Rosemont). Este dizia-se tão inquieto com a desistência dos surrealistas portugueses – Cesariny era um dos colaboradores em destaque do número de Arsenal no prelo (Rosemont chega mesmo a dedicar-lhe um poema, “Apparition of the portuguese nun”, p. 60) e a revolução em Portugal alimentava então uma parcela nada desprezível do imaginário revolucionário ocidental – que se propunha mandar parar a composição do catálogo até se encontrar uma solução definitiva. A colaboração enviada em fotografia entusiasmara o núcleo organizador que não queria desistir dela. A desavença pode mesmo ter sido razão de peso para o adiamento da exposição, cuja abertura prevista para o Outono desse ano só abriu portas na Primavera seguinte.
Cesariny escreveu então de novo ao amigo, propondo-lhe uma posição intermédia: reforçarem as obras colectivas em prejuízo das individuais, até aí maioritárias. Na lista enviada para Chicago em Maio, com reproduções em fotografia, previam-se quatro obras individuais de Seixas, quatro de Raul Perez e duas dele, o responsável pela participação portuguesa. Na resposta Seixas insistiu com as obras no arquivo de Pereira Coutinho e que tomava pelas mais expressivas do que até então fizera. Cesariny mostrou-se intransigente. Na resposta que lhe dá, diz (26-7-1975; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 299): Ainda na tua carta de hoje dizes-me que te diga o que penso agora fazer. Respondo claramente, como pedes: não vou fazer absolutamente nada. Quer dizer: a participação portuguesa estava comprometida, já que apenas Cesariny tinha de momento contacto directo com Chicago – as relações de Cruzeiro Seixas com Franklin Rosemont só tiveram lugar no final da década de 80, quando Seixas já havia saído de Lisboa e vivia no Algarve, em São Brás de Alportel, donde só regressou em 1990. Transigiu então, de modo a não comprometer em definitivo a presença portuguesa nos Estados Unidos. Com a exposição de 1967 no Brasil, era este o segundo momento em que os surrealistas portugueses entravam numa exposição mundial. Numa carta já do início de Agosto, Cesariny pediu obras colectivas de Seixas feitas com Paula Rego, Mário Botas e Raul Perez e que não pertenciam à galeria S. Mamede. A participação portuguesa avançou e o núcleo do conflito foi superado. As peças de Pereira Coutinho foram postas de lado. Pouco depois, parte da colaboração portuguesa foi entregue aos serviços da Fundação Gulbenkian para ser emoldurada, segurada e expedida, o que sucedeu no final do Verão, ao mesmo tempo que Cesariny enviava para Chicago a relação final das obras e dos portugueses presentes (Cesariny, Seixas, Leiria, Carlos Calvet, Fernando Azevedo, Marcelino Vespeira, Gonçalo Duarte, Raul Perez, Paula Rego, Mário Botas) – a mais copiosa e variada representação lusitana num certame surrealista mundial. As obras – é de justiça juntar as de Malangatana e Matsinhe também escolhidas e expostas em Chicago – tiveram dois meses de espera na alfândega, o que comprometeu de novo a abertura da mostra e a adiou para o final do Inverno ou início da Primavera do ano seguinte. Isto se diz naquela que tudo leva a crer ser a derradeira carta que o meu biografado escreveu ao amigo (13-12-1975; idem, 2014: 304): Os de Chicago adiaram para Fevereiro próximo, por falta de presença na altura de muitas obras que esperavam (as nossas também que tiveram dois meses de alfândega alfacinha).
Embora ultrapassado no derradeiro momento, o conflito entre Seixas e Cesariny a propósito das peças a enviar para Chicago deixou marcas na relação dos dois. O diálogo entre ambos, entre Maio e Dezembro de 1975, apesar do desfecho, inesperado até no número e na qualidade notável dos envolvidos, com recurso a gente do G.S.L., Azevedo e Vespeira, embora do tempo do Hermíneos, foi atravessado por momentos de grande tensão e até de insultos. Na carta que o homem da Rua Basílio Teles escreveu ao amigo no dia em que fez 52 anos, e ninguém como Seixas os podia festejar ao lado do aniversariante, recusa-se a responder a insultos – “está muito calor esta tarde” desculpou-se naquele jeito humorado que só ele sabia ter e que tanto o defendia das agressões do exterior – e isso numa altura em que já estavam aceites as bases de entendimento para se prosseguir com a participação em Chicago.
Outra questão marcante neste período foi a falência em que Cesariny entrou. Chegou à Primavera de 1975 tão aflito de dinheiro que para a mais pequena viagem se tinha de socorrer dos amigos. A situação do início da década de 70, com entradas regulares de dinheiro, fruto da pintura e dos serviços prestados a Pereira Coutinho, reverteu e a situação nesta época voltou à das décadas anteriores, em que andava sempre liso e vivia de cravar um café e de apanhar beatas nas bermas. Numa carta para Laurens traçou deste modo a situação (15-6-1975; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 154): Sim, estou cheio de dificuldades também eu. Não tenho um tostão, não vendo, já não se vende pintura, e talvez nem eu queira vender. É isso. Esta sua situação aflitiva em termos financeiros – no Verão de 1975 a irmã chegou a sair de casa para o aliviar de despesas e ele deixou de pagar a pequena renda do ateliê que tinha na Calçada do Monte – teve a ver com o seu afastamento dos negócios que Pereira Coutinho então fazia. O assunto tinha de vir ao de cima nas conversas com Seixas e foi motivo de azedume entre os dois, com Seixas a acusar o amigo de ter ganho na S. Mamede mais dinheiro do que ele e este a acusar Seixas – acabara de trocar o seu velho Fiat por um carro novo, um MX sport, descapotável, que foi motivo de troça em cartas de Cesariny na época – de fazer uma vida de luxo “que ninguém pode ambicionar em Portugal” (carta a Laurens Vancrevel, 15-6-1975).
No início de Agosto, quando tentavam chegar a um entendimento sobre as bases das obras a enviar, Seixas chegou a prometer ajuda ao amigo, que se lhe agarrou desesperadamente. Eis as suas palavras (2-8-1975; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 302): Sobre os mil escudos que me proporcionas não hesites um segundo. Deixa-os na minha caixa de correio, se não tens tempo para mais e se tens tempo sobe que és bem-vindo. Mas faz muito depressa, sim? Seixas nunca chegou a subir nem a deixar a nota na caixa de correio da Rua Basílio Teles, que ele conhecia tão bem desde os tempos em que o senhor Viriato para lá se mudara com a família, mais de trinta anos antes, e onde nunca mais voltou depois desta época. Estava magoado com a intransigência do amigo e retraiu-se. Na carta que lhe escreveu no dia dos 52 anos, o meu biografado acusou a falta à sua maneira, dizendo com uma ironia arrasadora (9-8-1975; idem, 2014: 303): Fizeste bem em não me trazeres o conto de reis que tinhas. Podia fazer-te uma falta dos diabos, daqui a cinco ou seis meses. Ou anos. Ou séculos.
Quem o salvou foi o casal Vancrevel que lhe enviou mais duma vez um vale postal. Cesariny um ano depois continuava aflito de dinheiro e chegou a querer dar-lhes para venda em Amesterdão um velho relógio cravejado de pequenos diamantes que fora da mãe Mercedes – falecida em 1974, já depois do 25 de Abril, na casa da Palhavã, de mãos dadas com a filha Henriette (ficou registo da morte numa carta para Maria Amélia de Vasconcelos e num relatório enviado à Fundação Calouste Gulbenkian em 28-7-1975). O dinheiro da Fundação Calouste Gulbenkian para a viagem a Chicago e as economias que dele tirou, cerca de oito mil escudos (carta a Laurens, ?-4-1976), salvaram-no momentaneamente mas no Verão desse ano já estava metido em aflições. Escreveu de novo para a Holanda a pedir dinheiro (?-8-1976; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 184): Pois bem, é simples, se tu, vocês, puderem enviar-me algum dinheiro – não tenho um tostão, e isso pode continuar mais ou menos até Novembro, altura em que há algumas hipóteses de me ser concedida, pela Fundação Gulbenkian, uma bolsa para que possa continuar a ter o meu ateliê em Lisboa e, com isso, continuar a “trabalhar” (aqui temos de fazer alguma graça). Não sei como se pode fazer. Tenho uma conta no Banco Português do Atlântico, com o n.º 940429 (creio), nome completo, s.f.f.; e penso que será bom este meio, mas talvez me engane! Mais uma vez foi o casal Vancrevel que lhe valeu. No Outono teve a ajuda da Fundação para pagar as rendas em atraso do ateliê da Graça, podendo assim retomar as experimentações com as tintas. No ano seguinte retomou as exposições, com uma mostra na galeria Tempo, patrocinada pela Secretaria de Estado da Cultura, e recomeçou aos poucos a vender pintura, se bem que as vendas a sério, que lhe permitiram comprar o andar da Costa da Caparica em 1992, só tenham chegado na segunda metade da década seguinte, com a reconstituição de grandes cartéis monopolistas que deixaram na sombra o que se passara em Portugal na década de 60. A História é uma anedota tão velha e repetida que já nem mesmo os poetas riem dela. É porém espantoso como os mesmos homens que fizeram a revolução de 1974 em nome do trabalho e do socialismo acabaram a servir o capital de forma tão benigna e servil que Salazar e Caetano a seu lado fazem figura de inocentes criancinhas. Não há no ano inteiro mês mais traiçoeiro que Abril! Tanto neva como faz um sol radioso de Verão. Assim a chamada revolução dos cravos, com tanto de frio como de calor!
Sobre este conjunto – disputa em torno da política de vendas de Pereira Coutinho depois da revolução, fricção com as obras a enviar para Chicago e aflições de dinheiro em 1975 – a única coisa que Cruzeiro Seixas me disse, e ainda assim de olhos cerrados, com o pesar de quem não consegue abafar o espinho, isto aos 95 anos, foi que nem ele nem Cesariny souberam gerir as emoções fortes que ali estavam em jogo e que tinham a ver com uma relação de proximidade e exaltação desde a adolescência de ambos.
Fosse como fosse, a exposição de Chicago não foi o corte definitivo dos dois. Azedou-lhes o convívio, tornou-os mais desconfiados, afastou-os, mas não os separou. Já depois do regresso do meu biografado da América, no Verão de 1976, ainda Seixas continuava a telefonar para a Rua Basílio Teles e a manter demoradas conversas com Henriette, que conhecia desde o final da adolescência. Cesariny relatava assim o caso (?-8-1976; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 182): Seixas já não gosta de mim! Agora só gosta da minha irmã Henriette, com a qual mantém grandes conversas telefónicas. Com o fecho da galeria S. Mamede e a saída para o estrangeiro do galerista, Seixas tornara-se, com a ajuda de Natália Correia, funcionário da Secretaria de Estado da Cultura e ainda no ano de 1976 passou a dirigir a galeria da Junta do Turismo do Estoril, pertença da Câmara de Cascais. Um dos primeiros eventos que organizou, no final de 1976, de colaboração com Eurico Gonçalves, e com abertura prevista para Março seguinte, foi a exposição “o erotismo na arte moderna portuguesa”, em que Cesariny não quis entrar e que a Câmara tomou por obscena, proibindo-a. Ora toma! Isto dois anos depois da revolução. Neste assunto da liberdade ninguém tem emenda! Amada ou detestada, não passa dum acidente desprezível de que todos se servem sem terem por ela a menor curiosidade. Na primeira curva desfazem-se dela como dum fardo inútil. Ficou registo da proibição no jornal A Luta (6-4-1977).
Ao tempo que isto sucedia, Laurens na Holanda acertava uma exposição de pintura com a galeria Bouma de Amesterdão onde deviam participar alguns colaboradores da revista Brumes blondes, Phillip West, Rik Lina, Cesariny, Seixas e Raul Perez. O primeiro tropeção surgiu com a recusa da galerista expor os quadros do meu biografado. Não gostava, não queria! A exposição só se podia realizar sem ele. Para não comprometer o evento, aceitou sair. O segundo, mais grave, teve a ver com a expedição e o retorno das obras portuguesas, a cargo duma direcção-geral da Secretaria de Estado da Cultura e que acabou por levar pouco depois da exposição ao corte de relações entre Seixas e o casal neerlandês. A partir daí só Rik Lina continuou em contacto com ele – esse até aos dias de hoje. Cesariny ainda participou no final do ano numa exposição ao lado de Seixas, mostra por este organizada na galeria do Estoril – a do movimento Phases de Édouard Jaguer. Regressará à galeria do Estoril, na companhia de Mário Henrique Leiria, no ano seguinte, numa mostra organizada pelo responsável do espaço, a evocar os 30 anos do surrealismo em Portugal e o cinquentenário do nascimento de António Maria Lisboa e que contou com a presença da actriz Eunice Muñoz, lendo poemas do homenageado. Ficou fotografia do grupo, com cada um deles na sua ponta. Foi nesse momento que a editora lisboeta Assírio & Alvim, publicou, com edição de Cesariny, o volume Poesia de António Maria Lisboa, que pela epistolografia inédita recolhida, pela iconografia e pelo comentário do organizador deixou muito para trás a anterior edição da editora Guimarães, que o leitor já teve notícia no início da década de 60. Nesse volume em que trabalhou em 1977, inseriu colaboração de Seixas – desenho enviado de Angola na década de 50 para integrar as obras de Lisboa que Pacheco estava então a pensar editar na chancela Contraponto e de que só saiu o belo estojo editado em 1956 com o texto A verticalidade e a chave.
No Verão de 1978 – a edição do volume de António Maria Lisboa traz a data de 1977 mas só foi distribuído na Primavera do ano seguinte – iniciou colaboração com o Jornal Novo, dirigido por Helena Roseta. O convite partiu talvez de Natália Correia, colaboradora assídua da folha e cada vez mais próxima de Cesariny, que lhe dedicou pouco depois poema, “Natália Correia”, integrado na caixa final de Primavera autónoma das estradas (1980). Fez parte do painel de oradores do encontro que o Jornal Novo promoveu no teatro Monumental de Lisboa, no final de Julho, com a legenda “pelos direitos humanos, contra os julgamentos de Moscovo”. Notícia do encontro e das comunicações então ouvidas lê-se no Jornal Novo (1-8-1978). A sua intervenção foi publicada no dia seguinte pelo jornal, “Nasceu este ano na U.R.S.S. um ciclo de heróis”, texto nunca recolhido em livro pelo autor e datado de 30 de Julho. O mais curioso do conjunto é talvez a inclusão de Trotsky ao lado de Estaline, Hitler, Franco e Salazar. A sua ruptura com o círculo de Lopes Graça, a descrença na União Soviética e a saída do Partido Comunista deu-se depois da leitura dum livro escrito por um admirador incondicional de Trotsky, Maurice Nadeau. Demais, o próprio fundador do surrealismo estivera em 1938 com o revolucionário russo, chegando a escrever com ele um texto a quatro mãos, “Por uma arte revolucionária independente”, que Cesariny conhecia muito bem e que acabara até de traduzir e de publicar no livro Textos de afirmação e de combate… (1977), livro de que adiante se dirá. Agora, não hesitava em colocar a “revolução mundial” de Trotsky ao lado da “revolução social nacional” de Estaline e da “revolução nacional social” de Hitler. O que ele queria dizer com isso era que o marxismo mesmo na sua versão mais inteligente e heterodoxa corria o risco de reproduzir o lado castrador da mentalidade civilizada, fazendo parte dos que queriam reprimir o desejo, escravizando a sua força pulsional e encanando-a ao serviço do trabalho e da riqueza. A ele o que lhe interessava era viver o desejo, não o trabalho. Era um dissidente mental do sistema tal como este se formara com a civilização urbana e se consolidara depois com o mundo clássico e os seus impérios. Em carta ulterior manifestou a sua dissidência também para com o sistema político demoliberal, ou democrático, sem que isso deva ser lido como ingratidão ou menosprezo pela pequenina parcela de liberdade que esse sistema lhe deixava e que sempre prezou (?-10-1995; idem, 2017: 434): Aqui o governo vai passar de pseudo-social-democrata a pseudo-socialista. E este ano, pela primeira vez, não exerci o meu direito de voto. E é o que farei daqui em diante, étant donné, que aquilo que me interessa, a mim, escapa-lhes, perdidamente. A todos eles.
Poucos dias depois, voltou às páginas do jornal para fazer uma sátira da situação política então vivida – demissão do 2.º governo constitucional de Mário Soares pelo presidente da república Ramalho Eanes. Chamou ao texto “Homenagem aos Marretas” (Jornal Novo, 7-1-1978), que nunca recolheu em livro e faz lembrar, pelo diálogo entre duas personagens, os dois Marretas, pelo humor venenoso mas inteligente, uma secção que ele tivera com Manuel de Lima em 1968 no J.L.A., “O consultório do Dr. Pena e do Dr. Pluma”, essa recolhida no livro Primavera autónoma das estradas (desafortunadamente é outro dos textos que desapareceram na edição da Poesia reunida em 2017). O mais subido do texto é porém a nota final, da responsabilidade do narrador e que nada tem a ver com a vida política da época. Diz assim: Desistindo do Banco de Portugal, [os dois Marretas] atravessam a fronteira do Caia, com sete mil escudos cada um, para se irem inscrever no Grupo Surrealista da Universidade de Pisa, formado pelo grande escritor Dr. António Tabucchi, por sua esposa, Dr.ª Maria José Lancastre, por Alexandre O’Neill, amigo do casal, pelo infausto poeta, Eng. Jorge de Sena, e pela Dr.ª Luciana Stegagno Picchio, a António Pedro italiana.
O que é afinal este Grupo Surrealista da Universidade de Pisa, que tanta importância teve depois para o corte definitivo entre Seixas e Cesariny? António Tabucchi, que publicara no início da década em Itália, La parola interdetta – poeti surrealisti portoghesi (1971), cujo estudo introdutório fora refutado por Laurens Vancrevel na nota que escrevera em 1972 para a revista belga Gradiva e que Cesariny recuperara no recentíssimo Textos de afirmação e de combate…, regressara ao surrealismo português, desta vez com um dos Quaderni Portoghesi, que se publicavam na cidade de Pisa, Itália, sob a responsabilidade de Tabucchi, Maria José Lancastre e Luciana Stegagno Picchio. O caderno consagrado ao surrealismo português fora organizado nesse Inverno e acabara publicado no final da Primavera. Entre vária colaboração, trazia um texto de Alfredo Margarido, “Surrealismo in Colonia” – traduzi-o com o título “Surrealismo negro” (A Ideia, n.º 73/74, 2014: 72-76) – e outro de Jorge de Sena, datado de 16-4-1978, e que deve ter sido um dos derradeiros, se não o derradeiro, que deitou ao papel pois falecia nem dois meses depois (4-6-1978). Havia ainda um inquérito, a que Seixas respondeu com aquela modéstia tão dele e que não podendo ser tida por falsa, já que nenhum cálculo estratégico a sustenta, é mais chocante do que a sobranceria estudada. No geral continuava a dominar a historiografia de José-Augusto França, em quem Cesariny malhara forte em Junho de 1975, na primeira folha do Bureau Surrealista, e que era de resto um dos colaboradores em evidência do caderno. Stegagno Picchio convidara o meu biografado a responder ao inquérito mas este recusara. Depreciara Tabucchi no prefácio de Textos de afirmação e de combate… e reproduzira no mesmo livro a nótula tóxica de Laurens Vancrevel sobre a compilação de 1971. Não confiava no escritor italiano e receava uma armadilha, em que de repente se visse envolvido, lado a lado, com o seu arqui-inimigo Jorge de Sena – o “rato do Wisconsin”.
Numa carta a Laurens Vancrevel deu conta da situação nestes termos (6-5-1978; idem, 2017: 434): O António e a Maria José Tabucchi ainda não desistiram: preparam um caderno sobre o surrealismo português – lá em Itália, na tal Universidade da Batata Frita. Como as coisas entre nós ficaram feias, depois do meu prefácio aos “Textos” que lhes enviei e leram, aparece agora a escrever-me a directora-geral deles todos, uma senhora Luciana Stegagno Picchio – esta simpática e realmente inteligente (à Romana): querem que responda a três ou quatro perguntas (bem feitas) para uma entrevista a sair nos ditos cadernos italianos. Não respondo. Prefiro ler. Depois de lido, se os cadernos servirem de alguma coisa mais a sério, o que duvido, manda-se um telegrama a felicitar. Se for totalmente horrível, proponho-te um número de Brumes blondes sobre a Cidade Eterna, Tabucchi, Aldo Moro e o Papa.
Cesariny leu em Julho o terceiro dos Quaderni Portoghesi e achou-o “horrível”. Como ele esperava, o texto central era o de Jorge de Sena, que atrevidamente se atribuíra em 1949, nos linguados da Seara Nova, o papel de fundador do surrealismo em Portugal, passando a ser detestado pelos que fizeram a sessão da Casa do Alentejo em Maio de 1949 – esses, sim, os fundadores no que havia a ser fundado de intransigência política, de escândalo e de aventura interior na busca do “eu” absoluto liberto das escórias do “eu” social. Depois havia António Tabucchi, que o dava como colaborador de jornais da extrema-direita, caso que era retomado com mais acinte e desplante por Almeida Faria num texto aliás povoado de erros factuais que podia ser lido como chicana aos principais membros do grupo surrealista dissidente. Talvez fosse essa a sequência que mais o irritou – foi pouco depois publicada em português com o título “Um surrealismo de trazer por casa” (revista Sema, n.º 1, Primavera, 1979) – a ponto de pouco mais tarde em carta a Maria Amélia Vasconcelos ter dito e repisado (6-3-1984; Cartas para a Casa de P., 2012: 78): Almeida Faria, um sacana. Este é sacana sacana (horizonte de vida literária sacana). Quando recebeu e leu o caderno, já Jorge de Sena havia falecido na Califórnia, o que muito atenuou o eventual choque do seu texto, que era até dos menos indispostos e dos mais compreensivos e distanciados que ele escrevera sobre o assunto.
Dum tal “horror” não chegou a tirar o número proposto ao coordenador de Brumes blondes mas saiu a notinha final da homenagem marretal e um texto, “Apólogo do Grupo Surrealista de Pisa”, que foi publicado ainda no mês de Agosto (Jornal Novo, 21-8-1978) e também nunca recolhido em livro. Um apólogo dialogal é uma verdade moral expressa sob a forma de fábula. Se o texto tem alguma “verdade”, só pode ser o surrealismo e a sua História – velha preocupação do autor desde que lera em Lisboa no início da década de 60 o livrinho de Jean-Louis Bédouin, se é que a inquietação não datava de 1949, altura em que a historiografia de França vira luz com a publicação do Balanço das actividades surrealistas em Portugal. Os Marretas que dissecam o caderno pisano são a fábula possível do apólogo. Numa pequena nota final, o enunciador diz que o “entremez” está fechado. O burlesco do entremez está de feito mais adaptado ao tom satírico do conjunto que a altivez do apólogo – sempre nobre, moralizante, superior. Consagrado aos textos de Tabucchi e de Almeida Faria, o apólogo passa muito ao de leve o nome de Jorge de Sena e nem sequer lhe toca no texto acabado de escrever e publicar. Num morto não se toca nem com uma leve pena de passarinho, não é assim, ó Mário?! Em contrapartida tem um curto e ambíguo passo sobre Seixas, repescando uma das afirmações da sua resposta ao inquérito – “Ainda hoje não me considero surrealista”.
Seixas não gostou de se ver comentado ao lado de Tabucchi e Almeida Faria, de quem ele também tinha razões fortes de queixa por causa de Mário Botas. Respondeu com uma réplica azeda, cujo título, “Sacaníssima visão”, glosa livro do amigo. O texto teve direito a chamada na primeira página, “Cruzeiro Seixas responde a Mário Cesariny”, e abre assim (Jornal Novo, 30-8-1978): Realmente este Cesariny é uma lástima. Viver o mais longe possível de semelhante personagem é o que faço, por motivos de higiene, há 3 anos. Mas como aparece pontualmente nos sítios em que dá bom resultado aparecer, lá vem assiduamente servido pela TV ou pelos jornais. E assim, amigos comunicaram-me ontem o seu tão espirituoso “Apólogo do Grupo Surrealista de Pisa”. O que quero dizer é que, destas intervenções, não sai de há muito, e infelizmente, qualquer luz que dê uma ajuda à Humanidade São anedotas, mas de tão curto raio de acção, que confrange. (…) Diz o povo que quem tem telhados de vidro não atira pedras aos dos vizinhos. Creio que se não há mais pedradas sobre os telhados da Basílio Teles, é por dó, por elegante generosidade, em homenagem à poesia que fez quando jovem.
Seixas repetia destarte os mesmos argumentos que foram postos a correr pela primeira vez por Luiz Pacheco na carta de Agosto de 1966 a Vitor Silva Tavares – missiva que tinha por sujeito os critérios organizativos do livro A intervenção surrealista, feito este ainda com a fraterna colaboração de Seixas. Já o leitor sabe que foi a edição dessa carta no Pacheco versus Cesariny – e só aí o autor de Pena capital a leu – que levou este a montar o Jornal do Gato, ficcionando mesmo partes novas para essa carta. A ideia dum Cesariny duplicado – o da juventude, aguerrido, destemido, revoltado e o da maturidade, acomodado, medroso e vendido – nasceu aí e daí evoluiu ao longo de anos, primeiro com a questão da folha do Verão de 1967 contra o julgamento da edição comercial d’ A Filosofia na Alcova e que Cesariny se recusou a assinar, e depois com a folheca acusatória de Virgílio Martinho em Maio de 1968 por causa do sumiço do seu texto no J.L.A., as ironias várias de Pacheco, a panfletada de Ribeiro de Mello, as picardias do jornal & etc contra o surrealismo mamedino, as arremetidas de Ernesto de Sousa (“A Prima Dona”, A Capital, 9-9-1970), a chacota de Nelson de Matos no D.L. e por fim o obituário de Baptista-Bastos. O caso do texto de Seixas no Jornal Novo é só mais um – mas de importância transcendente tratando-se do mais antigo e do mais próximo companheiro de Cesariny. E falo tão-só da fortuna pública do assunto com os principais momentos que foram surgindo entre 1968 e 1981. Pelo meio houve ainda episódios privados como a carta que Helder Macedo lhe escreveu em Julho de 1970 no seguimento do texto do catálogo para a exposição de Seixas na galeria de Pereira Coutinho, “20 bules e 16 quadros” (Maio, 1970), e que insiste no mesmo argumento dum Mário duplicado.
A réplica de Seixas recorria a raciocínio igual – a nobilíssima visão do jovem de antanho volvera-se na sacaníssima visão do homem do presente – e aventurava-se por trilhos perigosos, em que só Pacheco se atrevera e ainda assim a medo – dar a conhecer os “procedimentos menos lisos, arbitrários, mentirosos ou calculistas, a que assisti quando ao seu lado”. Deixe-se um exemplo deste perigoso exercício (idem): Nos bons tempos em que eu me queria forçar a defender e a amar esta personagem, apareceu-me apaixonado (paixões de galinha que duram um segundo conheci-lhe dúzias delas), por esses tais Tabucchi. Que eram ricos, que tinham torre medieval (Lancastre), lá para os lados de Braga, que por lá poderíamos passar uns dias aristocrático-ó-intelectuais. Acabei por lhe fazer a vontade e fomos. Os Lancastre Tabucchi tinham a torrezinha, mas, ali, não foram nada calorosos. A torre era para eles. Para nós era um pobre quarto, na pensão da aldeia.
A viagem ao Minho – Cesariny nunca a refere e Seixas é hoje incapaz de precisar uma data – aconteceu antes de 1971, quando Tabucchi ainda recolhia materiais para a antologia de poesia surrealista portuguesa que depois publicou em Turim. Interessava-lhe então ter contacto directo com os protagonistas do seu livro. Seixas e Cesariny iniciavam então profícua colaboração na programação da galeria de Pereira Coutinho, planeavam editar os cadernos de papel mata-borrão, estavam mais próximos um do outro do que nunca e era vulgar fazerem pequenas viagens no pequeno Fiat que Seixas então tinha, quer para visitarem exposições, museus e feiras fora de Lisboa quer para o engate sexual.
Cesariny desvalorizava as críticas negativas que sobre ele se escreviam e muitas vezes passava por elas como cão por vinha vindimada – nem as lia. Desta vez foi porém obrigado a atentar no linguado. Apareceu publicado e com chamada à primeira página num jornal de que era colaborador – só no mês de Agosto deu ao Jornal Novo cinco textos (apenas um, o poema à memória de António Areal, foi recolhido em livro e muito alterado) – e que talvez lesse diariamente. Certo é que depois deste linguado só voltou uma única vez às páginas do jornal (9-12-1978) e apenas para publicar traduções de poemas de Emílio Adolfo Westphalen, com quem se acabara de cruzar na América e que viria pouco depois, em 81, para Lisboa como adido cultural da embaixada do Peru. Poucas coisas na vida o magoaram tanto e de forma tão duradoura como estas palavras de jornal. As duras críticas de Gastão de Cruz aos seus livros, que ele pareceu sempre ignorar, são bolas de sabão ao pé destas palavras duras e lascadas como pedras que ferem.
Sempre gostara muito de Seixas – há um cartão de adolescência em que lhe repete variadas vezes “se tu soubesses como eu gosto de ti, Seixas”. Conheciam-se desde 1935 – Seixas sempre me disse que tinha 15 anos quando o conheceu –, ano em que ambos entraram para a escola António Arroio, um com doze anos e outro a fazer os quinze, e com ele vivera os momentos mais marcantes da sua vida. Além disso, devia-lhe muito. Sem Seixas, a exposição de 1949 não teria sido o que foi – pertencem-lhe as fotografias tiradas no exterior e os desenhos de António Paulo Tomás foram lá postos por sua iniciativa. Sem ele, o livro de 1966, A intervenção surrealista, ficaria muito mais pobre, a começar pela imagem da capa que lhe pertence. E sem Seixas, e o apoio que lhe deu na galeria S. Mamede, a sua carreira de pintor não tinha sido tão fácil, tão aberta e tão temporã. Foi ele que, mal assumiu a direcção da galeria, no final de 1968, o chamou de Londres para fazer a sua primeira grande e reconhecida exposição lisboeta e nela foi decisivo o texto que então escreveu para o catálogo do amigo. O próprio Cesariny o confessou em carta (15-6-1969) que então enviou para Guy Weelen e que o leitor já conhece. Embora com evidente exagero, e que o destino mais tarde desfez, pôde dizer pela primeira vez: – estou a começar a ficar rico! E foi ainda Seixas que o acompanhou à Holanda, a Londres, a Madrid, às Canárias – além de ter sido ele que lhe proporcionou alguns dos mais lúcidos e adiantados textos sobre a plástica surrealista, desde a curta reflexão “Mensagem e ilusão do acontecimento surrealista” (Pirâmide, n.º 1, 1959; recolhido em As mãos na água…), cuja primeira versão é do início de 1954 e foi escrita a partir da primeira exposição de Seixas em Luanda, até ao livrinho de 1967, Cruzeiro Seixas, dado a lume na editora que então publicava o J.L.A., o jornal de Azevedo Martins. Pois foi Seixas que na sequência do mal-estar da exposição de Chicago deu a público “Sacaníssima visão” – desproporcionada resposta à arranhadela felina e desnecessária que fora engastada na gozação do Grupo Surrealista de Pisa!
O ofendido reagiu de forma severa ao texto. Conheço e publiquei carta dele escrita no rescaldo da leitura, em que diz o seguinte (?-9-1978, Cartas para a casa de P., 2012: 51): O Cruzeiro Seixas publicou há pouco uma prosa grosseiríssima tentando indispor todo o mundo contra mim – inclusive vocês. Coisa muito rasca, género porteiro de prédio demolido há muito e que vem cantar a “história” ao passeante desprevenido (e provavelmente à procura de quarto para alugar); não lhe dei resposta. Tudo muito sujo. Fique onde está. “Ficar onde estava” significou para ele nunca mais falar ao amigo, afastando-o do seu caminho. Iniciou assim um processo de “limpeza” em grande escala, que muito lhe deve ter custado, embora desse a entender que o fazia com um encolher de ombros. Nos meus encontros com o homem da Rua Basílio Teles nunca lhe perguntei por Seixas mas perguntei-lhe um dia por Luiz Pacheco e ele pôs um ar sofrido e disse-me: – “Fui vítima de palavras muito feias.” O mesmo diria com certeza para Seixas. No fundo sofria e não se conformava com as palavras que um e outro sobre ele escreveram. Era nesse aspecto um ser solar e generoso, que precisava de reunir os amigos à sua volta em plena confiança. Além da revolta contra uma sociedade que martirizara o desejo, e da graça venenosa que lhe servia de arma de ataque e de defesa, Cesariny tinha o calor das grandes amizades fraternas que nunca se desfazem e a nostalgia dum grande e único amor eterno que nunca chegou a encontrar e talvez tenha sempre procurado.
Desfez-se rapidamente dos muitos trabalhos plásticos do amigo que fora acumulando ao longo das décadas e que distribuía entre as paredes da sua casa da Rua Basílio Teles e as da oficina da Calçada do Monte. Atendendo às relações que tinham desde a segunda metade da década de 30, é possível que fosse ele a ter na época o mais rico e completo acervo de pintura e de desenho de Cruzeiro Seixas. As peças foram oferecidas a amigos, numa pressa de se libertar daquilo que o incomodava e que todos os dias os olhos estavam obrigados a ver, tornando-se a porta de entrada de recordações que ele queria evitar e esquecer depressa. Que se saiba nada foi vendido. Conta José Manuel dos Santos que numa altura em que se desfez dum desenho de Cruzeiro Seixas que tinha por tema Adão, Eva e a maçã, terá escrito a seguinte dedicatória: “Memória dum paraíso sem Adão e sem Eva e de que nada sobrou a não ser a víbora”.
O seu afã em limpar o antigo amigo foi tão largo que não se limitou a desfazer-se da pintura e do desenho que dele tinha. Retirou da bibliografia o livrinho de 1967, Cruzeiro Seixas, e quando o republicou afastou o que a Seixas dizia respeito, rebaptizando-o “Do surrealismo e da pintura” (As mãos na água…). O sibilino poema que lhe dedicara na primeira edição de Planisfério e outros poemas, “Passagem de Cruzeiro Seixas em África”, não mais voltou ao livro nas sucessivas edições das obras na Assírio & Alvim – a edição póstuma da Poesia reunida recolheu-o felizmente numa cortina final de “outros poemas” (2017: 691). Também na última entrada que escreveu para o diário final d’ A cidade queimada, quando esteve em Paris em Fevereiro de 1970 para preparar a exposição dessa Primavera de Vieira na galeria S. Mamede, o nome de Cruzeiro Seixas desapareceu. Lembre o leitor que a entrada era constituída por vários parágrafos, cujo derradeiro recuperava um passo significativo duma carta de Seixas então recebida em Paris. A nova entrada, com o passo de Seixas, foi dada a lume pela primeira vez na antologia de 1972 e assim foi repetida em Titânia e a Cidade queimada (1977). Nas edições ulteriores da Assírio & Alvim o último bloco desapareceu e com ele qualquer alusão ao velho amigo. A edição póstuma da Poesia reunida não recuperou desafortunadamente o texto do bloco perdido numa anotação final – trabalho que será de todo indispensável fazer numa reedição futura.
A reacção como se vê foi severa e castigadora. O nome de Seixas foi limpo do final d’ A cidade queimada e o poema que lhe foi dedicado no livro de 1961 desapareceu. O seu trabalho plástico também foi aqui e ali depreciado. Em carta a Philip West lê-se o seguinte (31-3-1979; Cartas a F. e L. Vancrevel, 2017: 254): E a última investida: “The portuguese art since 1910”, na Royal Academy, Londres, 1978. Aí, como sempre, Seixas. Um grande senhor da arte, Seixas. A idiotice total em Picadilly. Por uma carta ao casal Vancrevel sabemos que Cesariny se recusou a participar na exposição. Diz (23-7-1978; idem, 2017: 232): Recusei participar, devido ao título escolhido para a exposição, o que o Sr. Helmutt Wohl compreendeu muito bem.
Não creio que o meu biografado alguma vez tenha esquecido o choque que foi a publicação do artigo de Seixas e ainda em Julho de 1989, quando passavam dez anos sobre a carta que escreveu a Philip West, ao iniciar uma das suas folhas individuais, The ted oxborrow’s…., voltou ao caso. De resto, 1989 é o ano em que ele negou autorização a Lima de Freitas para republicar um texto seu sobre Cruzeiro Seixas num livro que aquele pintor então organizava para homenagear Seixas. Estas folhas seguiram-se à série Noa Noa, que se seguiram às do Bureau Surrealista, iniciativas sempre dele, que escrevia ou recolhia frases e textos para as folhas, as imprimia ou fotocopiava e as fazia circular depois por correio postal – as folhas tinham em geral uma tiragem que podia variar entre os 50 e os 150 exemplares e eram quase sempre assinadas. A folha dedicada a José-Augusto França – “O França é pior do que a Nato” – de Junho de 1975 e a folha contra Manuel Maria Múrias e Barradas de Oliveira, ambas do Bureau e com impressão em tipografia, tiveram decerto tiragem muito superior. Nenhuma folha destes conjuntos foi ainda recolhida em livro. Em Junho de 1989, ele iniciou a colecção The ted oxborrow’s… com a frase de Seixas aos Quaderni Portoghesi, desta vez em italiano: Ancora oggi non mi considero un surrealista. Onze anos depois ainda lhe bailava no espírito a frase que comentou na farsa do “Grupo Surrealista de Pisa” e que deu origem ao texto do amigo. É muito tempo. A guerra que teve com Luiz Pacheco por causa da publicação de Pacheco versus Cesariny durou apenas três anos – desde a construção do Jornal do gato até às atrabiliárias do “campista escritor” que entremeiam os comentários do volume Poesia de António Maria Lisboa. Depois disso é a escuridão e o silêncio – talvez aí, sim, com um encolher de ombros de pura indiferença. O caso de Seixas é distinto. Conhecia-o desde os 12 anos e devia-lhe a parte mais significativa da formação da sua personalidade – esse Homem Mãe que passou a ser o seu sonho sexual. O facto de 11 anos depois voltar a ele, gravando na sua melhor caligrafia a frase do amigo e distribuindo-a por correio postal numa edição de dezenas de exemplares, é sinal que o assunto não morrera nem esquecera. Continuava a perturbá-lo por dentro como o tumultuou sempre até ao fim.
Como quer que fosse, Seixas sofreu mais com o afastamento. Conhecera o Mário quando este era um menino bem, de olhos fechados, que acabara de sair do seu primeiro ano de liceu. Quando lhe pedi um dia para me dar o traço desse primeiro Mário, ele disse-me que entre as manas e a mamã era um garoto lindo, delicado, de bons modos, que parecia estar fadado a ser um aristocrata dos chás e dos bailes da capital. Era um botão de elegância num jardim de futilidades. Assistiu depois ao seu lento desabrochar e ficou maravilhado com a rosa rara em que ele se tornou. A luta contra o pai, a revolta social, a paixão indomada pela música e pela poesia foram os ingredientes que lhe adubaram a terra e lhe oxigenaram o ar. Foi ele ainda o modelo e o confidente das suas primeiras paixões homossexuais, o que mais o chegou ao amigo. Tinha os olhos postos nele e admirava-o como se admira e venera o sol que dá luz e cor ao dia. Seguiu-o sempre sem hesitar, primeiro na adesão ao neo-realismo, depois na descoberta do surrealismo. A mais trágica experiência desta fidelidade aconteceu num cinema de Paris em Setembro de 1964, quando roído pela impotência e pelo desespero o viu a seu lado filado pela bófia de De Gaulle, saindo cabisbaixo entre dois cães. Três lustros depois desta tragédia, fora-se o amigo. Quando a febre do Verão de 1978 baixou e ele caiu em si, percebeu que perdera para sempre o companheiro querido da sua juventude, conquanto dentro de si se tenha sempre recusado a aceitar o facto, para o qual 20 anos depois ainda procurava explicação.
A falta e o mal-estar da situação foi tão grande, que no início da década de 80, não obstante o gosto que punha no trabalho que fazia na galeria do Estoril – a sua vocação, além do desenho e da criação de objectos, era a programação – e a vida montada que tinha em Lisboa desde que regressara de Luanda, Seixas pediu transferência para o pólo do Algarve da Secretaria de Estado da Cultura. Não conhecia a bem dizer a região, nem ninguém nela, mas entendia-se com Tomás Ribas, o superior hierárquico da secção local e que ele conhecera em Lisboa na década de 40 – Ribas fora um dos rapazes que estivera presente na sessão da Casa do Alentejo, no início de Maio de 1949, sobrevivendo mesmo alusão a intervenção sua no final do serão, exigindo novas sessões sobre surrealismo. Seixas instalou-se numa casinha que comprou em São Brás de Alportel, a que chamou a “Caverna”, ilustrativo nome do seu estado de espírito. Ia todos os dias de manhã no seu carro para Faro e Vila Moura, onde fazia programação numa galeria. À tarde regressava para tomar banho e pintar ou então pegar no carro e ir ao engate para as praias do litoral – recusou sempre ter relações sexuais com os rapazes da vila. Na caverna rústica de São Brás de Alportel, seu retiro, recebeu um dia a visita de João Carlos Sobral Meireles, irmão de Isabel Meyrelles, e do banqueiro Artur Cupertino de Miranda, sogro de Meireles, interessado em comprar-lhe o espólio e a colecção de pintura. Repetia-se o que outrora sucedera em Luanda com Manuel Vinhas, entretanto falecido no Brasil pouco depois da revolução. Só regressou a Lisboa no final da década, em 1989, à beira da reforma, e esteve sem se cruzar com o amigo quase até à morte deste, embora o avistasse ao longe de quando em quando numa mostra de pintura. A distância inacessível a que o vislumbrava ainda o magoava mais. Só em Dezembro de 2003 o reencontrou frente a frente numa exposição na galeria S. Mamede que fez com Raul Perez. Cesariny apareceu para estar com ele mas o encontro correu mal. A desconfiança instalada entre os dois tinha já então um quarto de século! Mais tarde numa outra mostra organizada na galeria Perve por Carlos Cabral Nunes, quando o meu biografado estava já muito doente, morria três semanas depois, houve novo reencontro. Era porém já muito tarde para qualquer reconciliação mesmo no plano simbólico. Isso reconhecera Seixas pouco antes, em 2001, num apontamento inédito duma carta para Cesariny, que porventura nunca chegou a seguir e que mostra como o assunto o torturava por dentro [inédito; arquivo da UÉ]: Tento esclarecer o que por certo não tem esclarecimento possível.
É tempo de retomar a exposição de Chicago. Devido aos sucessivos atrasos, alguns da responsabilidade da parte portuguesa pelas razões que o leitor já conhece, a mostra só abriu no dia 1 de Maio de 1976. Cesariny e Graça Lobo vinham a programar a viagem desde o final do Verão de 1975, altura em que se resolveram os problemas com a participação portuguesa. Tudo levava a crer que a exposição ia ter lugar muito em breve, no Outono desse ano. Pensavam então fazer uma viagem de 15 dias – na verdade 14 –, com duas estadias, a primeira em Chicago em casa do casal Rosemont e a segunda num hotel em Nova Iorque, que Graça Lobo conhecia bem. Depois de Madrid, Paris e Londres, Cesariny queria conhecer esta cidade da Costa Leste. Nela vivera André Breton cinco anos, nela escrevera os “prolegómenos” a um terceiro manifesto do surrealismo (ou não), nela fundara a revista VVV, nela organizara uma exposição com Duchamp e nela encontrara, num restaurante de bairro, o Larré’s, Elisa Claro, que seria pouco depois Elisa Breton – e que Cesariny avistou na sala de entrada da Rua Fontaine onde Breton o recebeu em Setembro de 1947. Ficou registo deste primeiro itinerário, já estudado com uma agência de viagens em Lisboa, numa carta para Alberto de Lacerda do início de Outubro de 1975 e onde afirmava (Cartas de M.C. para A. de L., 2015: 59): Imagine, suponha, precipite que a partir do final deste mês estou nos U.S.A., vulgo Chicago e Nova Iorque, por 15 dias.
Com os atrasos que se seguiram – dois meses de alfândega do material português e demoras idênticas com outras participações – a exposição foi adiada para Maio do ano seguinte. Cesariny e Graça Lobo reajustaram os planos, até porque chegara entretanto novo convite. Um velho conhecido de Londres, que lhe fora apresentado por Alberto Lacerda na primeira estadia e que passara em Lisboa em 1967 – ficou registo do trânsito numa carta para Lacerda (?-8-1967; idem, 2015:42) –, quando soube da ida de Cesariny a Chicago convidou-o a visitar o México, pagando-lhe passagem e dando-lhe tecto. Se a grande cidade da Costa Leste era o lugar onde o fundador do surrealismo passara o exílio, o México era a terra que Artaud escolhera para se livrar da morte, escapar ao Ocidente e chegar ao “país dos Tarahumaras”. O próprio André Breton fora no seu encalço – foi no México que esteve com Trotsky – e foi nesse país que Wolfang Paalen se fixou no final da mesma década, aí vivendo cerca de 20 anos, até à morte. Desse convite para visitar o país de Frida Kalho, já de 1976, e que obrigou à reformulação do plano geral da viagem, deixou Cesariny registo numa carta a Laurens Vancrevel (14-5-1976; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 162): Mais uma boa notícia: um velho amigo meu, em casa de quem vivi algumas semanas em Londres, trabalha presentemente no México e, sabendo que vou a Chicago, convida-me para passar duas semanas em casa dele! É muito simpático, atendendo a que nunca nos encontrámos na cama, que trabalha e que não tem muito dinheiro, e insistiu mesmo em pagar a minha passagem de avião Chicago-México-Nova Iorque. Por carta seguinte (26-4-1976) a Alberto de Lacerda ficamos a saber que esse amigo era Joan Ponsa y Call – o que se confirma por carta posterior ao mesmo, escrita da Cidade do México, em que Ponsa escreve de seu punho, na língua de Buñuel, algumas palavras calorosas e disponíveis endereçadas ao destinatário.
Não se dá notícia de Cesariny ter algum dia vivido em Londres em casa de Joan Ponsa, que de facto passou por Londres no meado da década de 60 como muitos outros ibero-americanos. É muito provável que nos tempos da Rua Walton e depois dos Priors, as duas casas de família, a segunda com três crianças e ursinhos de peluche, Cesariny se tenha servido do tecto de Ponsa para passar a noite com alguns engates. Na carta em que relatou o seu encontro com o hispano em Lisboa, no Verão de 1967, chamou-lhe “contramestre do gigolô”, dando a entender que andou com ele ao engate na Avenida – a da Liberdade, em Lisboa, por onde nessa época uma turma de magalas e de marujos, antes de embarcar para as colónias no cais de Alcântara, andava à espreita dum Santo Antoninho, nota esverdinhada de 20 escudos. Broche patriótico – assim baptizou esta actividade em texto desta época e recolhido depois em Uma admirável droga (2001) Luiz Pacheco, ele que também andou ao mesmo pelas ruas menos frequentadas da Baixa e pelos recessos sombrios da Avenida.
Na carta a Lacerda do final de Abril, deu-lhe o itinerário da viagem (26-4-1971; Cartas de M.C. para A. de L., 2015: 62): serei Chicago de 1 ao 7 de Maio; do 7 até aí no 15 estarei no México, cidade do; e do 15 (+ ou –) estarei Nova Iorque para talvez uma semana. Lacerda estava na capital do Massachussetts e Cesariny encarava ainda depois de Nova Iorque estar com ele – bastava para isso subir a Boston. Contando com a diferença horária, Cesariny e Graça Lobo chegaram a Chicago na manhã do dia 1 de Maio, que calhou um sábado. Ficaram instalados num hotel modesto do centro, já previamente marcado pelos Rosemont, e à tarde estiveram na abertura da exposição, na galeria Black Swan, na Rua North La Salle, uma das artérias do coração da cidade velha de Chicago, muito perto do rio que está ligado ao Lago Michigan. Subordinada ao lema “Marvelous Freedom Vigilance of Desire”, foi uma exposição com cerca de 500 trabalhos, mais de 170 autores e 33 países representados. Uma exposição surrealista com esta dimensão é como um castelo sem fim, bárbaro e cheio de surpresas, uma arca negra e gótica de onde saem todos aqueles achados maravilhosos que deram em 1947 o estranho e atraente poema “salvados do incêndio do castelo almirante Wolf” que o leitor já conhece. A exposição contou com um catálogo, cuja capa teve a assinatura de E. Granell, esteve aberta seis semanas e no seu decorrer, sobretudo aos fins-de-semana, houve sessões de cinema, música (jazz e blues) e espectáculos de dança. Depois da morte de André Breton e da exposição de Paris de 1965, “L’écart absolu”, foi a primeira grande exposição internacional do movimento – isto esquecendo a de S. Paulo, em 1967, que não teve a projecção mundial da de Chicago. Sobreviveu uma fotografia do dia da abertura do evento: 16 participantes alinhados em duas filas e um enorme cão de pêlo branco, chamado Ira, à porta de entrada da galeria – um velho e secular armazém readaptado a sala de exposições. Da esquerda para a direita, na primeira fila, alinham-se Eugenio Fernandez Granell, Philip Lamantia, Nancy Joyce Peters, Janine Rothwell, Mário Cesariny, Penelope Rosemont e Amparo Granell. Uma grande faixa negra, com letras brancas compondo a palavra “Surrealism”, servia de moldura ao grupo. Cesariny é um velho senhor com o pouco cabelo que lhe resta todo coberto de neve, gravata berrante, a parlapiar com o lobo do Alasca. Mais velho, só mesmo Granell. Nascido em 1912 na Galiza, fizera a guerra civil integrado nas forças trotskistas – aí se fez para sempre amigo de Benjamin Péret – e exilara-se depois da derrota em França e depois na América, onde cruzou o fundador do surrealismo, integrando-se a partir de 1942 em todas as manifestações do movimento. A viver em Nova Iorque desde 1957, foi ele que falou em surrealismo pela primeira vez a Franklin Rosemont, que não passava então dum rapazinho de 19 anos, e o encaminhou para os braços de Breton em Paris.
Cesariny não gostou de Chicago. Detestava prédios altos, ruas cinzentas, betão, tráfego automóvel. Se alguma coisa o incomodava era o urbanismo funcional dos paralelogramos. Gostou de Londres, porque a cidade em que viveu, a da Rua Walton, a de Hampstead, a de Chelsea, mantinha estatura muito próxima à do século XIX. Foi isso que também o cativou na zona do Marais parisino, que envolvia a Torre de Saint-Jacques – e era ainda isso que o atraía no Cais do Sodré, na Madragoa, no Bairro Alto e na Mouraria, à saída da qual tinha oficina. Quando fui a primeira vez a casa do Mário, já perto do final do século, um dos pontos que, sentado na borda do catre, ele me apontou com um calafrio de horror foi a Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, que cruzava o cimo da Rua Basílio Teles e que ele era obrigado a atravessar sempre que ia à estação dos correios. Conhecera-a, no início da década de 40, quando não passava dum arrabalde quase rústico com saloios que vinham das azinhagas de Benfica fazer o serviço dos jardins e fornecer os chalés de vitualhas. Assistira depois no final da década de 50 às primeiras demolições e nas duas décadas seguintes à reconstrução da zona numa grande artéria, com blocos de habitação de dez e doze andares. Quem se desgostava da Avenida lisboeta – a arquitectura ideal de Cesariny era a de Gaudí, a do Facteur Cheval ou a da aldeiazinha no Lot, Saint-Cirq-Lapopie, em que André Breton arranjara uma casa de férias em 1950 – não podia senão detestar Chicago e os seus prédios. Numa carta para Frida deixou expresso esta sua aversão pela cidade que era Chicago (1-6-1976; Carta para F. e L. Vancrevel, 2017: 170): Enfim, vi a América, a do Norte, digo. Nova Iorque é a Grande Macacada. Chicago nem sequer existe, é uma cidade atroz, é preciso passar por lá para se perceber o desespero e o desespero do desespero dos nossos amigos de Chicago.
Como quer que seja, foi em Chicago no coração do horror que conheceu o casal Rosemont e poetas como Philip Lamantia e Nancy Peters Joyce, ligados à geração Beat. Filho de imigrantes sicilianos, nascido poucos meses antes de António Maria Lisboa, Lamantia aos 16 anos colaborara no quarto e derradeiro número da revista que André Breton fazia em Nova Iorque, VVV (1944). Ligou-se depois à geração Beat e fora um dos cinco poetas – os outros eram Allen Ginsberg, Michael McClure, Gary Snyder e Philip Whalen – que leram poesia sua na sessão organizada por Kenneth Rexroth na Six Gallery, em São Francisco, no serão de 7 de Outubro de 1955 e que marcou o nascimento da San Francisco Renaissance.
O encontro decisivo em Chicago foi porém com Granell, com quem já trocara correspondência em Novembro de 1975, mediada talvez por Laurens, que não esteve na exposição de Chicago mas foi autor presente; um cadáver esquisito feito em 13-8-1972 com Ted Joans e Cesariny, quando este foi a Amesterdão pela primeira vez, apareceu até reproduzido no catálogo. No início de Novembro de 1975, Granell pediu para Lisboa – carta escrita em galego, dirigida ao “Sr. Mário Cesariny” – um “dibuxo”. Fazia parte dum grupo de exilados espanhóis que há duas décadas editava em Nova Iorque uma folha, España libre, que tinha como subtítulo organo de sociedades hispanas confederadas de los Estados Unidos de America, e queria por força ilustrar o número de fim de ano, que anunciava a morte tão esperada do tirano, com um trabalho do português, que logo o enviou e foi publicado no número de Dezembro de 1975 em primeira página. É um desenho com três figuras triangulares – essas que numa carta de 1969 o autor delas diz que o perseguem desde 1947, baptizando-as “Tournessol” – e com os seguintes dizeres manuscritos e da sua autoria: Liberdade para os povos da Ibéria! Liberdade para a Poesia! Liberdade da Espanha! Viva a União Ibérica!
Como quer que seja, não se conheciam e só no dia da inauguração da exposição se viram cara a cara pela primeira vez. A empatia foi imediata e numa carta posterior para o casal Vancrevel ele deu conta da descoberta do seguinte modo (?-8-1976; idem, 2017: 175): O meu encontro com Granell foi sem dúvida algo de importante e de exaltante para mim, qualquer coisa que só posso comparar aos meus encontros com Brauner, com vocês dois, com Jaguer e pouco mais. Os meus encontros com Breton (três) foram de alegria, mas também de formalidade. (…) Quanto a Granell, corresponde exactamente, mito e grito em pessoa, ao que sobre ele escreveu Péret.
Algumas das tensões que pouco depois abalaram o surrealismo nos Estados Unidos – ficou registo do abalo numa carta de 1978 para Laurens e Frida (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 243) – ondulavam já no ar, despercebidas, informais mas já insinuantes. Explodiram pouco depois, no ano seguinte, isolando o grupo de Chicago da maior parte dos restantes, sobretudo dos nova-iorquinos. Granell, que na divisão do grupo de Paris em 1969 tomara o partido de Bounoure contra Schuster, era um ancião pequenino mas respeitadíssimo – fora ele que encaminhara os Rosemont para Paris. Tinha porém fragilidades, por exemplo um centrismo político impossível de esconder, que só podiam desagradar ao sector mais radical de Chicago. O número de España libre em que surgiu o desenho do Mário e que os Rosemont decerto tiveram nas mãos deixava a seguinte indicação política na primeira página: “El porvenir español está en la comunidad europea”. Não havia nisto qualquer exigência radical para a transição espanhola, qualquer alusão ao sindicalismo libertário, motor da revolução social de 1936, que tanto entusiasmava Chicago, mas só a aceitação das teses que deram depois a monarquia constitucional de Juan Carlos. Granell estava já nessa época afastado do trotskismo da sua juventude – em carta (12-1-1978) ao interlocutor português chega a juntá-lo ao estalinismo. Mais tarde – faleceu em 2001 – chegou mesmo a apoiar os Estados Unidos na primeira guerra do Iraque. Não obstante a capa do catálogo lhe pertencer, as tensões com Rosemont existiam já no momento da exposição – os de Chicago deixaram quase de trabalhar com ele pouco depois – e foi o português que lembrou o peso da história de Granell, a sua participação na guerra civil, o valor da sua pesquisa, o exílio que sofria desde 1939 (conquanto se registe uma visita a Compostela, terra em que viveu em criança, em 1969), as palavras de Péret sobre o seu trabalho, travando desse modo na raiz o ímpeto dos contraditores e selando uma amizade indelével entre os dois. Granell tratou-o sempre depois disso nas cartas por “querido Mário” e nunca deixou de o tutear carinhosamente. Combinaram então, no regresso do México, reencontrar-se em Nova Iorque, em casa do casal Granell, que vivia na Rua 115.ª, a umas dezenas de metros do Central Park.
Cesariny e Graça Lobo cumpriram quase à risca as datas do itinerário que no final de Abril foram enviadas de Lisboa para Boston, ao cuidado de Alberto de Lacerda. Na Cidade do México ficaram em casa de Joan Ponsa e Cesariny teve ocasião de reencontrar por duas vezes Octávio Paz – a segunda, na noite anterior ao regresso aos Estados Unidos, num jantar em que esteve também Graça Lobo, Marie José e um casal mexicano, Ponce de Leon, que tinha por hábito frequentar a casa de Paz. Cesariny esteve em casa dos Paz, na Rua Lerma, na Cidade do México, e aí, em cima da cama, local onde Marie José trabalhava, viu pela primeira vez as suas collages e construções, que tomou por “maravilhosas”. Nesse encontro falou-se duma exposição dessas collages prefaciada por Cesariny. Este não veio a prefaciar nenhuma exposição de Marie José mas acabou associado ao labor da collagista num livro, Figuras e figurações (2000), doze poemas escritos em 1994 por Octávio para doze collages de Marie José. Fez com recurso ao automatismo as “memórias descritivas” das caixas e construções de Marie José. Em carta para Laurens, ficou registado esse primeiro momento mexicano (16-4-1977; idem, 2017: 197): No México [Marie José Paz], mostrou-me colagens maravilhosas feitas por ela própria em casa, sobre a cama, porque segundo me contou, não tem outro espaço onde trabalhar, em Lerma. Também me disse que gostaria de ter uma exposição sua prefaciada por mim.
Cesariny correspondera-se com Paz no tempo da sua segunda estadia em Londres e conhecera-o no Festival Internacional de Poesia de Roterdão. Admirava o tradutor – Paz foi o primeiro a traduzir Lautréamont em espanhol – e o poeta, cujas raízes mergulhavam na mítica pré-colombina. Não deixava de ter porém algumas tensões com o seu pensar, que acabou por evoluir depois da atribuição do prémio Nobel (1990) num sentido demoliberal – em Janeiro de 1994, denunciou por exemplo num artigo do Le Monde a rebelião zapatista de Chiapas. As tensões entre Cesariny e Paz nas conversas que tiveram na Cidade do México não se centraram porém na política mas no surrealismo. Depois da passagem pelo Oriente, onde foi embaixador na Índia na década de 60, e do regresso ao México, Paz inclinou-se a encarar o surrealismo dum ponto de vista histórico e situado. Disso deu conta ao seu interlocutor português, que o relatou em carta a Vancrevel (idem; idem, 2017: 175): Encontrar Paz, que agora está no México, reacendeu a exaltação. A sua linguagem, quando se refere ao surrealismo, reflecte isolamento, prudência. (…) À sua pergunta: o que resta do surrealismo? (…), uma pergunta de causar calafrios a quem, como eu vem duma experiência interior do surrealismo (…) não lhe respondi: Tu!, apesar de poder ter-lhe dado essa resposta. Respondi que Antonin Artaud é o poeta surrealista que levou mais longe e de forma mais surpreendente a vitória, ou uma vitória, sobre a linguagem lógica que diariamente nos assassina e assassina a linguagem.
O diálogo com Paz é significativo. Foi nele que sobreveio a necessidade do meu biografado afirmar o surrealismo como experiência interior – é porventura o único momento em que usa a expressão – de desarticulação do mecanismo lógico em que o “eu” é ilaqueado desde a infância. Ia em fase já adiantada da vida – aos 53 anos fazia figura de ancião, com o pouco cabelo caiado de branco, a boca desmobilada e a cara ossuda e chupada – e passavam quase três décadas sobre o seu encontro com André Breton. O facto de estar no México ajudou à dimensão espiritual dum movimento que estava já então na leitura comum quase reduzido ao estético – e assim parecia Paz encará-lo em 1976 nas conversas com o português. O México foi para o surrealismo o que o Oriente ainda quando próximo foi para o romantismo – uma terra de fascínio e iniciação. Houve já quem pusesse em paralelo a viagem de Gérard de Nerval ao Egipto e a de Artaud ao México. A mesma procura dum saber mágico perdido, a mesma ânsia do segredo oculto guiou os dois – um dirigindo-se para as Pirâmides do Nilo e outro para as da América. Andavam ambos à procura das nascentes doutro modo de vida e de conhecimento. Foi dessa forma que Cesariny encarou a sua viagem ao México.
O momento mais marcante da estadia foi a visita que fez às ruínas de Teotihuacan, cividade pré-colombina, com área de 18 Km2, dominada por duas pirâmides, a do Sol, com mais de sessenta metros de altura, e a da Lua, ligadas entre si pela Avenida dos Mortos – e ainda pelo templo de Quetzalcóatl, com representações em alto-relevo da Serpente Emplumada. Registou a visita em carta já citada (1-6-1976; Cartas para F. e para L. Vancrevel, 2017: 171): Sobre esse assunto, só poderei transmitir-vos um certo excesso de ideias claras que lá me assolaram, em Teotihuacán, e noutros lugares. Pensei muito em Artaud. Como toda a gente, tive uma pequena aventura mística, digo mítica. Gostaria de poder contá-la e é talvez o que farei se o Senhor Portugal e as suas turbulências intestinas me deixarem. (…) A Pirâmide do Sol de Teotihuacan, como de resto todas as Pirâmides, e o oposto absoluto dos Tarahumaras, do mundo totalmente interior. Não é uma oposição acidental, gratuita. É feroz e alucinante.
O México de Cesariny foi um território simbólico e oculto, que só ele viu e sentiu. Era um estrato soterrado, que os olhos da maioria não sabiam ver. É o México de Artaud – com um modo de viver só “interior”, atento ao desejo e às pulsões virgens do amor e da morte, sem nenhuma cedência às instâncias da coacção exterior e da disciplina social. É o México índio, arqueológico, anterior à chegada do homem branco preso ao trabalho e ao dinheiro. Escreveu na ressaca da viagem, a pretexto duma exposição que ocorreu então na Fundação Gulbenkian, um longo artigo, “O México e a Máscara – reflexão em torno das máscaras mexicanas da colecção do eng. Victor José Moya” (O Século, 13-11-1976; repetido a 18-12-1976), que pode ser encarado ao menos em parte como o relato que ele contava fazer sobre a sua aventura mexicana. Inexplicavelmente nunca recolhido em livro, esse texto deixou muitas pontas soltas que permitem perceber o seu espanto diante das pirâmides – sólido que o obcecava pelo menos desde o final da década de 40, altura em que escreveu no poema final de Discurso… os versos “sim meu amor a pirâmide existe/ a pirâmide diz muitíssimas coisas/ a pirâmide é a arte de bailar em silêncio” e que serviu para baptizar a que é hoje a única publicação surrealista histórica feita em Portugal, Pirâmide. O J.L.A. teve como o leitor sabe uma fase entre o final de 1967 e o Outono do ano seguinte, em que o meu biografado dispôs de grande liberdade na redacção, mas nem mesmo nesse momento o jornal pode ser tomado como surrealista, já que há sempre outras matérias que o diversificam. Adiante se retomará este artigo sobre a máscara e o México a propósito da relação com Fernando Pessoa.
Em carta para Alberto Lacerda (13-5-1976), escrita no dia do voo de regresso aos Estados Unidos, deixou Cesariny mais elementos sobre a sua aventura nas ruínas de Teotihuacan. Caminhou a noite toda para ver nascer o astro do dia sobre a Pirâmide do Sol, perdeu-se a meio do caminho, andando às voltas, e acabou por chegar tarde, já o Sol se levantara há muito, ao sopé do monumento. Quando lá chegou deu-se conta que como sucedia com a Torre de Saint-Jacques em Paris havia um gradeamento que vedava o acesso ao monumento durante a noite e que só abria às 8 h, já o Sol estava bem acima do horizonte. De forma brutal, no rescaldo dessa noite, sobreveio-lhe uma infecção nos intestinos que chegou a pensar que lhe seria fatal. Na carta a Alberto de Lacerda de 13-5-1976 diz o seguinte (Cartas de M.C. para A. de L., 2015: 65): (…) estômago e sub-ripas, digo tripa, (…) os quais me iam matando, falo de verdade, com uma infecção quase fatal depois dum projecto falhado de ver romper o Sol sobre a Pirâmide dele em Teotihuacan. Mas tal como a infecção veio, assim se foi. Tinha um mercúrio dissonante no signo da Virgem – e sempre se queixou que não podia comer um palito que fosse fora de casa. Se não viajou ainda mais ao longo da vida, se passou grandes temporadas em roupão enfiado na Rua Basílio Teles foi porque a tripa só se dava com a comida da mãe e da irmã. A fama da boa cozinha desta ainda chegou até mim e alguém me disse que o seu bolo de sericaia – uma iguaria muito delicada de preparar – era excepcional. Outros não a gabam tanto e dizem que ela cozinhava de unhas pintadas e cigarro na boca.
O México primitivo deixou-lhe outras marcas, como na sua pintura, com as “Cinco memorizações do México” do início de 1977, e na assinatura que mais tarde deu – foi o único português a dar – à declaração crítica que o surrealismo internacional (Austrália, Buenos Aires, Dinamarca, Estados Unidos, Estocolmo, Grã-Bretanha, Madrid, Países Baixos, Paris, Praga, São Paulo) fez em 1992, “1492-1992”, a propósito da descoberta oficial da América por Cristóvão Colombo. A mais importante sequência que esta viagem ao México teve foi porém o projecto que ele concebeu já em Portugal de requerer ao governo português o lugar de adido cultural na embaixada portuguesa da Cidade do México. Caso o tivesse obtido, teria sido o seu único cargo público. Não o obteve e assim ficou sem nenhum. Se as ambições pelas quais se mede o sucesso são para o surrealismo um ónus demasiado dispendioso, então o que aqui lhe sucedeu não pode senão ter sido um presente do destino. O Partido Socialista de Mário Soares ganhara as primeiras eleições legislativas, formara governo e tinha anos de governação à frente. A família Soares funcionava como um clã fechado e pouco permeável, primeiro por defesa, depois porque muitas vassalagens punham em perigo a solidez e a coesão dum meio que tinha como vital para a sobrevivência uma fidelidade sem fissura. Não se dá nota nesta época de qualquer acesso directo do meu biografado a Mário Soares mas tinha conversa com o filho, o jovem João Soares, então à frente duma chancela editorial, Perspectivas & Realidades, interessada em tê-lo no catálogo. As posições que tomara no caso do jornal República, o manifesto do jornal O Dia contra o M.U.T.I., a denúncia dos cárceres soviéticos que fez no Jornal Novo garantiam-lhe simpatia por parte dos socialistas, conquanto ele tivesse feito questão de dizer no jornal O Dia que o seu punho não era “pê ésse” mas apenas seu – Não sei como está o punho da Natália/ (não tenho olhado ultimamente)/ os meus não são PS/ são só meus (O Dia, 12-1-1976).
O requerimento ao governo para ocupar o lugar foi feito ainda no final do ano de 1976 (“Tábua”, in Mário Cesariny, 1977: 64). Na Primavera do ano seguinte o pedido parecia orientado – tinha então contactos regulares com João Soares, com quem já fizera contrato para a edição de Textos de afirmação e de combate…, o seu novo livro. Numa carta a Laurens fez o seguinte balanço promissor (16-4-1977; Cartas a F. e L. Vancrevel, 2017: 198): Sonho ir para o México, como adido cultural da Embaixada portuguesa. Parece que isso poderá vir a acontecer. Para mim, será a Grande Alegria! Chegou a colocar a questão do lugar de adido cultural na tábua biográfica que elaborou para o livro que acompanhou a sua mostra na galeria Tempo e que foi publicado pela Secretaria de Estado da Cultura. Esperava que isso tivesse alguma força. Não teve. Mesmo assim esperou cerca dum ano até se desiludir de vez. Numa carta do início da Primavera de 1978 arrumou o caso (?-3-1978; idem, 2017: 212): Creio, infelizmente, que o México está perdido, desculpa, para mim, fodido, visto que o embaixador português actual é um perfeito imbecil, nomeado pelo Sr. Soares, de quem é o perfeito embaixador. Trata-se do Sr. José Fernandes Fafe, velho amigo da casa do Sr. Soares. As incompatibilidades com Fafe vinham do M.U.D. e acentuaram-se com a obra poética que este publicara nas décadas seguintes. Só por graça ainda chegou a falar em reorientar o pedido para o Peru e para Machu Pichu, a última fortaleza Inca, nas encostas dos Andes, mas não chegou a interessar-se a sério pelo assunto, não que o Peru o pusesse frio – a primeira exposição surrealista na América em 1935 tivera lugar em Lima e fora organizada por César Moro, poeta que ele encarecia e de quem muito falava pois conviveu muito com André Coyné, amante de Moro, que viveu e trabalhou na Faculdade de Letras de Lisboa, na década de 70 – mas porque descreu mais e mais da política partidária e dos lugares públicos.
Cesariny e Graça Lobo voaram para Nova Iorque a 13 de Maio, antes do regresso a Lisboa. Na carta a Frida em que lhe dá conta de Chicago e do seu desespero, a primeira que escreveu ao casal neerlandês depois da volta a Lisboa, ele pinta Nova Iorque como a “grande macacada”. Perdeu-se várias vezes – queria visitar o Museum of American Indian – Heye Foundation e foi dar por exemplo ao Metropolitan Museum of Art (11-6-1979; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 264) – e andou à procura do meio homossexual nova-iorquino. Tivera sempre um sentido inato muito apurado para encontrar o mundo subterrâneo de Eros nos lugares por onde passava – isto confessou Luiz Pacheco a propósito de Setúbal. Sabia que o social se organizava em qualquer lugar civilizado por estratos visíveis e invisíveis e que Eros perseguido e maltratado nunca se ausentava. Fazia parte do fundo original da humanidade e não havia modo de escorraçá-lo. Todo o possível era tão-só escondê-lo. Refugiava-se em lugares recônditos e de difícil acesso, recantos invisíveis ao comum dos humanos e que só precisavam de ser procurados com algum tacto. Os estratos mais visíveis que compunham a impressão de serem únicos eram deixados ao cuidado do trabalho – da sua ordem e da sua rotina. Ele gostava de se orientar com a bússola do desejo em direcção aos esconderijos de Eros. Fora assim em Paris, em Madrid, em Londres, em Haia, em Amesterdão, em Tânger, na Cidade do México e assim era em Nova Iorque – isto para não falar de Lisboa, de Sesimbra, de Setúbal, de Sines, da Ericeira. Tinha um faro só seu para dar com as catacumbas em que o deus reprimido se refugiava. Pacheco que o acompanhou 20 anos contou esta história numa entrevista (O crocodilo que voa, 2008: 126): Isto dos engates e das libertinagens é muito complicado. Olhe que eu estava aqui já há mais dum ano em Setúbal e não tinha reparado que havia outra Setúbal. E até foi o Mário, por acaso, que ma mostrou, um dia, por alturas da Feira de Santiago. Um gajo está numa terra, tudo muito porreiro, tudo muito composto, e há outra cidade.
Se a primeira desconfiança para com o gay sobreviera em Londres, e dela ficou registo numa longa entrevista final (Verso de autografia, 2004), o descrédito só a partir do meio nova-iorquino e das experiências deste se desenvolveu. Percepcionou o movimento gay enquanto reivindicação do direito ao casamento legal de pessoas do mesmo sexo como reprodução da relação monogâmica tal como a sociedade patriarcal a instituíra. Não mais deixou de o criticar em nome da liberdade e da transgressão do amor e da phala – marca do Homem Mãe e arquétipo actuante na fábula pederástica de Guilgamesh. Na homossexualidade o que o cativava era um potencial revolucionário em relação a um modo de vida ordenado para a reprodução infinita da riqueza. Acredito que essa foi uma das razões fortes que o levou nas encruzilhadas da adolescência a recusar o heterossexual que ainda chegou a ser em vários momentos e a assumir em exclusivo e para sempre o comportamento pederasta. Não podia por esse motivo estar mais em desacordo com os que queriam fazer da homossexualidade uma instituição aceitável aos olhos do sistema patriarcal e capitalista. Para essa aceitação se dar, para uma tal normalização se fazer era preciso que ela adoptasse os valores sociais do “super-ego”, trabalho, respeito, família, perdendo assim a ligação às instâncias vitais e profundas da consciência, onde residia a potencialidade do amor e da phala. Ele preferia uma pederastia perseguida e clandestina mas viril no propósito desafiante a um movimento gay repleto de direitos civis mas anémico, hetero-normalizado e sem valores de contraponto.
O mais exaltante em Nova Iorque acabou por ser a visita que fez com Graça Lobo a casa do casal Granell, onde passaram uma tarde a ver o seu arquivo e a ouvir-lhe as histórias da segunda república, da revolução, da guerra, do exílio nas Caraíbas e em Nova Iorque. Talvez tenha sido nessa altura que Granell lhe ofereceu uma pintura sua, que mais tarde ele pensou reproduzir no número dois da revista A Phala de Sergio Lima, que só acabou por sair já depois do seu falecimento e com projecto refeito. Fosse como fosse a sua bagagem era já neste momento tão volumosa que ele antes de regressar a Portugal escreveu para o casal holandês um postal a dizer que o catálogo da exposição de Chicago lhes seria enviado pelos Rosemont e não por si – postal de 17 de Maio de 1976.
No regresso a Lisboa, Cesariny retomou o livro Textos de afirmação e de combate…, em que laborava ao menos desde o primeiro semestre de 1975. Em 1969 recebera na editora Ulisseia a primeira carta de Laurens Vancrevel e a partir daí estabelecera ligações em Paris, Bruxelas, Londres e Chicago – sem esquecer a relação de amizade que vinha já de trás com São Paulo e Sergio Lima, com quem só se acabou por encontrar cara a cara em 1994, numa altura em que o paulistano vindo num comboio de Paris passou em Lisboa. Com a queda do Estado Novo e o fim da censura, viu chegado o momento de organizar uma antologia representativa das linhas do surrealismo mundial que podia ser publicada sem entraves, o que até aí não era óbvio por força das imagens eróticas e das declarações políticas. A evolução da revolução portuguesa ajudou-o a perceber como os aspectos políticos e interventivos do itinerário surrealista eram coincidentes com o momento que vivia o país, provando a sua oportunidade, o que testou pela primeira vez na comunicação apresentada em Maio de 1975 ao primeiro congresso de escritores. A obra, mesmo em projecto, nenhuma dificuldade tinha em encontrar editor.
O conjunto teve por isso o seu primeiro plano na época em que escreveu a comunicação ao congresso da A.P.E. na Primavera de 1975. A mesma atmosfera de subversão, a mesma impugnação do Ocidente e da sua mente, a mesma direcção para o selvagem e para a transgressão orienta os dois trabalhos. O livro chamava-se nessa época “Textos de afirmação e de luta do movimento surrealista mundial para exercício e serviço da revolução portuguesa”. Pensava já dividir o livro em dossiers, dedicados a cidades ou países, como acabou por acontecer na versão final, que acabou por ter como título Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial. Por carta que então escreveu a Laurens, sabe-se que trabalhava apaixonadamente na recolha das peças – o livro que estou a organizar aqui a toda a pressa, diz ele na carta (8-5-1975) – e que a pasta dedicada a Amesterdão estava quase completa, ao menos como definição de textos a integrar. Com os sucessos posteriores, quero dizer, o litígio com Seixas, a preparação da participação portuguesa na mostra de Chicago e o evoluir da revolução portuguesa no Outono desse ano, o livro parou para só retomar depois do regresso da América. Trazia novas ideias – colaboração de Granell e de Octávio Paz com um poema que só então na Cidade do México conheceu, Passado en claro (1975) – e sabia como queria fechar o livro, o que até aí não estava definido. Só então percebeu que os materiais relativos à exposição – fotografias, catálogo, prospecto de apresentação e outros pontos – eram a chave de oiro do livro, o seu fecho natural, numa festiva e eufórica pasta dedicada aos Estados Unidos e ao trabalho do grupo surrealista de Chicago, no qual via desde 1969, momento em que o conhecera por intermédio dos holandeses, um dos sinais da grande vitalidade do movimento surrealista mundial mais de meio século depois do seu nascimento.
No início do Verão de 1976 havia material já entregue ao editor mas faltava o prefácio, escrito pouco depois, no início de Agosto (o texto tem referência ao dia 7 desse mês), e estavam por completar alguns dossiers, como o da Checoslováquia e o da Roménia, este de grande significado por força de Victor Brauner e da importância que tivera na evolução pessoal do organizador que com ele estivera em Paris 30 anos atrás – no Verão de 1947. No final de Agosto o livro estava já avançado e definido, quer no plano da realização gráfica, com exclusão de gravuras a cor no interior, a grande dúvida inicial, quer no desenho da construção e montagem. Numa carta desse momento, avança com a seguinte síntese construtiva (?-8-1976; Cartas a F. e L. Vancrevel, 2017: 178): Este meu livro é uma espécie de livro ecuménico do surrealismo, das origens até aos nossos dias, desde a torrente Dádá e o Primeiro Manifesto até à exposição de Chicago. E as suas variações de sentido e de caminho. Para aquilo que chama a “torrente Dádá” recuperou os materiais do livro que projectou na Rua Walton, fruto da biblioteca de Dácio entre o final de 1964 e o início de 1966, materiais retomados na segunda estadia londrina para revisão e complemento, e de que chegou a dar notícia à imprensa portuguesa em Janeiro de 1966. Parte deles fora já usada, antes de vir cair ao livro de 1977, de forma dispersiva mas continuada, entre 1968 e 1971 no J.L.A. e no suplemento “Literatura e Arte” d’ A Capital.
Como quer que fosse, só no ano seguinte, no final de Outubro, o livro ficou impresso e pronto, com edição da editora Perspectivas & Realidades, de João Soares, sendo distribuído no mês seguinte – mais de 500 páginas, muitas dezenas de gravuras, num formato quase de álbum. É uma obra rara e que só podia ser tentada e realizada por alguém com larga experiência – já na resposta ao inquérito internacional, “Rien ou quoi”, de Vincent Bounoure, datada do final do Dezembro de 1969, Cesariny dava a entender que muitas das questões que se estavam a colocar ao surrealismo a caminho do final do século haviam sido vividas em Portugal na década de 40 – do surrealismo, quer como movimento quer como experiência interior de desarticulação do pensamento racional. Além duma primeira parte – cerca de 170 páginas em mais de 500 – dedicada ao movimento Dádá e às duas décadas iniciais do surrealismo, do primeiro manifesto de 1924 à Ode a Charles Fourrier (1945), o vulgar em obra que trate de surrealismo – é essa a montagem da história de Maurice Nadeau –, a colectânea apresenta dossiers sobre nove países (Espanha, Inglaterra, Checoslováquia, México, Roménia, União Soviética, Cuba, Mundo Árabe, Estados Unidos), três cidades (Amesterdão, São Paulo, Paris) e seis teias (pintura, liberdade, coração selvagem, Maio 68, movimento Phases, estruturalismo como esmagamento da poesia), tudo com textos actuais, parte já da década coeva à compilação e denunciando até com rara intuição antecipatória fenómenos em voga, como a revista Tel quel de Philippe Sollers e a sua cega recepção em meio académico. Além de confirmar a invulgar estatura historiográfica e crítica do organizador, o principal mérito do livro foi mostrar a excelente saúde duma escola que em 1961 o crítico do J.L.A. dizia depreciativamente estar a caminho dos 40 anos.
Pela extensão da recolha, pela unidade do conjunto, pelo lado combativo que punha em evidência e pela urgência vital, o livro surpreendeu o meio internacional ligado ao surrealismo. Quando mais tarde Édouard Jaguer fez a nota biográfica de Cesariny para o Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs (1982: 83), terminou-a afirmando que a compilação era uma obra ímpar, sem equivalente em qualquer parte do mundo. Embora reduzida ao círculo que se interessava pelo assunto, o autor adquiriu com a colectânea de 1977 uma projecção internacional, que nunca esperou ter no momento em que rapazinho fora a Paris bater à porta da Rua Fontaine. Depois desse livro, não houve no mundo manifestação surrealista para a qual Cesariny não fosse convidado. Passou a ter um papel de mentor e de referência geral. E. F. Granell, que não aceitara a dissolução de Outubro de 1969 e se tornara assim uma autoridade para os que quiseram continuar, deslumbrou-se com o livro e chamou-lhe maravilhado numa demorada carta em que sobre ele discorre de “estupendo cofre de sorprendentes tesoros” (La página, 2013: 41).
A GRAFIARANHA
A casa onde se nasce e se cresce é como o corpo da baleia que recebeu Jonas. Respira, mexe-se, interage como um organismo vivo com aquele que chega ao mundo. Cesariny nasceu num casa que tinha dois extremos – o andar da mãe, onde se aprendia francês e se tocava piano, e o andar do pai, onde se movimentava a oficina da fabricação das jóias. A meio, numa terra de ninguém, verdadeiro desnorte que tanto levava ao piso da mãe como prolongava a oficina, ficava o escritório da contabilidade do deve e do haver. A estrutura da casa da Rua da Palma marcou-lhe o destino. Entre o andar cimeiro e o térreo, entre a oficina e o piano ele hesitou sempre e só por alvitre se pode aceitar a ideia de que a partir do final da adolescência a sua opção pela mãe foi radical. Na infância aprendeu os rudimentos da profissão de joelheiro e passou muitos dias na oficina a ver trabalhar os oficiais do pai; a sua luta futura anti-edipiana não está ainda activa e nada autoriza que se desvalorize essa sequência da sua vida. Tudo diz, ao invés, que esses momentos passados na oficina foram de suma importância para a estruturação dos seus interesses – foram estruturantes da sua personalidade e da sua vida futura. O processo anti-edipiano não comandava ainda a sua atitude e ele pôde viver sem tensões o fascínio alquímico da metamorfose dos metais. A oficina colou-se-lhe ao imaginário, a ponto de ter um sonho recorrente com um recanto do lugar onde existia um fole accionado a pedal e um grande pote de barro para onde escorriam as decantações ácidas do oiro e da prata fundidos. A sua luta por um ateliê, a sua necessidade futura de experimentar os mais variados materiais e criar as suas tintas e cores, uma parte substancial da sua fixação nas telas e nos pincéis enraíza nesse primeiro ponto da sua infância na Rua da Palma. Sem ele, nunca viria a ter força e a contumácia que veio a ter.
O pai queria-o ourives e só por acaso o mandou um ano para o liceu Gil Vicente. Ele tinha 11 anos quando entrou no edifício do Campo de Santa Clara e 12 quando de lá saiu. É provável que esse fosse o ano decisivo da sua ruptura com o pai e com a oficina, optando em definitivo, ao menos à superfície, pelo piano e pela mãe. A má classificação em matemática no liceu pode ser um sintoma dum mal-estar mais largo. A oficina tinha um prolongamento nas contas que se faziam no primeiro andar e que se sabe que ele evitava ao regressar do liceu, tornando-se invisível quando por ele passava. Passou a detestar as contas e daí a sua negativa na disciplina do liceu que com elas lidava. A sua atracção passou para o andar da mãe e das irmãs, que não mais abandonou e onde não havia números nem contas. De olhos postos no céu – e é assim que a única fotografia do seu processo do liceu o retrata –, nasceu o seu interesse pela música, que acabou por ser o ponto inicial da discórdia com o pai. Desnorteado com o rumo do rapaz, escapando à órbita terráquea dos seus metais, corrigiu o rumo e enviou-o para a escola de artes e ofícios António Arroio, a ver se o fazia regressar à sua primitiva paixão. O mal estava feito e a separação entre pai e filho só se acentuou a partir daí, resultando mesmo na saída do pai de casa no final da década de 40. Foi uma luta em espaço aberto, uma luta de vida ou de morte, porque o pai o tentou chamar para o espaço intermédio da casa – o da contabilidade –, convencido porventura que tinha aí uma solução de compromisso entre o lugar da decantação dos metais e o da criação dos sons. Puro engano. Para agravar o mal-entendido e cavar o dissídio, irmãs e mãe tomaram declaradamente o partido dele contra o pai.
Há testemunho de Seixas, que não deixa de ser ilustrativo. No tempo em que começaram a conviver, o recuado ano de 1936, o jovem Mário tinha obrigações para com o pai – repetiu Seixas várias vezes. Numa delas disse o seguinte (Relâmpago, n.º 26, 2010: 124): (…) ele era obrigado a acompanhar o pai, o senhor Viriato, ourives, em viagens de trabalho pela província. Na época já não era o piso da oficina que ligava o filho ao pai mas o primeiro andar, o das contas, o dos livros de capa preta onde se assentavam as despesas e as vendas e onde se contabilizava o prejuízo ou o benefício da oficina. As viagens de trabalho pela província a que alude Seixas só podem ser deslocações de caixeiro-viajante, para colocar peças em lojas do interior do país, o que ajudou a aprofundar o fosso entre pai e filho e a desenvolver neste uma aversão pelo dinheiro e sua mentalidade, que veio a ter expressão em alguns dos poemas centrais da fase neo-realista escritos no seu rescaldo e que foram sempre vistos pelos companheiros de geração como a expressão forte da sua alma de revoltado. E assim devem continuar a ser lidos e aprofundados.
Sinal de que o rudimento da arte manual que aprendera na oficina de joalharia do pai não mais morrera ficou no gosto que teve em fazer o curso de cinzelagem da escola António Arroio e da decisiva vocação que tomou então entre mãos de se interessar pelas artes plásticas, embora de forma pessoal e não académica, já que depois do curso de habilitação à Escola de Belas Artes, desistiu de qualquer prosseguimento escolar. Foi como crítico de arte, revelando um razoável domínio da problemática plástica, que ele se revelou em letra de prensa, com os sete linguados dados a lume no suplemento “Arte” do jornal A Tarde – o último dedicado à música e não às artes plásticas. Esses seis textos publicados entre o Verão e o Outono de 1945, quando as representações da derrota da Alemanha e do Japão corriam mundo e estavam presentes no espírito de todos, textos que ele mais tarde acusará de muitos maus, têm porém uma orientação pessoal, que nunca mais foi abandonada no seu entendimento da arte e que é porventura extensiva à sua acção de poeta. Aludo à crítica do formalismo e das excessivas preocupações técnicas que a arte modernista e de vanguarda havia mostrado. Recorde-se que para o jovem crítico de 1945 o problema da arte de então era o individualismo e que este era produto do excesso de formalismo técnico que os movimentos artísticos imediatamente anteriores haviam manifestado. Daí os artigos que então consagra ao futurismo e ao cubismo. Estes fizeram uma revolução técnica, que se desinteressou de tudo o que não respeitasse a exploração da forma e das potencialidades dos materiais com que trabalhavam. Embora reconhecendo a importância das aquisições formais para uma pintura madura e evoluída, o crítico propõe uma reacção anti-formalista, capaz de reajustar a arte ao público, através duma descoberta da realidade e das tais “verdades do tempo”. A reacção anti-formalista é segundo esse Cesariny uma forma de “humanizar” a arte. Reagir ao excesso de formalismo só faz sentido se ao mesmo tempo se desenvolver uma atenção à realidade humana esquecida pelo modernismo e pelas vanguardas. Só através da interpretação da realidade histórica e da humanização da arte, esta pode contribuir para a libertação da humanidade e para o fim das tiranias. Se a arte ideal – a dum José Clemente Orozco – é a que equilibra aquisições formais inovadoras com um máximo de atenção à realidade, a arte nova, no rescaldo técnico das revoluções formais do modernismo, só podia ser a que compensasse o excesso de formalismo com uma nova vaga de humanização. Daí o neo-realismo entendido como reacção anti-formalista ser o movimento que melhor se adaptava a dar saída às necessidades que se faziam sentir no momento artístico.
Ao contrário de muitos dos colaboradores do suplemento “A Arte”, Cesariny não reproduziu no jornal nenhum trabalho plástico seu – limitou-se a teorizar como crítico de arte do grupo a nova arte daquele momento e as direcções que o novo movimento artístico devia tomar sob o nome de neo-realismo. Isto pode ser tomado como um sinal de que em Cesariny a vocação teórica despertou muito cedo e foi mesmo a que ele elegeu para se estrear. A sua obra posterior não desmentiu esta inclinação, quer nos textos que publicou de imediato nas revistas Aqui e Além e Seara Nova, quer nas grandes colectâneas que mais tarde organizou e que são hoje documentos decisivos para a história crítica do surrealismo em Portugal, quer ainda nos textos que recolheu no livro As mãos na água…. Deslumbrado com a grande colectânea de 1977, Textos de combate e de afirmação…, Édouard Jaguer na nota biográfica já referida chegou mesmo a dizer que o crítico em Cesariny era pelo menos tão importante como o criador – o que ficou ainda mais certo depois da publicação de Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista (1984), de que se dará notícia adiante.
Como quer que seja, na mesma época em que se estreava no suplemento do jornal portuense como crítico de arte, Cesariny criava uma obra plástica que felizmente chegou até hoje, se não na totalidade, ao menos em parte. O trabalho plástico mais antigo – “Quando o pintor é um caso à parte ou As velhas ainda lá estavam” – é anterior aos primeiros textos publicados, data de 1943, mas só se conhece através duma reconstituição de 1970, altura em que Cesariny acabara de fazer a sua primeira exposição na galeria da Rua da Escola Politécnica, que foi também a primeira com algum sucesso de venda. Sentiu então necessidade de reconstituir uma das suas primeiras obras, entretanto perdida. É impossível abordar a reconstituição de 1970 como se fosse o original. Mesmo existindo um propósito de fidelidade à obra primitiva, trata-se duma reelaboração posterior, filtrada pela memória e executada através duma experiência de quase 30 anos. O que vê nessa obra? Uma superfície escura, tingida por raros traços brancos e atacada por pinceladas pastosas de tinta escura. Nenhuma figura objectivada, nenhuma forma concretizada; apenas moles de tinta sombria que se movimentam sem fixarem o pigmento. A reacção anti-formalista que dois anos depois o autor advogou em termos teóricos na tribuna do jornal portuense parece ter aqui uma primeira experimentação prática. Os trabalhos logo posteriores a este, de 1945 e 1946, conservados na forma original, confirmam a validade desta observação. Uma pintura de 1946, contemporânea pois dos poemas de “Nobilíssima Visão” e de Nicolau Cansado, e ainda da primeira versão d’ Um auto para Jerusalém e do Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos, feita a tinta-da-china, têmpera e verniz sobre papel, tem o mesmo sentido prático de composição da pintura reconstituída em 1970. Alguns críticos de arte posteriores puderam assim apontar o “informalismo” – um informalismo involuntário e fora de qualquer propósito de escola sublinho eu – deste seu primeiro trabalho plástico.
É preciso prudência ao falar dum neo-realismo pictórico em Cesariny. É legítimo para o seu caso um neo-realismo poético – este, sim, efectivo com um conjunto acabado de obras, embora se trate dum neo-realismo contra o neo-realismo – mas é muito mais difícil aplicar a mesma receita para o parco número de trabalhos plásticos que se conhecem do mesmo período. O reduzido trabalho plástico que dele ficou dessa época exige essa cautela. É porém possível falar da pintura e do desenho do autor no período em que perfilhou e teorizou ideias neo-realistas. Essas poucas obras acabam assim por poder ser encaradas como expressão do que ele pedia ao neo-realismo como pintura. Observando-as, aquilo que sobressai é o corte radical com a tradição do objectivismo naturalista que vinha da representação fotográfica e constituíra o caminho através do qual evoluíra o realismo do século XIX. Atendendo aos textos teóricos do suplemento “A Arte”, essa objectivação, pelo que oferecia de formalismo e tecnicismo, constituía a mais perigosa tentação a que o novo realismo estava sujeito. Caso retomasse o caminho da objectivação iria de novo concentrar-se na forma – primeiro passo para reduzir a pintura ao domínio académico dum conjunto de técnicas. Se assim fizesse, o neo-realismo plástico não se distinguiria do modernismo e não mais seria do que um pós-modernismo – um modernismo tardio, de terceira ou quarta geração, que era aquilo que mostrava ser em poesia com o Novo Cancioneiro coimbrão. O que se voltava a perder do ponto de vista que era então o seu era a “realidade humana” que não podia ser confundida à cópia fotográfica do real, único ganho da objectivação naturalista.
É neste quadro que se entendem os trabalhos plásticos de Cesariny até à adesão ao surrealismo. O que ele pretende é afastar-se sem concessões dos caminhos da representação da forma, vendo aí o primeiro passo que o novo realismo pictural tinha destemidamente de dar. Após meio século de concentração na forma, era urgente uma reacção anti-formal, que libertasse o pintor para a realidade humana que fora esquecida. Sem esse passo, nada seria possível. É por isso que os seus primeiros quadros são tão invulgares. Fazem parte duma pintura sem qualquer tradição recente em Portugal, que deixava de lado o interesse pela forma, pela representação e pela técnica. Mesmo quando a figuração vem ao de cima, como sucede num desenho a tinta-da-china e verniz sobre papel, sem título, datado de 1945 e construído em parte por simetrias numéricas e geométricas que formam uma figura humana, o que aí parece relevante é a imperfeição, não a representação.
Foi o lado de ingénua desconstrução formal que existia nos muralistas mexicanos que o tocou a ponto de neles ver em 1945 a arte ideal. O que o impressionava em Orozco não era a capacidade formal, o saber técnico, o domínio do instrumento, mas a “representação” do imperfeito. O mesmo se pode dizer para a adesão entusiástica que então deu ao labor plástico de Fernando José Francisco, que tudo aponta ser o “neo-realista de Lisboa” indicado no texto final do suplemento “Arte (6-10-45) como estando a realizar o novo realismo pictórico por ele teorizado. O que o afasta de artistas muito mais completos como Júlio Pomar, Marcelino Vespeira, Fernando Azevedo, Manuel Filipe, ou mesmo João Moniz Pereira, todos interessados na nova estética realista e todos colaboradores da folha portuense, é a tentação formal, a atracção técnica que todos mostram, a visibilidade que todos pretendem dar ao seu talento plástico e a que não querem de modo nenhum renunciar. Todos eles castigam a forma mas para fazer perfeito. É por isso que ele se aproxima dalguém como Fernando José Francisco, que lhe parece o único capaz de seguir a lição da arte que então tem por ideal – dar a imperfeição através da tortura da forma.
Estes primeiros trabalhos plásticos, que ele assumiu como fazendo parte da sua obra – foram reproduzidos no catálogo da exposição de Novembro de 2004 do Museu da Cidade de Lisboa –, parecem estar num campo de experimentação que se articula com a sua teorização neo-realista de 1945 e têm por isso uma situação coincidente com a dos poemas que então criou. Tal como estes não apresentam uma clivagem séria com o seu surrealismo ulterior, a ponto de muitos dos seus primeiros leitores – recorde-se que esses poemas só foram publicados entre 1959 e 1964, numa altura em que ninguém se lembrava já do neo-realismo inicial do autor, aliás muito mal estudado ainda hoje – os terem tomado por surrealistas, também estes seus trabalhos tiveram depois continuidade no período seguinte, marcado pela adesão incondicional às propostas de André Breton. Não era surpresa se uns tantos tomassem estes primeiros trabalhos plásticos como surrealistas – o mesmo que afinal sucedeu aos poemas do período neo-realista e até anterior. Não há qualquer apostasia no crescimento desta obra mas só um embrião pessoal, plástico e poético, que se gerou ao bafo do neo-realismo e se desenvolveu depois ao sopro tempestuoso do surrealismo.
Com a leitura da história de Maurice Nadeau e com a ida para Paris no Verão de 1947, Cesariny abandonou qualquer interesse pelo neo-realismo, entregando-se apaixonadamente ao surrealismo. Não quero com isto dizer que ele tenha então iniciado a revisão de toda a sua armadura teórica que o levara a condenar nas vanguardas modernistas o excesso de formalismo. O que o surpreendeu e cativou no surrealismo foi um ponto que já estava no seu neo-realismo original e que ele não soube ou não pôde no quadro desse movimento tratar com toda a desenvoltura necessária. Falo da “realidade humana” – essa que ele tomou enquanto crítico de arte como decisiva para a nova arte e que como pintor o levou a abandonar qualquer vestígio de representação naturalista. Temia demasiado a objectivação da forma para se interessar como pintor por algo mais do que a expressão. O surrealismo ajudou-o a captar a realidade humana que ele procurava enquanto neo-realista. O caso da sua pintura é ainda mais flagrante neste aspecto que o da poesia. A sua primeira obra plástica foi marcada em exclusivo por uma reacção anti-formal mas é ainda no domínio da forma que tudo acontece. É por isso que a sua pintura de 1943, na reconstituição que dela se conhece, pode estranhamente fazer lembrar um dos quadrados de Malevitch. Nesta primeira fase não se percebe onde é que a realidade humana pode entrar. O que lá está é reacção no campo da forma, não mais. É também por isso que esta primeira fase da sua pintura é apenas um passo; falta-lhe o segundo e mais decisivo tempo, que na teorização de 1945 ele chama “as verdades da história” ou a “humanização da arte”, essa arte a que o modernismo tirara carne, deixando-a reduzida a uma forma pura. Quem lhe deu a procurada “humanização da arte”, quem o fez vislumbrar o que havia para além do esqueleto da forma pura foi o surrealismo. A sua adesão às teses de Breton só aconteceu de forma tão entusiástica porque finalmente ele encontrou aí resposta para esta sua ânsia original de “humanizar” a arte.
De que “humanização” se trata aqui? O artista surrealista não tem como finalidade uma forma, ou uma anti-forma, essa que se parece encontrar nos interstícios iniciais do primeiro Cesariny, mas um conhecimento das zonas recônditas do “eu”. A poesia e a pintura são só veículos para a indagação da alma. O seu resultado não pode ser avaliado em termos de harmonia, de equilíbrio e de beleza, mas de eficácia de conhecimento interior. O artista surrealista não é um artista no sentido corrente, alguém com preocupações estéticas, mas um aventureiro do espírito humano, que busca os tesouros que foram sendo recalcados desde a mais remota infância por pressão da realidade social e das suas convenções nas camadas subterrâneas e ocultas do “eu”. A única preocupação daquele que se entrega ao surrealismo é trazer de novo à superfície da consciência esses conteúdos recalcados, encontrando expressão simbólica para esses destroços que vogam à deriva no oceano da alma. As associações verbais livres, oriundas da psicanálise freudiana – Freud fez das associações livres a regra da sua análise, pondo de lado a hipnose tal como Charcot a praticara –, estiveram na base da criação do “automatismo psíquico puro” tal como Breton o definiu no manifesto de 1924. Verbalizações dos sintomas patológicos na psicanálise – as associações livres ganham na prática surrealista um valor catártico de auto-conhecimento interior e de consciencialização do “eu” profundo. A linguagem verbal, plástica e mesmo musical, é vista como um médium que serve a revelação interior e nunca como um fim estético, a ser apreciado do ponto de vista da forma e da beleza. O projecto de progressão humana, a aventura em direcção a uma libertação de todas as algemas da culpa e do castigo que se escancara nesta concepção mediadora da linguagem acabou por ser a resposta que o jovem Cesariny encontrou para a sua preocupação no momento em que teorizava o novo realismo português, a “humanização da arte”. Daí, 30 anos depois, no momento em que falava com Octávio Paz na Cidade do México, com as ruínas de Teotihuacan como pano de fundo e as pistas secretas dos Tarahumaras no espírito, ele afirmar que vinha duma experiência interior do surrealismo, não estando por isso interessado em avaliá-lo do ponto de vista da experiência histórica e da oportunidade dos movimentos estéticos.
Uma das regras de ouro das associações livres é a intromissão do acaso. A palavra sintomática, que transborda da esfera consciente do paciente, do seu controle e da sua atenção, e se revela fundamental para a exploração dos conteúdos ocultos do “eu”, descola muitas vezes por meio do acaso. O surrealismo fez do acaso a porta de acesso à simbolização plástica e verbal dos conteúdos latentes – tornou-se nele um sinal de reconhecimento duma necessidade não manifesta. Daí a ideia dum “acaso objectivo” em que só as aparências são gratuitas – e que pode lembrar o acto falhado freudiano. As primeiras composições verbais que Cesariny criou sob o impulso do automatismo psíquico recorrem ao acaso. Recordem-se as collages verbais feitas em Paris. Nalguns poemas do conjunto “encontrado perdido” limitou o seu trabalho ao recorte de palavras e de frases de jornais que depois montou pelas leis do acaso. Repetiu o processo nos poemas intercalares d’ A cidade queimada. Sofisticou-o ao recorrer a um novo médium, mais complexo e muito mais criador – o desmembramento de palavras, cujos elementos eram depois reunidos à sorte, dando origem a um léxico antes desconhecido. Obteve assim ainda no ano de 1947, entre a estadia em Paris e o seu regresso a Lisboa, alguns dos poemas que mais tarde integrou no livro Alguns mitos maiores…. Cada um destes poemas tem no centro a obtenção dum neologismo. Conquanto não recorra à colagem de materiais prévios, o conjunto chamado “Les hommages excessives” [sic], datando de Paris, é também o resultado da sobreposição casual de imagens de sentido ou de som, fora de qualquer controle do pensamento. Em todos estes meios de criação, o poema está debaixo da tutela duma força exterior – poesia, anjo demónico, acaso – e não do poeta e da sua vontade.
O acaso teve também um papel de primeira grandeza na evolução das experiências plásticas de Cesariny. O que antes fora experimentado no seio da teorização do novo realismo como exclusiva reacção anti-formal vai agora adquirir uma componente “humana”, um fluxo psíquico vibratório que acentuou o sentido não formal que já havia no anti-formalismo inicial. Nunca se preocupou com a habilidade, na qual via o primeiro passo do academismo, nem pretendeu nunca adquirir técnica e saber fazer. Já no tempo do suplemento “Arte” a sua preferência por uma pintura feita ao ar livre, sem muito estudo prévio, aberta à improvisação do momento, como era a dos muralistas mexicanos, pode ser vista como uma crítica à pintura de cavalete e à perfeição da forma e da execução técnica que ela supunha. Reside aqui uma aquisição que ele não mais perdeu e que se revelou determinante nas suas escolhas quando chegou ao surrealismo. Este legado anterior, muito seu, em que o nome de Fernando José Francisco ganha toda a ressonância, levou-o por exemplo a afastar-se logo em 1947 da pintura surrealista que então se praticava em Portugal – a de António Pedro e a de Cândido Costa Pinto. Pintura de inspiração directa nas conquistas dalianas, interpretava e desenvolvia em sentido objectivo o “modelo interior” que Breton propusera à pintura. Tratava-se de encontrar num ponto intermédio do espírito a imagem onírica – o genial catalão chamou-lhe hipnagógica – para a restituir depois o mais fielmente possível no pintado. No processo de restituição, a exigência técnica era decisiva e por isso pintores como Pedro e Costa Pinto foram sobretudo artistas preocupados com a resolução técnica dos problemas que a objectivação das imagens interiores colocava. O meu biografado chamou a este surrealismo “copista”, depreciando-o ao nível da concretização formal naturalista. A única diferença entre os dois não estava na qualidade e no tipo da representação mas no representado – exterior no caso do realismo naturalista, interior no do surrealismo. A natureza, a finalidade e os meios técnicos de ambas as pinturas eram no entanto os mesmos.
Quando aderiu ao surrealismo, Cesariny continuou pois os caminhos que iniciara dentro do neo-realismo. A habilidade e o refinamento da execução técnica visando a perfeição formal continuaram a não lhe interessar e o improviso, depois de lhe haver surgido como parte integrante da natureza da pintura dos muralistas, pareceu-lhe o processo que melhor respondia às exigências do surrealismo. Foi ele que lhe abriu a porta às experiências plásticas com o acaso. Antes o acaso era uma escolha quase aleatória, que resultava duma noção anti-académica da arte, agora surgia subordinado à manifestação dos conteúdos inconscientes e como uma forma de revelação do oculto e de auto-conhecimento das zonas recônditas e de difícil acesso do “eu”. O encontro com Victor Brauner no Verão de 1947 foi o momento chave desta metamorfose. Viu na exposição da galeria Maeght os altares voudus que este montara e pôde então perceber como possível uma pintura onde as imagens ou os volumes surgiam como escrita cifrada do universo interior e não como cópia. Figurativos como Dali ou Magritte estavam longe de serem o único e o mais interessante caminho para a verbalização plástica da topografia oculta do “eu”. Havia uma outra saída, que escapava ao tratamento objectivo do mundo interior em termos ainda naturalistas e formais. Trabalhava com uma simbolização mediada e mágica em vez de formas, texturas e técnicas. Daí a nova inscrição hieroglífica, que destruía as fronteiras entre a criação poética e a pictórica e dava origem à ideia do picto-poema, que passou a constituir a base de todo o trabalho plástico de Cesariny.
Ao tempo que procedia em Paris às primeiras experiências de captação do acaso verbal, desenvolveu três processos de mediação plástica dessa nova linguagem picto-poética – as sismografias, as soprografias e os aquamotos. Em todos eles a linguagem do quadro era obtida por um acto involuntário, produto do acaso, cujo resultado era desconhecido à partida. Nas sismografias tratava-se de fazer tremer a caneta na folha de papel; nas soprografias de soprar, de olhos fechados, tinta distribuída em gotas no papel; nos aquamotos de deitar de forma aleatória linhas de tinta ao papel, sobre as quais se entornava depois num único impulso grande quantidade de água, acabando esta por modificar o traçado original. Em todos estes processos se reconhece um antecedente no seu trabalho de oficina como aprendiz de ourives. As sismografias e as soprografias deram origem a personagens de filigrana que parecem ouro fundido e rendilhado. Quanto aos aquamotos, foi ele que confessou a Édouard Jaguer que o processo era comparável ao acto de atirar um metal em fusão na água fria (Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, 1982: 29), gesto que ele vira fazer desde tenra idade, maravilhando-se com os seus resultados e que acabou por ser a fonte directa de inspiração para esta forma de pintura, que deve mais à joalharia que às técnicas académicas das aguadas (lavis).
Conhecem-se muitas figuras de sopro do ano de 1947, o processo mais praticado, tanto pela simplicidade, podia ser praticado em qualquer lugar, como pelos resultados imediatos. Por vezes as três técnicas, ou ao menos duas, parecem coincidir no mesmo trabalho. No regresso de Paris, em Outubro de 1947, Cesariny, O’ Neill e Domingues alugaram um sótão na Avenida da Liberdade – em 16-9-1947 O’Neill escrevia para Paris a falar na necessidade dos três alugarem casa – que acabou sobretudo por lhes servir de oficina e onde mais tarde se lhes juntou Fernando Lemos, que também aí trabalhou. Foi o primeiro ateliê do meu biografado. Tinha 24 anos e estava decidido a libertar-se do pai, que pouco depois abandonava para sempre a casa da Palhavã. Nas águas-furtadas da Avenida da Liberdade desenvolveu parte da sua criação da época, aí compondo um dos trabalhos mais marcantes do período, “O Operário” (tinta-da-china, água e guache sobre papel colado em platex), em que o aquamoto e a soprografia parecem ter um papel de relevo na obtenção da figura, baptizada por sugestão e talvez por ironia, ao modo das “decalcomanias” de Óscar Dominguez, também elas fruto dum processo em que o trabalho é obtido por meio do acaso – o decalque e a pressão duma folha branca contra outra em que foi espalhada tinta de forma semi-estudada. A euforia da criação desta peça subiu tão alto, que ele e O’Neill, cuja prática da soprografia é conhecida, saíram à rua com ela, numa exposição espontânea e ambulante. Relatou assim o momento: Pinta “O Operário”, quadro que é levado a passeio, entre Alexandre O’Neill e o autor, pela Avenida da Liberdade, às onze da noite. (“Tábua”, in Mário Cesariny, 1977: 45).
Esta primeira fase surrealista da sua criação plástica, a primeira na qual ele se implicou de forma exaltada e continuada, deu-se a conhecer nas duas exposições do grupo “Os Surrealistas” – a primeira em Junho de 1949, num andar em frente da Sé de Lisboa, e a segunda um ano depois na livraria “A bibliófila” na Rua da Misericórdia. Houve ainda uma exposição de trabalhos em 1951, no Porto, em casa de Herberto Aguiar, que Cesariny tomou na tábua cronológica que de si fez em 1977 como a sua primeira exposição individual mas que no currículo que enviou para a Fundação Gulbenkian em 1968 a pedir uma bolsa para se dedicar à pintura, e que lhe foi recusada, deixou de lado, preferindo tomar como sua primeira mostra individual a de 1958, em Lisboa, na galeria “Diário de Notícias” (relatório inédito; arquivo da Fundação Gulbenkian). Este Herberto Aguiar é outra das figuras do meio que ele frequentou no Porto na época em que esteve com Carlos Eurico da Costa na casa da Barca do Lago, propriedade de Eduardo de Oliveira, amigo próximo este de Eugénio de Andrade, com quem o meu biografado então se dava e que nesta altura lhe pagou a edição da sua estreia poética, Corpo visível, como o leitor recorda.
Todo este primeiro trabalho plástico apareceu marcado por uma relação primordial com o acaso que o desfigura em relação aos padrões estéticos mais correntes, inclusive dentro do surrealismo. É impossível abordar esta criação a partir dos critérios com que em geral se aborda a pintura, mesmo surrealista – o talento, o estilo, a forma, a técnica, o efeito, o gosto, a cor, a textura, a matéria. Mais uma vez os valores clássicos da beleza e da forma não servem para compreender esta experiência tão “demoníaca” como a da sua poesia. O acaso é um dos nomes do anjo demónico – como a poesia é outro e como o automatismo das associações livres é outro ainda. Numa entrevista final disse que tanto era ele a fazer o quadro como este a fazê-lo a ele (Expresso, 20-11-2004). Quis dizer com isto que o trabalho plástico no seu caso não era um produto passivo, uma coisificação destinada ao mercado, ou mesmo a um museu, mas um sujeito agente, vivo, orgânico, do qual dependia a sua vida. A sua experiência plástica vale assim pelo grau de surpresa e de desfiguração, pelos processos selvagens que traz à superfície, pela verbalização plástica duma realidade invisível, só dele, e nunca pelos valores estéticos implicados. É da criação dum mundo vivo que tanto diz respeito à obra como ao seu criador, mistura indissolúvel e sem fronteiras, que aqui se fala, não apenas dum efeito visual objectivo e coisificado num objecto exterior ao sujeito.
Nestas suas primeiras experiências pictóricas ele viu surgir uma figura recorrente – um triângulo isósceles ou equilátero, com o vértice em cima, encimado por um Sol, duas pernas a sair da base e por vezes um braço empunhando um ceptro – que depois se tornou uma das figuras mais icónicas do seu desenho e da sua pintura. Acompanhando o envio de sete desenhos, nos quais a figura se repete, comentou-a assim em carta para Laurens Vancrevel (1969; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 27): Essa figura, que eu confundo com a Poesia, persegue-me desde 1947. Você acaba de me ensinar que se trata de Tournessol. “Tournesol” era por sua vez o jogo de palavras que Vancrevel fizera na chamada escrita para a exposição de pintura que organizava e que teve lugar em Outubro de 1969, em Haia, na qual Cesariny esteve presente com os sete desenhos enviados. É ainda ela que se triplica no desenho que enviou para E. Granell em Novembro de 1975 e que foi publicado na primeira página do número de Dezembro desse ano de España libre e que o leitor conhece já. A mesma figura aparece duplicada numa pintura de 1960, com o título “Naniôra – uma e duas”. Esta Naniôra é um neologismo que se encontra no poema “Coro dos maus oficiais na corte de Epaminondas, imperador”. Parece ser aí um substantivo com um valor de adjectivo – “uma morte/ naniôra/ que não deixe o esqueleto de fora”. Na parte final da vida Cesariny pedia para contemplar este quadro constituído pelos triângulos das “Naniôras”, não para apreciar a conjugação cromática, notável aliás, e se comprazer na volumetria das formas mas para ver surgir figuras vivas do quadro que vinham dialogar com ele. Uma das que surgia com alguma insistência era António Maria Lisboa e outra era uma velha desconhecida, toda de negra, e que lhe pedia a mão. Trata-se duma fixação do “daimon”, com o qual ele dialoga como uma entidade viva e exterior a si. As Naniôras trazem-lhe verbalizações, mensagens desconhecidas, revelações picto-poéticas. Quem não lembra as palavras tão precoces, de Agosto de 1941, numa carta a Seixas, em que ele diz que não traz a poesia como um facho triunfante dentro dele mas é ela que do exterior o “arrasta e comanda”?! Por isso na carta de 1969 a Vancrevel ele dizia que associava a imagem triangular que lhe aparecia desde 1947 à “Poesia”. Nem todas as palavras que o anjo demónico traz se tornam escrito, embora na concepção anti-clássica do autor todas sejam poema. O mesmo para os sinais e o picto-poema. É esta espessura mágica dos seus quadros, como de resto dos seus poemas, fruto ambos dum prestidigitador solitário, que importa valorizar em detrimento do talento e dos princípios formais de qualquer escola.
A obra plástica de Mário Cesariny irrompeu com uma força selvagem em 1947, centrada numa experiência plástica que só se entende em termos de projecções e plasmas psíquicos que precisam de subir à superfície, não da tradição plástica tal como era praticada entre nós e em todo o Ocidente desde há muitos séculos. A valorização que ele sempre fez do grupo “Os Surrealistas” e das suas exposições deveu-se em grande parte à afinidade de sentido com que todos os membros trabalharam as imagens, que nunca lhes interessaram como arte estética, mas como projecções psíquicas vivas. Os desenhos de António Paulo Tomaz presentes no átrio da exposição de 1949 e que foram depois conservados por Cruzeiro Seixas são o modelo simbólico desta arte que Cesariny começou a projectar ainda dentro do neo-realismo ao fazer a crítica do formalismo modernista de vanguarda e que desenvolveu no surrealismo com a teoria da simbolização pictórica e verbal dos conteúdos recalcados. Do primitivo grupo que fez o suplemento “Arte”, os que não saíram do neo-realismo, ou que pelo menos não aderiram às teses de André Breton, como Júlio Pomar, não se interessaram por qualquer teorização anti-formalista e desenvolveram um trabalho em que a segurança técnica e o domínio da forma foram sempre a pedra-de-toque. De resto, a evolução do neo-realismo a partir da segunda metade da década de 40 desmentiu em absoluto a teorização do jovem Cesariny; o movimento procurou cada vez mais suprir as suas falhas várias, muito a descoberto na questão da “humanização”, através do apuramento de meios técnicos, a ponto de mais tarde se ter quase dissolvido nas neo-vanguardas formalistas da década de 50 e 60. Os que aderiram logo no Verão de 1947 ao surrealismo, como Marcelino Vespeira e Fernando Azevedo, tiveram como modelo, ao menos na primeira fase, a pintura de António Pedro e a sua fixação em imagem do teatro interior. Outros ainda, como Fernando Lanhas, também colaborador do suplemento portuense, acabaram por se interessar antes de mais pelo abstraccionismo escolar, que é ainda um caso extremo de exaltação formal. Só no grupo tutelado por Cesariny e Lisboa a pintura e o desenho, articulados a uma noção de mediação das zonas ocultas do “eu”, mas nunca de representação fidedigna de qualquer modelo onírico interior, desenvolveu o lado de improviso e de reacção anti-formal que o mais dotado teórico do suplemento do jornal A Tarde exigiu da arte nova que queria para si e para o seu tempo colectivo.
A arte do grupo “Os Surrealistas”, tal como foi dada a conhecer nas suas duas exposições, e antes de mais a de Cesariny, tem vantagem em ser lida à luz da categoria da “arte bruta”, criada por Jean Dubuffet em 1948 mas cujas raízes datam dos anos 20, contemporâneas da formação do primeiro grupo surrealista. Para ele a arte não era o fruto dos artistas reconhecidos pelo crivo do meio artístico e do meio crítico – tal como o artista não era o que se submetia ao escrutínio dos seus pares, de modo a que as suas obras obtivessem um valor de mercado consoante o prestígio que granjeavam. Artista era o que criava na sombra, por uma necessidade instintiva absoluta e iniludível, obras que nem sequer submetia à avaliação do sistema cultural e comercial. Na década de 40 começou a coleccionar estas obras criadas na margem, não patenteadas pelo meio académico e crítico, sem qualquer valor de mercado, formulando para elas a noção de “arte bruta” e com elas fazendo surpreendentes exposições. Mostrou uma arte em estado natural, tal como brota do instinto, feita à margem e até no desconhecimento das convenções artísticas do momento e dos interesses da indústria cultural. Cesariny, aliás como André Breton, um dos fundadores da Companhia de Arte Bruta em 48, aderiu a esta noção e dela se serviu para classificar os desenhos de António Paulo Tomaz – “as mais espantosas obras de “arte bruta” que figuraram na exposição” (“Para uma cronologia do surrealismo em português”, 1973). O seu trabalho imediatamente posterior à queda do fascismo, com a crítica feroz da palavra erudita e gramatical, a palavra que entroncava nas retóricas castrantes do mundo clássico, que foram depois as do fascismo e são hoje as da engenharia financeira, o seu trabalho que fez a apologia da liberdade da phala e o elogio das pontas próximas e visíveis da literatura popular de cordel que o levou à grande recolha de 1983 só ganha também em ser aproximado da moldura selvática e marginal da arte bruta.
É aqui que entra pela primeira vez o diálogo do meu autor com Maria Helena Vieira da Silva, que o leitor já sabe que tanta importância veio a ter no desenrolar da sua vida. A primeira vez que ele deu conta da existência de Vieira e de Arpad, ao menos de maneira próxima, foi numa carta de António Maria Lisboa de Março de 1949, enviada de Paris para o grupo dissidente então em formação (Cesariny, Domingues, Alves dos Santos, Risques Pereira, Oom e Seixas). Conta Lisboa que visitou o casal no ateliê do Boulevard Saint-Jacques – o intermediário do encontro foi por certo António Dacosta, que o remetente diz ser seu interlocutor quase diário – e que lhe pediu colaboração para livro que o grupo pensava editar. Concluiu deste modo (Poesia de António Maria Lisboa, 1977: 246): Devo dizer entre aspas que são de muito interesse este Húngaro e esta Portuguesa. Cesariny confessou que teve aqui a primeira chamada de atenção séria para Vieira e para Arpad, atribuindo a sua desatenção no Verão de 1947, no momento da sua estadia em Paris, ao interesse que pusera na galeria Maeght, na Rua Fontaine e nos contactos que Costa Pinto lhe passara, antes de mais Victor Brauner, que o cegou então para tudo o resto. O casal acabara de regressar nessa Primavera de 47 a Paris depois de longa estadia na América – exilara-se em Lisboa no Outono de 1939 e seguira no ano seguinte para o Brasil. Arpad e Vieira estiveram fora de Paris cerca de oito anos, o bastante para algum pesado véu cair sobre eles, até em Paris, onde haviam vivido toda a década de 30. Cesariny não se lembrou pois deles durante a sua estadia em 47 – nem mesmo por via de Dacosta com quem esteve várias vezes e que em 1949 apresentava em Paris, no mesmo ateliê que António Maria Lisboa visitou em Março, Vieira e Arpad a José-Augusto França e a Fernando Lemos.
Três anos depois vira e pensara já o bastante sobre a pintura de Vieira para se atrever a escrever sobre ela. Corria a Primavera de 1952 e António Maria Lisboa estava internado no sanatório dos Covões, em Coimbra, onde sobrevivia com um resto de pulmão. Para lá lhe pediu novos elementos sobre o casal, que chegaram por carta não datada, mas seguramente do final de Maio ou início de Junho (idem, 1977: 305-06), altura em que Cesariny estava a tomar as primeiras notas para o texto, “Carta aberta a Maria Helena Vieira da Silva”, que publicou no final do Verão no jornal Cartaz (23-9-1952; recolhido em As mãos na água…). O que toca desde logo neste texto é a forma de interlocução epistolar que ele toma. O autor dele tinha algum à-vontade na crítica de arte como os seus textos iniciais de 1945 dão a entender. Optou porém pela forma epistolar, dirigindo-se à pintora, e não pelo texto crítico clássico. Nesta escolha vai toda a intenção do texto: estabelecer um diálogo directo com a pintora, através duma carta aberta, dada a conhecer num jornal. O seu autor recusou o lugar de crítico de arte que ajuíza sobre uma obra, preferindo falar de forma directa com a pintora, embora não se escusando na carta a juízos sobre a arte, os artistas e o caso português. A forma escolhida, interlocução com a pintora, esteve na origem do primeiro sinal de interesse desta pelo jovem desconhecido que assinava a carta aberta – o meu biografado era então o autor de Corpo visível, um poema em edição de autor, que fora apenas distribuído aos amigos. Por intermédio de Manuel de Lima, amigo de Almada Negreiros, que lhe prefaciara o livro de estreia, Vieira acedeu a encontrar o seu jovem interlocutor no ateliê da Rua do Alto de São Francisco – uma casa que a mãe de Vieira comprara em 1926, antes pois da ida para Paris, que só aconteceu dois anos depois, e que a pintora usava para trabalhar, residir e conviver quando passava em Lisboa, o que podia suceder várias vezes ao ano.
Das referências críticas da carta – nela está uma das raras alusões, se não a única, do meu biografado à crítica de arte de Fialho de Almeida – a mais significativa, a que mais sequências envolveu e a que melhor continuidade deu aos juízos críticos anteriores que vinham do suplemento “Arte”, é o modo cáustico e humorado como trata em pintura o “espírito de técnica”. A originalidade dos textos de 1945 residiu na interpretação do legado vanguardista e modernista à luz duma reacção anti-formalista, capaz de estruturar a alma do novo humanismo em arte. Retomou a questão no texto de 1952, escrito já no seio da prática surrealista, desta vez com uma consciência acrescida do que se jogava na desvalorização do primado da técnica em pintura. Ao invés do modo estudado e previamente ensaiado da arte técnica, destinado a coisificar os traços num objecto exterior, o gesto automático desta nova pintura revelava em sinais o mundo interior. A obra surgia como pictografia do “eu” perdido e absoluto, lugar de manifestação do compromisso simbólico entre o desejo e o real, segundo a lição de Victor Brauner no picto-poema de teor mágico. A acuidade do passo chega ao extremo de pôr em causa o surrealismo – um surrealismo que é feito para parecer surrealismo e a que será mais tarde chamado “copista”. Leia-se o passo (As mãos na água…, 1985: 21-2): Mas cedo ou tarde terão os nossos jovens de constatar que o espírito de técnica a que se apegam todos, abstractos, “surrealistas”, neo-realistas, e tantos outros mais, é aquela mezinha que leva ao academismo de que estamos cheios. Sim, estamos já fabricando, para prestígio da técnica, magníficas repetições de Modiglianis, Gromaires, pombas de Picasso, casamentos tão morganáticos como podem ser os de Dali com Walt Disney, etc. Vamos todos os anos a Paris colher, não a intervenção, não a liberdade que “devolve à vida”, mas o par de andas que permitirão, no Inverno, a tímida passagem de uma exposição, surrealista ou não, neo-realista ou não, mas em qualquer dos casos, sempre muito moderna. (…) Se eu pouco acredito na Arte – e está bem de ver que não acredito muito – é que ela, na maior parte das vezes, estanca a Imaginação e imbeciliza o que afinal se propunha fertilizar: a real e profunda realização do humano.
A “carta aberta a Maria Helena Vieira da Silva”, não obstante a forma epistolar que tomou, foi o primeiro texto no domínio da crítica de arte que Cesariny publicou depois de 1945. Tinham entretanto sucedido as viagens, as experiências poéticas e pictóricas com o acaso, o automatismo psíquico, as exposições com o grupo “Os Surrealistas”, mas a sua teorização da arte, embora mais expressiva, com uma novidade de peso, o automatismo, corre ainda pelas grandes linhas que deitara ao papel no suplemento portuense. A mesma impugnação da pintura como ginástica; a mesma necessidade de sublinhar que a acção plástica não tem por termo uma forma bela e perfeita mas “a real e profunda realização do humano”. Daí a expressiva descrença na arte – “eu pouco acredito na Arte” –, associada esta ao labor, ao estudo, à aprendizagem de técnicas e de saberes, e não ao anjo demónico que actua a partir do “eu” fora de si. O meu biografado não tardou por isso a nomear a sua acção plástica como despintura. O que lhe interessava nos quadros que só em parte fazia – no restante já sabe o leitor que eram eles, os quadros, que se faziam a si e o faziam a ele – era quase o inverso de tudo aquilo que se convencionava para a pintura artística, um objecto exterior, regido pelas leis clássicas do Belo e da novidade, sem qualquer ligação ao sujeito, a não ser e por motivos comerciais a assinatura que nele deixava.
O facto de ter associado Vieira da Silva a um texto com tais ideias é sinal de que ele reconhecera na experiência dela o que mais lhe importava a ele na pintura e no desenho. Lisboa chamara-lhe “pintora surrealista” – e depois “boa pintora”. Manuel D’Assumpção, que estivera em Paris na mesma época – cruzou-se e conviveu com o autor de Erro próprio – e frequentara também o ateliê da Rua Saint-Jacques, trouxera de lá um novo espaço, que se lhe fez essencial para se livrar dos limites da representação. Cesariny, que nos anos que vão de 1949 até 1952 estudou as reproduções da pintura de Vieira da Silva das décadas de 30 e 40, alguma dela exposta e até feita no casarão de Lisboa, percebeu que aquele trabalho punha em prática as suas ideias plásticas. Na carta aberta elogia “a voz interior da sua pintura”, o “dom da invenção”, dizendo que tal obra pertence “ao rigoroso acaso do nascimento do homem”. Não se alcança nenhum deslumbramento ante os processos técnicos e os prodígios formais da sua pintura; tudo o que lá está é apenas uma tríade de pontos – a voz interior, o dom do anjo demónico, o acaso do parto humano – em que se reconhecem as chaves decisivas duma teoria pictórica pessoal que se vinha construindo desde 1945.
Pode pensar-se que esta Vieira de Silva não é senão de Cesariny. Fora do seu campo de visão não existe. É possível que sim e que à medida que o diálogo entre os dois se aprofundou cada vez mais tenha sido assim. Há com certeza outra Vieira da Silva, produto das escolas, das academias, dos museus. A Vieira do meu biografado é bravia e parece ter brotado apenas de si própria, do diálogo interior – não do talento que tinha, não das visitas aos museus, não da reflexão das escolas modernas de pintura, não dos cursos de belas-artes que frequentou em Lisboa e em Paris, não das técnicas que aí aprendeu e desenvolveu. É uma Vieira vazia de lastro exterior, nascida por geração espontânea, num relâmpago eléctrico de luz, no momento das suas mais significativas descobertas. Com o muito que se possa contraditar, esta Vieira tem razão de ser. Basta ver quadros como “Le pont transbordeur de Marseille” (1931), “Les balançoires” (1931), “L’arbre dans la prison” (1932) e “Le cèdre” (1932) – com excepção da primeira, que só conheceu mais tarde, todas estas obra tinham reproduções acessíveis em catálogos portugueses da época –, para se perceber como esta pintura se desprendeu de qualquer retórica plástica e académica, para se assumir por uma iluminação, já que o talento existia, como arte pobre, despojada de qualquer efeito visual espectacular, muito mais chegada ao que Dubuffet chamou arte bruta que à grande arte artística dos mestres consagrados. O jovem crítico não via aí o parto do abstraccionismo em que a pintora evoluiu, explicação que não o satisfazia, mas o momento em que ela trocou uma pintura dependente de modelo – os primeiros trabalhos que fez eram desenhos anatómicos – por uma pintura sem qualquer modelo, exterior ou interior, e que resultava dum diálogo com uma “voz interior”. Destino pictórico do Ocidente desde o Renascimento e que encontrara na fotografia o seu corolário técnico natural, o olho deixava de registar o mundo para passar a criar cego com o anjo demónico. Por isso enquanto crítico de arte o meu biografado nunca deixou de castigar a diferenciação entre surrealismo e abstraccionismo. O surrealismo como verbalização pictórica de conteúdos velados tanto podia seguir o trilho do figurativismo como do abstraccionismo. Eram duas vias de mediação para o irracional – dobra escondida no lado de dentro do “eu” que por imagens ou por sinais era necessário traduzir e pôr veladamente à mostra – mas não “copiar”. O melhor pintor era assim aquele que não via. Só o pintor cego estava em condições de negar a tentação de resolver através da técnica os problemas da mediação, evitando que esta se tornasse representação. Ficava então livre para fazer do sinal ocasional o lugar de compromisso entre o patente e o oculto. As obras de Vieira do início da década de 30 afiguraram-se-lhe o ponto de partida desta pintura – tradução do desejo escondido – e a sua autora pôde tornar-se então por excelência a pintora cega, aquela que não precisava de ver para criar.
Cesariny dedicou a Vieira um segundo texto a propósito da exposição que esta fez em Dezembro de 1956, na galeria Pórtico em Lisboa. Era o regresso da pintora às paredes da sua cidade natal depois duma ausência de 20 anos – não entrando em linha com a participação atribulada que teve na Exposição do Mundo Português. A sua última exposição individual em Lisboa fora na galeria UP de António Pedro e Thomaz de Mello, em 1935. Foi para assinalar o regresso, que ele escreveu este segundo texto, “Passagem do meteoro Vieira da Silva” (Diário ilustrado, 13-8-1957), que teve reprodução do óleo “L’étoile”. O texto, que em carta para Vieira ainda de Dezembro ele chama “pequena crónica sentimental”, não é mais uma vez para ser tomado como crítica de arte mas de novo como saudação e homenagem. Este tem porém uma particularidade só dele; foi escrito já depois dos trágicos acontecimentos de 1953 – tombo de Eros na Primavera que o levou ao Torel e morte de António Maria Lisboa no fatalíssimo mês de Novembro. Estava a viver um período de asfixia, com apresentações humilhantes na polícia, vigilância nas ruas, risco de ser de novo capturado e reprovação social no meio intelectual. O texto revelou esse mal-estar – dele e do país, que continuava a sufocar à mão dum tirano sem outro risco que o da missinha ao domingo de manhã. Ao constatar que a exposição não deu lugar a uma grande consagração da artista – toma como sintoma o facto da porta de entrada habitual da galeria ter estado fechada e a entrada se fazer pela porta dos funcionários – ele põe em causa o meio e adianta a conhecida expressão de Herculano, “isto dá vontade de morrer”. Esta expressão foi glosado na mesma época no poema “Coro dos maus oficiais de serviço na corte de Epaminondas, imperador”, em que falou da morte loura e boa, da morte naniôra, porque tudo o resto demorava e nunca seria dele, Mário. São dois textos que refrangem a mesma situação de asfixia e de desespero. Quando Eros foge e se esconde nas dobras ou no avesso, o homem social entrega-se ao impulso de destruir, seja por meio ou da economia ou da guerra, as duas formas da antropofagia moderna. Mas quando tiram Eros ao poeta, este brinca com a morte, que é ainda uma outra forma de se envolver com Eros. O suicídio de Kleist é tão excitante como uma noite de núpcias e o de Antero tem qualquer coisa de primeiro orgasmo indeciso. O de Sá-Carneiro é uma orgia monstruosa do tempo de Calígula, enquanto o de Camilo é a masturbação solitária do pénis no quente do sofá da sala do piso térreo de Ceide. O mais perverso e brutal suicídio é o de Cristóvão Pavia em Belém sodomizado cruelmente por um gigantesco bisonte de ferro e o mais delicadamente feminino é o de João Rodrigues – autor do retrato à pena de Mário Cesariny que está na edição de Poesia (1961) – a abrir a janela da Avenida Almirante Reis (em 10-5-1967) como se abrisse as pernas nuas numa perfumada cama de lençóis de seda.
Vieira não foi insensível às palavras do seu crítico e menos ainda à sua poesia. No momento em que veio a lume o texto sobre a exposição da galeria Pórtico, o meu biografado era autor de duas colectâneas – Discurso … e Manual de Prestidigitação – e estava a sair a terceira, Pena capital. Gaspar Simões afirmara que o poeta atingira já a perfeição da sua arte mágica. Vieira era próxima de Simões, pois fora ele um dos primeiros críticos portugueses a saudar a sua pintura. Chegara mesmo por intermédio dele a colaborar na revista Presença – o desenho da capa do derradeiro número (1940) é dela. Se dúvida se formou no seu espírito sobre o verbo do jovem admirador, o entusiasmo de Simões chegou para desfazê-la. E no meado de 1958, numa vinda à mansão da Rua de São Francisco em que encontrou o novel poeta, agradeceu-lhe, dando-lhe um guache seu, que ele vendeu para custear as despesas da sua primeira e quase única aventura editorial, a colecção “A antologia em 1958” – depois disso editou só as folhas do Bureau Surrealista, da Noa Noa e do “The ted oxborrow’s…”. É deste momento, Março de 1958, a primeira grande carta privada de Cesariny a Vieira, a primeira que obteve resposta da pintora e sinalizou o início dum diálogo epistolar regular que durou quase até à sua partida – a derradeira carta dela para ele é de 1985, já depois da morte de Szenes. É neste diálogo epistolar que se percebe a afinidade carinhosa que os ligava. Falam, miam, roçam-se como dois gatos cheios de meiguice, numa relação quase de sangue, de mãe e de filho. Com a sua alma de felino descarado, ele chegou a declarar-lhe (?-1-1959; Os gatos comunicantes, 2008: 49): Plagiando, com não pouca pretensão, o Nietzsche das estrofes finais do Zaratustra (“Porque eu amo-te, eternidade”!), o a mais que sei dizer-lhe, com licença do cosmos e do Arpad, é “Porque eu amo-te, Vieira da Silva”!
O primeiro livro editado com a pequena fortuna que lhe valeu o guache foi o conjunto Alguns mitos maiores…, em que recolheu os antediluvianos poemas que começou a compor ainda em 1947. Em Burlescas, teóricas e sentimentais (1972) deu o livro por acabado em 1954, não por revisão dos textos já orquestrados, que só sofriam alterações de pormenor, mas pela inclusão de novos. Um destes, “A grafiaranha maior”, cita de modo directo a pintura de Maria Helena Vieira da Silva, associada no poema a uma “aranhografia”, “grafia do génio” e “operação do Sol” – duas formas de mediação do lado de dentro, a última vinda dum texto de António Maria Lisboa e associada à inscrição mágica da tatuagem primitiva. A “operação do sol” como tatuagem de sinais é uma forma de picto-poema. Vieira é vista como a aranha cega que tece a sua tela gráfica de sinais com os “espaços intersticiais” que estão dentro de si. A associação da pintura de Vieira à capacidade criadora da aranha, extraindo de si e não do exterior a sua tela, não mais será abandonada. A tela é uma teia como a tinta uma baba operada por secreção no crisol da alma. Nas representações pictóricas que dela fará, a primeira em Londres, no Inverno de 1969, e a segunda em Lisboa, “Mário Sá-Carneiro raptando Vieira da Silva”, em 1972, a pintora surge sob os tons misteriosos e pálidos da Lua. Vieira é aranha do picto-poema, a inscrição mágica da operação do Sol, a que está no centro do mundo, eterna tecedora do destino, regendo todas as formas e todas as teias – e por isso “Grafiaranha” maior.
A pequena jóia que a aranha mãe lhe deu do seu seio, serviu ainda a Cesariny para poder voltar a sonhar com um ateliê em Lisboa. O primeiro, na Avenida da Liberdade, alugado com O’ Neill e Domingues, durou só uns meses, já que ele pouco se aguentou no grupo de António Pedro. No tempo da “operação do Sol” com António Maria Lisboa e os outros, teve o ateliê da Rua do Ferragial da “camaradona” Isabel Meyrelles, a Fritzi dos cafés, mas que na verdade serviu mais para pequenas coboiadas do grupo – as inolvidáveis fotografias nos telhados de Lisboa – do que para trabalho pictórico. Alugou com João Rodrigues, Ernesto Sampaio e Fernanda Alves uma água furtada ao lado do Aljube, na mesma área onde em 1949 correra a exposição do grupo dissidente. Era um espaço minúsculo, constituído por um único desvão, com janela e pia, em que mal se podia trabalhar. Chegou a dizer que nem duas pessoas lá cabiam à vontade. Tinha porém uma vista soberba sobre a Sé de Lisboa, os telhados de Alfama e o lençol azul ou lamacento do Tejo. Não o chegou a considerar um ateliê a sério “ou mais a sério”, como numa carta a Vieira (?-12-1976) afirmou. Fosse como fosse, retomou aí as tintas e depois duma década quase toda dedicada ao verbo e ao livro – publicou mais poemas na década de 50 e no início da seguinte que nas três ou quatro seguintes – fez a primeira exposição individual na Primavera de 1958, na galeria Diário de Notícias, em Lisboa, e no ano seguinte, na galeria Divulgação, no Porto. A pretexto da primeira mostra, escreveu Raul Leal, o poeta de Orpheu que o meu biografado acabara de conhecer pouco antes no Café Gelo, o texto “Um extraordinário pintor Mário Cesariny de Vasconcelos” (Diário ilustrado, 10-7-1957).
Que tirar destas duas exposições de Cesariny e dos poucos trabalhos que dele se conhecem da década de 50? Nada que contradite a linha inicial de evolução entre 1943 e 49. Parte das peças da nova década é constituída por colagens verbais, o que se entende à luz dos poemas que então preparou para edição. Na outra parcela que sobra, as técnicas de citação do acaso, experimentadas com tinta-da-china, água e guache sobre papel, ficam de momento de lado, não por substituição, mas pela troca dos materiais. A têmpera, uma mistura de tinta e de cola, foi o material mais usado a partir desta época e mesmo com a descoberta mais tarde do acrílico nunca foi de todo abandonado. O seu investimento plástico inicial centrou-se na criação de técnicas adequadas a guiar ou a captar o acaso – a sismografia, a soprografia e o aquamoto. Estão todas muito próximas duma caligrafia da alma. Na década seguinte esse empenho deslocou-se para o material em si. A têmpera era uma tinta obtida pelo criador, resultado duma diluição da tinta na cola através dum banho que tinha infinitas gradações. Não se está longe mais uma vez dalgumas operações de temperar o metal nas oficinas de fundição ou de joalharia. O resfriamento dos metais num banho de água fria era procedimento que ele vira vezes sem conta na oficina do pai. Sob outra forma retomou nesta época o processo para obter as suas próprias tintas. No seu caso não se tratou tanto de obter como de criar. As têmperas que ele criou não se limitaram ao processo do banho e diluição da tinta na cola. Ele introduziu novos materiais, alguns clássicos, como os vernizes, outros de todo inusitados e ocasionais, como a farinha – existe um quadro de 1956 (Bernardo Pinto de Almeida, 2005: 211) em que a sua aplicação é indicada –, o sangue, o cuspo, os pêlos e até dejectos humanos e animais. Se antes se esperara do acaso uma forma informal que guiasse o quadro para a alma, agora esperava-se dele um material pessoal onde essa mesma alma se revelasse. Daí a designação de picto-abjeccionismo e de picto-furúnculo que Luiz Pacheco deu a esta forma de pintar que tem o seu pico no final da década de 50 e início da seguinte, momento em que ele está a conceber e a gerar a antologia Surreal/abjeccion-ismo (1963).
O reajustamento da atenção sobre os materiais da pintura determinou um salto no trabalho plástico de Cesariny, que não comprometendo o passado e ganhando até alicerces nele, criou uma nova linha de actuação, a que se pode chamar a “iluminação pela cor” e que não mais será abandonada. As experimentações que ele fez com a têmpera levaram à criação de cores únicas no pigmento, no tom, na espessura e no modo de secagem (este nem sempre eficaz como se vê na textura estaladiça do trabalho de 1956). Os seus quadros ganharam pois uma linha cromática explosiva que até aí desconheciam e que acabou por se tornar um dos trilhos mais obsessivos e explorados a partir desta década. A linha de água, que acabou por ser a sua pintura mais procurada e característica a partir dos finais da década de 80, a ponto dele se ter recusado a praticá-la durante anos, não andou longe da conjugação cromática de muitos trabalhos do final desta década ou do início da década seguinte, se bem que a primeira linha de água seja por ele celebrada e remetida ao ano de 1976, no momento em que retomou a pintura depois da queda do fascismo. A concentração no material e na cor, a desfavor do processo e da forma, fez com que, por um curto momento, a sua pintura se tenha voltado para um tratamento mais clássico e realista da forma, como se vê no quadro “O Marinheiro” (1962), têmpera e verniz sobre madeira, e que tocou o zénite dois anos depois nos desenhos da cela de Fresnes (esferográfica e lápis sobre papel), cuja impassibilidade do real representado é comparável à flor de lótus a sair do lodo.
Seja como for, ao lado deste tratamento do real e da sua forma, a época foi buscar ao passado o triângulo isósceles coroado por uma cabeça solar ou sanguínea e trabalhou com ele em quadros de cor, dando-lhe um novo e sumptuoso vestuário e uma espessura anímica ainda mais intensa e vital. O quadro “Naniôra – uma e duas”, têmpera e verniz sobre cartão, é de 1960 e coroa um préstito de pequenas Naniôras, que nunca deixaram de brotar do seu lápis e do seu pincel e que ele recebia de braços abertos, surpreso e maravilhado. Eram pequenos elfos pacíficos, graciosos e teatrais, chegados das florestas encantadas do Éden mágico e que lhe vinham povoar o quarto da Rua Basílio Teles, pregando-lhe partidas, dizendo-lhe graças e palavras “demoníacas”, escondendo-lhe livros e papéis, apagando-lhe o cigarro e trocando-lhe os óculos. Estas Naniôras eram génios, anjos demónicos, que falavam por risinhos e sinais decifráveis. Titânia é um destes génios, uma Naniôra maior, única, com a qual ele mantém uma relação incestuosa. O triângulo com pernas, braços e cabeça a que Cesariny deu vida, pondo-lhe uma vela de cera, um ceptro de metal ou um simples pau na mão, sempre um objecto fálico, é afinal o triângulo original do Amor, o único triângulo mágico, o de Eros, que tem por vértices Titânia, Oberon e o Homem da Cabeça de Cavalo.
No início da década de 60, com algum alívio na situação policial vivida desde 1953, encarou viajar, antes de mais para Paris, cumprindo assim algumas das determinações do seu horóscopo. A viagem pela viagem, em círculo fechado, como Rimbaud a viveu, sem rumo e sem objectivo, típica dum ser sem raiz, não estava porém dentro do seu destino. Ele não cruzava o espaço nem como um meteoro perdido e doido nem como um planeta escravizado à mesma rota de sempre. Brilhava antes como uma estrela fixa sentada no seu trono real de luz e que viajava pelo espaço com uma missão secreta. Concebeu assim o plano de aprofundar o seu conhecimento sobre a pintura da Grafiaranha. Se o que dela vira, bastara para lhe declarar o seu amor, havia muitos outros segredos que só no interior do casulo da Maga ia poder perceber. Concebeu pois e desde o início esta viagem a Paris e ao ateliê de Vieira da Silva como uma viagem iniciática ao centro do mundo. Foi um périplo de argonauta de que o leitor conhece já os passos exteriores – a Torre de Saint-Jacques, os poemas d’ A Cidade queimada, a visão fulgurante e premonitória na retrospectiva de Grenoble do quadro “La ville brulée”, a visita à oficina da grande Aranha em Yèvre-le-Châtel, o passeio nos castelos de Chambord e Chenanceaux, o filtro amoroso num piolho de bairro em Paris, a prisão, o inferno, o lodo, a cinza, o nojo, o nada e a fuga num relâmpago, por telepatia, para as branduras verdes do Tamisa.
Ainda não se reparou como a atenção aos pintores pré-renascentistas, os primitivos, nasceu na ponta final deste itinerário como pétalas de fogo que despertam de cinzas adormecidas. É no instante em que, depois de Fresnes, ele volta ao contacto da Rainha-Mãe, para se lhe ajoelhar aos pés e pedir perdão, um perdão com valor de bênção maternal, que os primitivos em pintura sobem à sua boca, se bem que num texto sobre a pintora de 1962 (J.L.A., 21-2-1962) contraponha o esoterismo hebraico e o gótico-árabe de expressão popular, de que Vieira descende, ao gótico-romano das classes dirigentes. Eufórico com a repreensão doce da Mãe simbólica – “Para quê procurar assim o sofrimento?” – e o convite formal que o casal lhe fez para estar presente em Lausana, na Suíça, no meado de Fevereiro de 1965, ele concebeu então passar pelos Países Baixos para ver ao vivo nos museus de Bruxelas e Amesterdão a pintura dos primitivos flamengos, que começara já a desbravar nos museus londrinos. Esta pintura, o seu entusiasmo e a sua descoberta, foi o sinal de que o inferno de Fresnes não dera cabo dele; fora apenas o rosto fuliginoso da obra, o ponto em que as cinzas carbonizadas se mostravam aptas a dar lugar ao fogo primaveril.
Está aqui talvez a descoberta capital da sua vida a seguir ao encontro com André Breton, se bem que em tal matéria o testamento espiritual deste – L’Art Magique (1957) – também viesse de novo em seu socorro. A descoberta valeu todo o processo de carbonização que o meu biografado sofreu em Paris e de que a pintura da grande Maga tecelã lhe deu a ver o símbolo premonitório – o quadro de 1955 surgido ao acaso nas voltas do Museu de Grenoble. Viu nesse espelho o que já sabia – nenhum processo técnico estava em condições de substituir a voz interior, o diálogo com o anjo, o lado demoníaco da criação – mas viu também algo que o abalou como uma sinistra e assustadora visão apocalíptica, a modernidade tal como o Renascimento a gerara estava reduzida a ferro, carvão, petróleo, plástico e resíduos radioactivos – nada menos do que cinco séculos de escórias e destruição! O horror sem fim, numa progressão ilimitada para a destruição final, que a progressão do tempo é a natureza mesma do horror. A eternidade quando foi medida e se fez tempo tomou uma forma horrível e tornou-se a mais temível das ameaças.
Chambord e Chenanceaux, visitados pelo braço da Grafiaranha, foram a sua despedida definitiva do clássico e do moderno – embora deste se tenha começado a despedir muito cedo, com a reacção anti-formal! A partir daí só uma arqueologia que pusesse à luz do dia o que mais importava – a pintura encarada como tatuagem mágica. Isso lhe valeu toda uma pesquisa imediata sobre a pintura dos primitivos, cuja noção ele adoptou à poesia verbal, vituperando as retóricas e as gramáticas, renascidas todas elas no Renascimento, e estendeu ao social, com a apologia da terra arcaica dos Tarahumaras e da vida do tempo sem medida, o tempo mágico do amor, e com o nojo do homem moderno, sem voz interior, todo votado à conquista implacável do exterior e à cega destruição matricida da natureza avaliada como recurso. O seu amor à confraria inglesa dos pré-rafaelitas, defensores intransigentes do artesanato e críticos ferozes da máquina e da indústria, cuja rota ainda criam inverter, começou neste momento, consequência da sua reflexão sobre as camadas que tinham alimentado subterraneamente o grande tear revolucionário da pintura de Vieira, pintura que ele insistia em ver na linha dos surpreendentes quadros do início da década de 30 tão pobre, tão humilde mas também tão subversiva como a roda de fiar de Gandhi, recusando-se sempre nela a qualquer prodígio da técnica ou das escolas estéticas.
Da posse desta chave “primitiva” ele pôde regressar a Lisboa ciente de que tinha com que fabricar todo o oiro que desejasse – um oiro que só aos seus olhos tinha valor e que fez dele a partir daí e cada vez mais um homem doutro mundo e doutro tempo, cujos verdadeiros contemporâneos não eram os fabianos que ele cruzava em Londres e Lisboa mas os entes fabulosos que viviam fora de qualquer processo histórico. A palestra que fez em Janeiro de 1967 na livraria Buchholz, ilustrada com slides, sobre a pintura de Vieira, foi o primeiro ponto da situação. Parece uma meta de chegada mas não é mais do que um primeiro degrau. Afirmou aí a pintura como destino – “lugar do espírito”, diz ele – e não como forma, questão sedimentada há muito. A novidade esteve em desenterrar a errância dos primeiros flamengos como o múltiplo que faltara depois aos modernos e que Vieira soubera ir buscar para o integrar na síntese do seu labirinto. O texto pode hoje surgir como a súmula escrita dos sete cadernos anotados que ele entregou à Fundação Calouste Gulbenkian aquando do regresso da primeira estadia no Tamisa, na Primavera de 1966 e que lhe foram devolvidos seis meses depois.
Nada disto se faz indiferente a um estudo da mesma época consagrado a Cruzeiro Seixas, Cruzeiro Seixas (1967), caderno autónomo do J.L.A. – mais tarde recolhido na segunda edição d’ As mãos na água… com o título mudado para “Do surrealismo e da pintura em 1967” e com todas as alusões a Seixas omitidas. Mas mesmo na versão final, resultante das disputas de 1978 que o leitor já conhece, é uma das reflexões críticas que chega para o afirmar como crítico de arte de primeira linha, se não mesmo o mais rico de sugestões e o mais lúcido de todos os que falaram de pintura no século XX português. É talvez o primeiro texto onde declaradamente ele mostra ter consciência de que está aberta na cultura do Ocidente uma nova via que cortou com a herança greco-romana, e logo com tudo o que decorreu em arte, em ciência e em sociedade da Europa do Renascimento, embora associe o corte não ao surrealismo mas a dádá, situação esperada em alguém que acabara de ler e verter ao português na rica biblioteca da Rua Walton os textos do movimento. Essa outra via é a primitivista, em que arte deixa de ser vista à luz das ambições de harmonia e de beleza para passar a ser havida como cosmogonia. Nesta época a diferença entre um quadro a óleo muito belo destinado a tornar-se numa colecção ou num museu um valor de mercado e um mero quadro de areia Navajo, cujo destino é actuar sobre o universo, passou a ser total. Em 1967 não hesitava entre os dois; se tivesse de salvar um, jogava fora o óleo do grande pintor do Ocidente e guardava o de areia, por muito efémero e anónimo que fosse. No rescaldo desta inflexão sobre os caminhos da arte moderna no Ocidente, traduziu da versão de Ernesto Cardenal o “Canto da criação dos índios Koguis” (J.L.A., Agosto, 1968; rep. As mãos na água…), afirmando por aí a sua incondicional adesão à via exclusiva do primitivo, que era aliás a senda pela qual André Breton seguira desde que estivera com os Hopis no Novo México.
O meu biografado retomou a pintura de Vieira em Agosto de 1970, em nova palestra, no contexto da retrospectiva que a pintora fez na Fundação Calouste Gulbenkian no Verão desse ano e que coincidiu com a pequena exposição da galeria de São Mamede, cujo catálogo foi prefaciado por ele e que inaugurou no dia de São João, no momento da chegada do casal Vancrevel pela primeira vez a Lisboa. O texto da palestra, “Da pintura de Vieira como vontade e representação”, nunca foi recolhido em livro e o que dele ficou resume-se à resenha dos jornais. Basta porém para o avaliar como superior ao que escreveu quer no catálogo da galeria, mera nota sobre a circunstância da mostra, quer no catálogo da retrospectiva, “A pintura de Vieira e o poético”, aqui mais essencial. No resumo que o jornal O Século apresentou, “Conferência de Cesariny sobre a pintura de Vieira da Silva” (14-8-1970), brilham em lugar de destaque dois tópicos maiores: a alusão aos primitivos flamengos e italianos e a operação xamânica. Os primeiros são os antepassados da pintura descarnada da Grafiaranha, feita de andaimes e de traços, não de carne e de cor, urdida como uma teia de fios vitais, um sistema circulatório de canais prontos a receber a torrente quente do sangue. Estes primitivos medievais sobreviveram a um dilúvio qualquer lá para trás, conservando consigo um conhecimento e um modo plástico de ser de que em pintura no Ocidente e no final do século XX só através deles se tinha um vislumbre. Tratando-se ainda da sobrevivência de mais um dilúvio, este porventura ainda mais antigo, entrava aí a experiência do xamã como limpeza do canal da alma humana ao passeio dos espíritos – base da reconquista da pintura como teia da voz interior e do diálogo demoníaco.
Nunca se esqueceu desta palestra. Sinal da sua permanência foi a recuperação que mais tarde fez do seu título para o primeiro capítulo do livro que acabou por dedicar à Lua Mãe em 1984, Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista. Este livro foi talvez o mais desejado de todos os que fez. Foi ainda o que sofreu mais metamorfoses e aquele cujo parto se lhe tornou quase impossível. Os livros de Cesariny foram em geral fruto dum prestidigitador: – um, dois, três e zás! Já está! Este foi diferente. Teve um parto demoradíssimo ao longo de mais de 20 anos e pelo meio sofreu inúmeras contorções. Desesperou dele e chegou a pensar que já não o fazia. Foi um livro pensado e sonhado, feito e desfeito ao sabor de acasos e de acidentes como uma teia que não encontra o lugar seguro e precisa de ser refeita vezes sem conta até encontrar uma garantia de estabilidade.
O livro nasceu em 1962, quando o seu autor decidiu ir pelo mundo em busca do segredo da Aranha gráfica, esse segredo que veio a encontrar nos espelhos de Fresnes e que era afinal o segredo da sua vida. Regressou anos depois sem o livro mas com o número mágico da matemática simbólica na bruaca – os sete cadernos tão preciosos como os sete planetas da tradição e as sete notas musicais. Que são ainda os sete anos de Londres, as sete setas – as sete cores e as sete letras. As páginas destes cadernos recolhiam as faíscas, as lágrimas e os cristais dos lugares por onde passara – do ateliê na Rua Abbé Carton até às forjas de Yèvre, às entranhas infernais de Fresnes, à berriça de Londres e à neve de Lausana. No sossego propício do quarto da Rua Basílio Teles, pensou transformar – e para tal obteve um subsídio suplementar da Fundação – estes apontamentos em livro. Tudo o que tirou foi a palestra de Janeiro de 1967 – mês em que findou o complemento de apoio e fechou a primeira etapa que começara no Inverno de 1964.
No ano seguinte, em Março, num momento de renovação, antes das grandes convulsões que sacudiram o final da Primavera, retomou o plano do livro. Numa carta escrita para as oficinas da grande Maga comunicava o seguinte (23-3-1968; Os gatos comunicantes, 2008: 105): Tudo me leva a crer que consegui finalmente um estado de espírito capaz de levar a bom termo o texto para o seu livro. Por essa carta sabemos que a Fundação estava interessada em publicar ainda nesse ano o volume, que o autor concebeu como um livro de arte, caro e esmerado – “o custo deve atingir e ultrapassar a centena de contos”, diz ele nessa carta –, com um mínimo de 15 reproduções a cor e 60 a preto e branco. Chegou a enviar para Artur Nobre de Gusmão um plano do trabalho – texto introdutório seu, seguido por 75 reproduções a preto e branco e 27 a cor – com as medidas que o livro devia ter (24 x 30). Era então um álbum clássico de pintura, a juntar a alguns outros a que pintura de Vieira já dera lugar.
A exaustão do final da Primavera, com as guerras de riso e alfazema de Luiz Pacheco, cortou-lhe o impulso e no momento em que com a ajuda dos teares da sua mãe simbólica – o segundo guache que Vieira lhe deu no Verão de 1968 por meio de “um portador de confiança” – ele se livrava de Lisboa e partia de novo para Londres, o projecto do livro regressou a um estado informe. Em Londres retomou a pintura que fora quase abandonada desde a partida para Paris. Nem a minúscula casinha da Rua de Savoie, nem a muito mais espaçosa da Rua Walton, toda consagrada aos livros, lhe deram as condições para pintar. Demais andara à procura dum segredo e embora se tratasse dum segredo relativo ao pigmento da tinta a busca absorvera-o por inteiro. Não fazia outra coisa senão consultar a bússola, à procura do Norte magnético, que chegou com a carbonização de Fresnes e a chave dos “primitivos”. O regresso a Lisboa não melhorara a situação, a não ser que já então tinha consigo a “chave”. A nova bolsa mensal que recebeu da Fundação, resultou na palestra da livraria, mas afastou-o da pintura, cuja chave continuou guardada mas não esquecida. Veio depois o trabalho de redactor no J.L.A. entre o Outono de 1967 e o Verão seguinte – a sua campanha jornalística mais feraz e conseguida, acidentada porém com o brutal embate com Virgílio Martinho, responsável em parte pelos terríveis sismos desse final de Primavera. Só com a nova partida para Londres e o fim da estadia em Hampstead Heath lhe foi possível tirar a chave que continuava guardada no bolso e abrir com ela a porta da pintura, que salvando o ligeiro intervalo que se seguiu ao 25 de Abril nunca mais se fechou. A chave dos “primitivos” permitiu-lhe limpar o canal da alma e deixar abertas as suas pontas, dando expressão a uma pintura do espírito, uma pintura xamânica e demónica, em que a linha cromática antes de se manifestar na tela e na matéria, antes de ter a visibilidade da linha azul que se chamou depois “linha de água”, foi um ponto cego que ele arrancou ao espírito. A linha azul, misto de forma e de matéria foi a sua mediação.
O final de 1968 e os meses de Inverno de 1969 – só regressou a Lisboa no meado de Março – foram passados quase só a pintar. Há quatro anos que a bem dizer não punha mão em pincel. Vira pintura, visitara museus e galerias, desenhara esboços nos cadernos que dedicara à grande Deusa, pensara a pintura, passeara muito, mas só de forma ocasional fizera um quadro. Com a pintura então feita – falou nela numa carta a Vieira da Silva (26-5-1969) – fez a primeira grande exposição individual em Lisboa, na galeria S. Mamede no final de Maio de 1969, a que se seguiram duas novas exposições no mesmo local e com pequeno intervalo – a primeira, “30 pinturas de Mário Cesariny sendo 14 com títulos colhidos nas “Iluminações” de Rimbaud”, em Janeiro de 1971, e a segunda, “11 crucificações em detalhe/ 3 afeições de Zaratustra/ retrato de Jean Genet”, em Fevereiro de 1973. Pelo meio, em final de Abril de 1972, ainda houve nova exposição das “traduções plásticas” dedicadas a Rimbaud, momento em que apresentou na galeria da Rua da Escola Politécnica a segunda edição das traduções de Rimbaud, Iluminações. Uma cerveja no inferno, de que ficaram três marcantes crónicas na imprensa lisboeta (Fernando Assis Pacheco, Vera Lagoa e Vitor Silva Tavares).
Foi o período em que se pôs a pintar com fúria – alugou para isso o seu ateliê em 1972, na Calçada do Monte, o seu primeiro ateliê a sério como ele disse –, trocando o poema pelo quadro, duas manifestações remontando à mesma origem, as dobras ocultas do “eu”, e que ele nunca arrumou em gavetas incomunicáveis. Quadro e poema eram manifestações da poesia. O poético que lhe chegava através do quadro tinha porém a vantagem do suporte material. A tela e a têmpera, a mistura do acrílico e a obtenção da cor, alicerçavam na terra e alongavam no tempo o instante de manifestação do poético. Ao invés, a poesia de natureza verbal dependia em absoluto duma voz exterior. Mais intensa, mas também mais fluida e ondulatória, reverberando um êxtase de natureza etérea, sem chão para deitar raiz, a poesia em forma de verbo era instantânea e de curta duração. Fulminava-o num ziguezague e dispensava qualquer suporte material, incluído o lápis e o papel, coisa que à pintura não sucedia. Manda a tradição, confirmada pelo testemunho oral de Cruzeiro Seixas, que o jovem Cesariny compôs os primeiros poemas na rua, a andar, de olhos fechados ou parados e assim continuou a compor muitos dos que se seguiram. Os versos fixavam-se-lhe no espírito e só depois os dava ao papel. O verbo poético era nele fruto duma voz demónica que se lhe colava ao ouvido. Ele só tinha de ouvir, de apurar a escuta. Depois, à medida que se entregou a Eros, a voz afastou-se, baixou o timbre, até quase se perder e silenciar. “A poesia nunca esteve na minha mão” – disse numa entrevista (Expresso, 20-11-2004). E juntou noutra: “A musa pôs-me os cornos. Talvez a musa se zangasse por eu ter preferido Eros.” (Diário de Notícias, 1-7-2002).
Olhando a sua pintura desse momento, percebe-se que depois da retoma no final da década de 60 ela não sofreu qualquer mudança de natureza. As tendências da sua pintura são nessa época as mesmas que se encontram no final da década de 50 – máxima atenção à composição do material e em consequência presença absorvente da cor. Sem deixar de lado a têmpera, que ainda se prolongou por algum tempo, foi nesse momento que se deu a introdução do acrílico. O tratamento realista da forma, que assomara no início da década, foi abolido quase em definitivo. Esta pintura nascera na década de 40 como reacção anti-formalista e por aí caminhou um quarto de século depois. A forma quase desapareceu e o que dela sobreviveu foi a bem dizer o triângulo com pernas, braços e cabeça, que se continuou a ver em pintura da época – afinal a mesma em que ele escreveu a Vancrevel identificando a figura à flor divina da espagírica. A cor ganhou ainda mais presença – há cores novas, criadas por ele, nos banhos de têmpera e nas misturas do acrílico, como um azul pastoso, metálico, psicadélico, todo ele feito para mediar uma tonalidade psíquica, que só agora surgem e que muito contribuíram para o parto da “linha de água”. Novos processos do tratamento do acaso na condução do quadro, e já não apenas do material, foram introduzidos, como a laceração da tinta seca e a sua descolagem, ao mesmo tempo que um dos antigos, o aquamoto, era reintroduzido para temperar e despistar a têmpera.
É também por volta desta época que o poema-objecto se impõe em definitivo, constituindo uma das linhas mais persistentes da sua criação até ao final da sua vida. O poema-objecto combina elementos poéticos com recursos plásticos. É uma forma de picto-poema, no sentido que atrás se lhe deu – tratamento objectivo do mundo interior através duma inscrição hieroglífica nova mediada pelo acaso. Não se trata de comentar trabalhos plásticos com palavras – usou porém este processo, que vinha de Ernst, Miró ou Magritte e até com abundância; um bom exemplo é a homenagem a William Blake de 1968, feita quando deixou a casa de Amorim de Sousa e se isolou em Chelsea –, nem mesmo de aceitar a cor e a forma, ou a disforma, como um novo alfabeto de acesso ao mundo interior escondido. O poema-objecto exige um objecto real, que se destaca da realidade para ganhar uma presença de inscrição interior, capaz de traduzir o desejo. Implica a percepção dum magnetismo próprio em certo objecto do real e a sua tradução num texto que lhe fixa o sentido mas nunca de forma literal. Um dos grandes momentos do poema-objecto em Cesariny tem lugar pouco depois, em 1973, com uma bota masculina, associada à marinha ou ao exército, na qual colou pedrinhas do mar com uma tal disposição que se tornam botões que fecham ou abrem a bota, e na qual inscreveu a tinta branca os seguintes dizeres: Lucky boot/ that came ashore/ on the sands of/ Sesimbra/ on the first June 1973 (col. Fundação Cupertino de Miranda).
Entretanto dera-se o suicídio do pintor Manuel D’ Assumpção no dia da chegada do humano à Lua – 21-7-1969 – seguido depois pela retrospectiva da obra de Vieira na Fundação Calouste Gulbenkian e pelas palestras num dos auditórios da Fundação sobre a sua pintura, uma delas de Cesariny. Só no final de 1971 a questão do livro foi retomada numa carta à pintora, talvez pela notícia que então teve da saída naquele momento dum novo livro sobre a sua obra, da autoria de Dora Vallier. Fez nessa carta (26-11-1971) o primeiro balanço da situação do livro desde Abril de 1968, altura em que enviara à Gulbenkian o plano dele, perdendo-lhe depois o rasto por força das viagens e da pintura que se lhe impusera em Londres e depois continuara em Lisboa, mas também por desinteresse da parte da Fundação. Quando retomou o livro neste final de ano, deu-o por superado tal como o pensara três anos antes, aceitando como providencial o seu não avanço, o que ainda se repetiu mais tarde. Tinha uma forma sua de fatalismo ao viver o destino como meio de objectivação do acaso. A morte de D’ Assumpção, a retrospectiva de Vieira e a palestra dele eram o bastante para desenvolver o livro noutro sentido. A Maga enviou-lhe mais tarde por um portador, Luiza Neto Jorge, o livro de Dora Vallier, cuja leitura lhe foi proveitosa, conforme o registo que deixou na carta (12-1-1972) em que agradeceu a Vieira a oferta.
A leitura do livro de Dora Vallier limpou-lhe do espírito um conjunto de ideias feitas, que se acumulavam no seu campo visual como móveis velhos a impedir o acesso à porta de saída. Pôde assim arejar o livro e refazer todo o plano que tinha para ele, construindo-o quase de raiz. A grande alteração foi o propósito de “ensaísmo” que antes tivera e que agora declinava. Não se tratava tanto de escrever uma súmula nova de tudo o que já escrevera mas tão-só de reunir o que desde 1952 vinha dando, incluindo o poema da colectânea de 1958. Estava num ponto morto em que o livro lhe surgia só como reunião de dispersos – visão que pode ter recebido o influxo do labor que então fazia sobre os seus artigos e estudos e que nesse mesmo ano de 1972 reuniu na primeira edição do livro As mãos na água…, muito distinta da reedição de 1985, com um número considerável de textos significativos a desaparecer 13 anos depois. Tinha ideias claras do que queria do livro e resumiu-as assim na carta à Grande Dobadoura em que agradeceu a oferta de Dora Vallier (12-1-1972; Os gatos comunicantes, 2008: 130): (…) desisti definitivamente de armar ao “ensaísta completo” no meu estudo sobre a Maria Helena. Pareceu-me melhor ideia fazer do seguinte modo, quando ele surgir, e se os gulbenkians querem a obra, creio que sim: publicar, tal como foram saindo, as coisas que entretanto foram saindo, as coisas que entretanto saíram. E as essas, agregar o que já é de âmbito de estudo que me foi bolsado. Reunirá portanto os artigos do As mãos na água a cabeça no mar (o livro vai aparecer agora) PLUS a “Grafiaranha”, a “Ode a Vieira da Silva”, o ensaio escrito em Londres e aqui, a palestra que fiz na Fundação (“A pintura de Vieira como vontade e representação”) e um “Ensaio de análise evolutiva” da sua pintura. Na sua independência, são textos que se correspondem bastante. Tempo escusado e perdido foi o de tentar “cosê-los”. Preferível: casá-los como são.
A carta (14-4-1974) a Guy Weelen em que lamenta não poder aceitar o convite para estar a 26 de Abril na “vernissage” de Vieira em Genebra, e que lhe garantiu ver da primeira linha da plateia a queda do fascismo, é o passo seguinte deste processo. Nela informa que acabou de entregar na Fundação Gulbenkian o livro sobre a pintora remodelado e reconstruído segundo as recentes ideias que lhe nasceram depois da leitura de Dora Vallier. Desta vez foi a revolução que fez parar o trabalho, como chegou para lhe fazer parar a pintura e quase perder a oficina, com a renda em falta durante muitos meses. Depois da grande viagem sobre as águas às Américas loucas do Norte e do Centro, a coincidir com o fim da revolução em Portugal, quando retomou a casinha da Calçada do Monte e a pintura, aqui com o parto da primeira linha de água e as “cinco memorizações do México”, o livro estava já atropelado por tanto sucesso novo que ficou para sempre soterrado no pó do passado. Mais uma vez o seu não avanço era fruto duma objectivação do acaso por intermédio do destino. Aceitou pois como uma necessidade imperiosa o seu provisório fim.
A oportunidade de reatar com o livro chegou com a reabertura da galeria da Rua da Escola Politécnica em Novembro de 1977 – uma exposição de Cargaleiro, a que se seguiu outra de Vieira, “Vieira da Silva: serigrafias e litografias”, que estreou em 1978, com texto dele no catálogo, “De como Lisboa exalta a obra de Vieira e vice-versa”, ilustrado com fotografias suas colhidas na cidade decrépita, a da sua infância, a única que lhe punha o olho em estado de paixão. Via nela uma das matrizes da obra da Penélope Mor, que assim passava a ter uma dimensão vernácula, popular, exterior às academias, típica da rua, e em que desenvolve a anterior intuição em volta dos pré-renascentes, que fora a sua “gazua” de bolso no primeiro regresso de Londres. Foi esse o início da nova arrancada do livro, repensado agora segundo o modelo primitivo de vários ensaios, funcionando como “prédios comunicantes” (carta a Vieira, 29-10-1966). A ideia de reunir todos os seus textos publicados sobre a pintora desde 1952 foi posta de lado e não mais retomada. O livro seria novo e novo ficaria. Embora a bibliografia sobre a pintura de Vieira tivesse entretanto crescido muito – até o poeta René Char fizera o retrato verbal dela em 1973 – e não pudesse mostrar a novidade que teria em 1964, ano em que a bibliografia internacional sobre Vieira era muito limitada – tudo o que então existia em português era um livrinho de José-Augusto França –, ele acreditava que essa profusão bibliográfica, magma indiferenciado, o ajudaria a destacar uma palavra só sua, criando um salto decisivo para um novo entendimento da pintora e da sua obra.
Fosse como fosse, esta derradeira fase da feitura do livro não avançou sem hesitações, crises e reconfigurações. Este livro estava destinado a ter uma sedimentação lenta, progressiva, que mesmo na sua derradeira fase necessitou de anos para evoluir, embora a sua escrita final acabasse por ser obra de meses ou mesmo de algumas semanas. Logo no momento seguinte à exposição da galeria de Pereira Coutinho, o meu biografado iniciou um texto, “Da pintura de Vieira como início da era espacial”, pensado como a última parte do trabalho. O livro como então o concebia estava longe do que veio a ser anos depois. Dos textos então compostos, o do catálogo e este sobre a “era espacial”, apenas aproveitou fragmentos de ideias, que na redacção final foram incorporados no miolo dos capítulos ou nos títulos. Um primeiro volta-face determinante acabou por ter lugar em Julho de 1980, no momento em que se penitenciou numa carta a Arpad Sznes, a pretexto dum pedido deste, de tanto querer dizer sobre Vieira e tão pouco sobre ele, Arpad. Foi seguramente este o momento em que o livro deixou de ser pensado apenas como mais um estudo sobre a pintora para passar a ser sobre o casal, o que logo o individualizou entre todos ou muitos dos dedicados a Vieira.
Só na Primavera de 1982, retomou o livro, mas desta vez com um plano já seguro e diferente de todos os anteriores. Centrava-o quase em exclusivo na recepção da pintura dos anos 30 e 40 do casal no Portugal da época. O título do volume estabilizou no final do ano assim: “Pintura de Vieira da Silva e de Arpad Szenes em Lisboa nos anos 30 e 40”. Já em Maio em carta a Weelen indicara o título: “Vieira e Szenes à Lisbonne”. Estava pois encontrado o veio central do trabalho – o período lisboeta da dupla Vieira-Arpad. Ao longo desse ano fez um levantamento das exposições em que o casal participara em Lisboa nessas duas décadas, em especial na de 30, a mais presente, já que na seguinte houve a guerra, a ausência, a estadia no Brasil até à Primavera de 1947. Recolhera ainda os catálogos, cujos textos, ao menos alguns, eram para reproduzir no livro. Em Agosto, dum conjunto de exposições feitas nos anos 30, faltavam-lhe só dois catálogos de mostras individuais – exposição de Vieira na galeria UP em 1935 e de Arpad na galeria do Secretariado de Propaganda Nacional em 1940 – e um de exposição colectiva, o “Primeiro salão dos independentes” (carta para Guy Weelen, 4-8-1982). Um dos mais raros, o da colectiva de Junho de 1936, “Exposição dos artistas modernos independentes”, já o tinha em seu poder. No final do mês comunica para Paris que o catálogo de 1930 já estava consigo (idem, 26-8-1982). Veio a ter uma importância crucial para a determinação dum eixo crítico no trabalho e foi quase todo reproduzido nos anexos do livro.
Em Janeiro do ano seguinte, 1983, altura em que baptizara já o volume com o título atrás indicado, deu-o por quase pronto, apontando a sua saída para muito breve – na Páscoa o livro era para estar cá fora. Houve porém um pormenor que o atrasou e que nunca chegou a ser esclarecido – as telas expostas por Arpad na mostra colectiva de 1940. Foi um atraso que veio de novo em socorro do livro, pois foi só nessa Primavera, no mês de Maio, que ele associou o casal, através dum guache de Vieira, “Seraphita”, à história de Balzac. Associara-o já ao “Par Ímpar”, óleo de Amadeo de 1916, mas só nesta época o juntou às personagens swedenborguianas, Seraphitus-Seraphita, do romance de Balzac, Seraphita (1835), fonte do guache de Vieira. Numa carta de Maio, pede esclarecimentos a Weelen sobre a palavra – não tem o livro de Balzac à mão, queixa-se ele – e poucos meses depois, em Agosto, em carta ao casal, baptiza-os de “meus queridos Seraphitos”. Na missiva (9-8-1983) chega a chamar ao livro em preparação o Livro dos Seraphitos, o que já fizera na carta anterior para Weelen. Só nessa época se definiu o quarto capítulo do livro, “Discurso de Seraphita, discurso da montanha de Seraphito”, montado com trechos de Vieira e Arpad extraídos dum catálogo de 1963 que ele tinha à mão desde que começara a demanda em torno do voltear da mítica Tecelã. O capítulo ganhou um papel estratégico no sentido do livro, tornando-se o remate do miolo, já que o derradeiro capítulo, “Catálogos e outros documentos”, é constituído apenas por um fundo arquivístico, reproduzindo catálogos da década de 30 e alguns textos saídos na imprensa.
No mês seguinte (carta a Vieira, 14-9-1983) deu o livro como estando já entregue ao editor. Desde a retoma da Primavera de 1982 que o editor em jogo deixara de ser a Fundação Gulbenkian para passar a ser a sua nova editora, a casa Assírio & Alvim, que lhe estava a editar os volumes da obra – começou pela Primavera autónoma das estradas (1980) – e com a qual trabalhava desde 1977, altura em que preparou a Poesia de António Maria Lisboa. No período agora em jogo, Primavera e Verão de 1983, editou ele nessa casa Horta de literatura de cordel, de que o leitor tem notícia. Assim como assim, o livro sobre Vieira e Arpad continuava a evoluir e a carta de António Maria Lisboa escrita do Sanatório de Covões na Primavera de 1952 com elementos sobre o casal só saiu do volume nesse momento. Em Dezembro, ainda o autor procurava em desespero um derradeiro texto, o de Murilo Mendes, prefaciando a primeira exposição de Arpad no Brasil. Só em Março de 1984 o título definitivo surge numa carta, Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista, altura em que o gráfico da editora começou a trabalhar na edição de texto e gravuras. A conclusão do livro foi demorada – tratava-se dum álbum de arte, de quase 200 páginas, com inúmeras reproduções e duas edições especiais, uma brochada de 1200 exemplares com capa de Arpad e outra encadernada de 133 exemplares com duas serigrafias, uma de Arpad e outra de Vieira – e só no Outono o volume ficou pronto (com o seguinte subtítulo: pintura de Vieira e de Szenes nos anos 30 e 40 em Lisboa). Foi apresentado em Dezembro, no Palácio Alcáçovas, na inauguração duma nova galeria, a EMI – Valentim de Carvalho, que abriu portas com uma exposição combinada para o efeito, “Vieira da Silva – Arpad Szenes: anos 30-40”, a que o casal não compareceu. Arpad, mais velho quase 10 anos que Vieira, debilitado desde há anos por várias maleitas, morria dias depois, a 16 de Janeiro, no velho ateliê da Rua Abbé Carton, deixando Seraphita perdida e inconsolável. Em carta que então escreveu para o seu “irmão” Mário – a designação é dela – disse que ficara sem gato e sem rumo. Mas confessou também, andrógino já acabado, que Arpad estava com ela e não podia deixá-la.
Nunca livro nenhum de Cesariny demorou como este a chegar à luz do dia. A composição de Pena capital ficou retida na tipografia sem avanços durante mais dum ano mas quando o editor da Contraponto a recuperou deu-a à impressão quase tal como estava. Neste livro tudo foi diferente. O autor trouxe-o dentro de si mais de 20 anos, sempre aos tropeções, e aquilo que acabou por sair, mesmo podendo ser visto como uma súmula de todas as peles que o projecto foi despindo, é inesperado em relação ao ponto de partida, posto que a dobra interior das intenções seja na versão final ainda mais a mesma, o que é notável. Além dum título certeiro que dá a ver o surrealismo num pico isolado do mundo, o livro tal como ficou tem dois pontos fortes.
O primeiro é o tratamento da pintura de Vieira e de Szenes em conjunto, como se a evolução de cada um só se percebesse em função do estudo do outro. Chegado ao mundo da arte em 1945 para lutar contra o academismo da forma, o autor do livro não podia tratar o caso dos dois do ponto de vista técnico. Teve de abrir a porta do humano e do vital para entender os seus estilhaços pictóricos. Daí a exaltação do amor e a afirmação logo no primeiro capítulo de que a relação Vieira/Arpad faz parte do mito do amor louco tal como o fundador do surrealismo o viu brilhar à luz da androginia primordial. Há quem se lembre de ouvir Cesariny dizer – é o caso de Laurens Vancrevel (2017: 464) – que o amor sublime era para ele o amor único, o amor dum casal, realizando em si a união dos contrários. Nunca conhecera tal amor – confessou em entrevista que vivia o amor à romana – mas esperava por ele com todas as forças subterrâneas, desejando-o como se deseja o Sol depois duma longa noite de escuridão. Tinha a nostalgia da noiva alquímica e por isso na ponta final recordava a Maria Helena da sua infância poveira com o entusiasmo aceso das grandes paixões que não morrem. Nas clandestinas catacumbas eróticas por onde vagueou como uma frágil sombra da noite, esperou sempre encontrar o rosto luminoso da pureza ideal por trás da maquilhagem dos prostitutos. A lama onde viveu, o lodo em que tocou escaldava com a mesma temperatura inflamada dos grandes incêndios estelares. A união sublime tal como a concebia para os deuses e para os demónios viu-a ele realizada em corpo humano no par Vieira e Arpad. Traduziu-os assim nos dois serafins do romance de Balzac e no que neles havia de demónico e de inspirador. Deu-lhes um castelo roqueiro para acasalarem a sua alquimia e celebrou-os nesse pico como a obra da arte régia a que sempre aspirara. Eram dois seres que viviam fora do “eu” social, isolados num castro do além, libertos da doença da existência, entregues à realização vital plena do amor e da criação – fechados e inteiros, sem possibilidade de morte e de reprodução. Assim os percebeu, quando com tintas e corpos feitos de luz os viu concretizar as núpcias eternas da sua androginia e os prodígios matéricos da sua pintura e desse modo os festejou neste seu livro mágico. Um amor como o deles, que lhes fundiu os corpos e soldou as obras, só podia ter por cenário um lugar maravilhoso que se confundia ao próprio surrealismo. Nem cidades nem casas lhe serviam; apenas o castelo gótico enquanto imagem mesma da imaginação o realizava.
O segundo ponto de suma importância no livro é a modernidade. O meu biografado escolheu a década de 30 dos dois pintores para comentar e dar a ver. Grande parte das ilustrações dos pintores diz respeito a essa década e o mesmo para o número de documentos citados e reproduzidos. Também o comentário do autor se centrou sobretudo nesse período, o da consagração do modernismo em Portugal, com a grande exposição do “Primeiro salão dos independentes” em 1930 e a revista Presença – estreada em 1927, consolidada três anos depois e dando continuação a um grupo de revistas anteriores da mesma década. Daí o relevo da sua pesquisa documental. O comentário, explanado no segundo capítulo, “1915 e depois. Exposições de Vieira e Szenes nos anos 30 e 40 em Lisboa”, coração pulsante de toda a obra, acaba assim por se centrar menos nos pintores, já abordados por ele em sucessivos textos desde 1952, e mais na moldura cultural portuguesa dessas décadas, na observação minuciosa dalguns nós fortes, na revisitação de lugares culturais, como a relação entre Pascoaes e Pessoa, merecedores de pouca atenção ou subordinados sempre à lógica modernista. Percebe-se que do ponto de vista do autor faltava atenção distanciada e crítica ao que se passara nesse período decisivo para o modernismo e a sua vitória. Havia como que uma cegueira geral, uma poeira fina, que impedia a nitidez da percepção e que o meu biografado se propôs desafiar. A sua abordagem acabou por ir assim ao arrepio de tudo o que sobre o modernismo já se dissera. Na base da sua leitura está a desconfiança formal. O modernismo não podia ser o que dele se dizia, nem mesmo o que parecia ser, mas antes o que escondia. E o que se ocultara com a vitória ostensiva do moderno como sistema fora o que mais interessava nos ismos anteriores. Nesse sentido, o autor lê o modernismo como um modo de recuperar para a “arte artística” aquilo que por um momento podia ter escapado a esta.
É assim que Ferro, Salazar e Cerejeira são modernos – asserção que só por si implica uma revisão crítica dos valores do século XX português e uma reviravolta na sua abordagem. A propaganda era moderna; a arte era moderna; o automóvel era moderno; a telefonia era moderna; o avião era moderno; a técnica era moderna; Álvaro de Campos era moderno. Até a Igreja, a ditadura, o Estado Novo e o neo-realismo eram modernos. Tudo era moderno na década de 30. Até nazismo e estalinismo eram modernos. Era chique ser moderno; fazia parte da ordem e do sistema ser moderno! Por isso o poder – Ferro, Salazar, Cerejeira – era moderno!
A crítica de Cesariny ao modernismo é pois arrasadora. Nada fica de pé! Num país que se habituara a idolatrar o modernismo – o ensaio de Eduardo Lourenço, “Presença ou a contra-revolução do modernismo português” (1960), logo no título, muito para isso contribuíra –, a leitura dele, gerada no bojo londrino da década de 60, é talvez o primeiro momento em que este apanha um forte safanão. O modernismo depois desta abordagem não mais pode voltar a ser o que era. A sua primeira crise séria, o seu abalo epistemológico irreversível é aqui que se detecta. Mais tarde ou mais cedo impor-se-á como o ponto de vista distanciado que pode fazer História, o único que não parece depender da modernidade tardia em que o final do século XX insistiu. O moderno foi tão persistente, tão perseverante que o pós-moderno é ainda moderníssimo. Só com Cesariny a modernolatria do século XX perdeu a sua primeira máscara – a do inevitável presente eterno com que quis fraudulentamente ficar em cena. O tópico tem por isso uma importância indiscutível, justificando a ideia que no meu biografado houve sempre um crítico e um teórico tão ou mais importantes do que o poeta e o pintor.
Vieira e Arpad têm um lugar central nesta história – embora discreto e nada combativo. Cesariny recusou-se a usá-los como máquina de guerra e deixou-os no seu casulo de vidro, debaixo das tempestades eléctricas dos sóis, indiferentes ao devir da História. Deu-lhes por isso o amor andrógino e a aspiração gnóstica aos mundos superiores – a frase escolhida de Arpad no capítulo quarto, o dos discursos dos “Seraphitos”, diz que “o homem é uma semente importada, vinda de longe”. Semeou ainda o texto com lembranças do casal, de modo a que o livro fosse ainda um memorial e uma homenagem. Mas no capítulo terceiro, “Onde o autor conhece os dois pintores. Voto de plano cénico”, não se escusa a fazer sobre eles um juízo estético de valor decisivo. Diz ele que Almada Negreiros é um clássico, fruto do mundo greco-romano, enquanto Vieira e Arpad são destruidores desse mesmo mundo. Percebe-se assim como estes dois pintores entram na história do livro e contribuem para a construção teórica duma ideia do modernismo. Inserindo-os na pintura portuguesa, o que contraria a crítica da época, Cesariny retirou-os porém do modernismo tal como este evoluíra em Portugal. A obra deles na década 30 que os catálogos documentavam ia no sentido inverso à maioria dos pintores. Enquanto estes faziam uma arte moderna, vistosa e espectacular, toda centrada no domínio da técnica e da forma, uma arte por isso clássica, a experiência de Vieira e de Arpad tinha um propósito pobre, de reacção anti-formal. Daí a importância simbólica e o lugar que ele então deu ao trabalho de Vieira, “Le pont transbordeur de Marseille”, que abriu essa década e foi visto e exposto em Lisboa.
Embora possa ser pertinente em termos de crítica de arte, esta leitura não é inocente. É estratégica e tem um propósito. O que meu biografado visa, mesmo que o não diga, é a segunda metade da década de 40 que abre com a teorização dos textos do suplemento “Arte” e se desenvolve depois com as manifestações do grupo surrealista dissidente, que podem ser encaradas à luz da noção de “arte bruta”. O grupo surrealista dissidente praticara uma arte não moderna, não modernista, não clássica, não retórica, não artística, uma arte mais próxima da expressão dos loucos, das crianças e dos naifs – supino o caso modelar de António Paulo Tomaz – do que das correntes estéticas das academias, das patentes artísticas e de todas as formas críticas de validação e de reconhecimento. Salvante a pintura selvagem de Santa-Rita Pintor, também chamado Santa-Rita-Dádá (As mãos na água… 1972: 96) e a mais culta de Amadeo, o único antecedente para tais manifestações era o par Vieira/Arpad. O restante, incluindo Almada, o folclórico dos barcos, das varinas e dos peixes, o artista consagrado das obras públicas do regime, pertencia a uma outra família, a da arte artística, que não lhe interessava, mesmo debaixo do veneno suave do surrealismo. Daí o seu conflito com António Pedro e a sua impugnação dum surrealismo feito para “parecer”, a que ele chama o “surrealismo surrealista”. Daí ainda o elogio dum não surrealismo surrealista ao modo de Artaud. A negação é a forma mais autêntica e ousada de afirmar uma verdade que já tem na alma o princípio da recusa.
Nada disto vai contra a experiência de Vieira, quer por dentro da pintura, com as inauditas realizações da década de 30, quer na vida pessoal. Vieira era crítica da evolução social e tecnológica. Embora haja no seu caso um ponto de partida académico e erudito – frequentou escolas e academias, foi visita regular dos museus, a primeira fase da sua evolução foi marcada por uma reflexão sobre as escolas pictóricas –, a sua pintura estabilizou depois num diálogo com o seu veio interior, a partir do qual teceu a poderosa teia aracnídea da sua pintura adulta. Alguns “retratos automáticos”, como o “Portrait automatique de Lolita”, deixado em herança a Cesariny, são uma das pontas visíveis do seu método trabalho. Sabe-se o horror que a pintora votava à vida exterior, mundana, fora da teia e do casulo, e conhece-se o seu desinteresse pela tecnologia. A crítica da tecnolatria é ainda a crítica do moderno e do modernismo. Nascida nos primeiros anos do século XX – Arpad nascera ainda no século anterior –, vivera na infância uma cidade rural e aldeã. Sobreviveu uma fotografia de Vieira em criança montada num burrico, conduzido pelo cabresto por uma velha saloia. Eram as suas recordações. Nunca se desprendeu delas e ficou sempre presa ao caldo das hortas, ao pão quente tirado do forno, ao leite a espumar, acabado de tirar da teta do bicho. Acontecia aparecer aos jornalistas, aos mercantes de arte, aos simples curiosos, de capa preta aos ombros, arrecadas de oiro nas orelhas, chapelinho preto de feltro por cima do cabeção da capa e nos pés chinelinhas de varina. A chegada do automóvel assustou-a e desagradou-lhe; a proliferação, mais tarde, horrorizou-a. Na década de 70, em carta ao meu biografado (23-3-1979), queixou-se dos “porquinhos de 4 rodas (autos) mal cheirosos”. Mostrou aí a nostalgia da idade arcaica, anterior à invasão da técnica, e que lhe mereceu este comentário cortante (Os gatos comunicantes, 2008: 145): No tempo dos gatos as ruas estavam limpas.
Gatos eram Arpad e Vieira. Gato era ainda Cesariny – e gato mouro, rafeiro, ilegal, que não deixava passar mão civilizada e cristã pelo pêlo. É o gato cantado no poema como o único que o dinheiro ainda não estragara. Confraria de gatos – egípcios, arcaicos, selvagens, indispostos ao moderno – foi pois o convívio destes três. Eles refazem o grande triângulo do amor mágico, com convergência em Titânia, Oberon e Bottom – este aqui, o Homem da Cabeça de Cavalo. Cada um é uma Naniôra, um triângulo com pernas, braços e cabeça, e cada um deles leva na mão a abrir o cortejo das imortais que se dirigem para o infinito com as patinhas aveludadas de gato o pincel fálico da pintura astral de Raul Leal. Titânia-Vieira vai adiante com o seu rosto de prata e de Lua, guia da noite e tecedeira do sonho, logo seguida a igual distância pelo Oberon-Arpad, majestoso rei solar, cuspindo chamas e pepitas de oiro, e pelo Homem da Cabeça de Cavalo, o Eros de Apuleio, o Cesariny teatral e bufão, o histrião da camisa branca, o sátiro que herdou as artimanhas da prestidigitação do seu avô Pierre Rossi Cesariny, o malabarista corso que atravessou a Ibéria com uma boneca articulada na mala e que foi deslumbrando as aldeias por onde passava até parar na vila de Hervás perto das serranias de Palencia e Salamanca e se deslumbrar ele por uma menina que estava à janela e se chamava Carmen Filipe Escalona e que veio a ser a avó do grande Mago português.
O VELHO DA MONTANHA E O VIRGEM NEGRA
Todo o encontro vital é a revelação dum rosto. Só depois vem a estrela e a epifania do destino. Assim aconteceu entre Manuel Hermínio Monteiro e Mário Cesariny. Nascido em 1952 em Trás-os-Montes, nas fraldas do Marão, no distrito de Vila Real, Manuel Hermínio veio para Lisboa acabar os estudos, onde se manteve até à revolução, depois da qual foi cumprir o serviço militar. Não custava muito nessa época servir um exército que se indisciplinara ao ponto de ter esquecido a ciência de matar. Dum dia para outro, toda a juventude que lia as cartilhas da revolta como outrora Hölderlin lera os versos de Schiller quis envergar a farda ainda há pouco tão odiada. Benditas épocas em que experimentar a caserna se torna a mais sedutora forma de deserção! Formidáveis instantes em que os fuzis são de pau e rebentam em flor! Afortunado o rei louco que esquece o nome do seu país! Hermínio saiu no fim da festa, quando os sensatos acharam que nas fileiras dum exército só podiam marchar fantoches e mártires e as armas tinham de voltar a ser de ferro. Não se sentiu então capaz de deixar Lisboa e de regressar à casa dos pais, em Parada de Pinhão. Entrou como vendedor para uma editora, a Assírio & Alvim, quase em autogestão e chamou Manuel Rosa, que estudara escultura nas Belas-Artes e acabara também de deixar a tropa. A pequena editora ficava numa rua discreta e apagada, a Rua Passos Manuel, no Bairro de Dona Estefânia, que é o mais neutro e ordeiro dos bairros que há em Lisboa! Fora fundada pouco antes da revolução, não dava dinheiro nem prestígio mas tinha um arsenal de fogo nada desprezível. Trabalhava pela revolução com idêntica paixão de quem cuida dum jardim. As flores não fazem caldo nem enchem a barriga mas encantam o olho e perfumam a alma.
Além da astúcia dum pastor, Hermínio tinha os arranques poéticos dum trota mundos. Tornou-se assíduo da poesia surrealista e escreveu versos. Qui-los mostrar a Cesariny, que era então a estrela viva do surrealismo em Portugal. Encantou-se este de ver um jovem assim tão sólido fazer poemas ao modo dos surrealistas de 1947. Logo combinaram um primeiro trabalho para a editora – a reunião dos materiais pictóricos e poéticos de António Maria Lisboa, para sair no cinquentenário do poeta. A editora muito dividida entre os que queriam editar só política e os outros que se batiam por uma renovação aceitou sem grandes questões a chegada de António Maria Lisboa. Estavam passados apenas alguns meses sobre a revolução mas era como se várias décadas houvessem soterrado os seus episódios, tão vagos e tão esquecidos já como as florestas de Merlim. O livro político nem dado se aceitava; era pois urgente para uma pequena editora como esta descobrir um sucedâneo para a política. A poesia serviu bem. Os tempos estavam para o Grémio Literário e para os criados de libré. Ora um poeta como António Maria Lisboa tinha tudo a favor. Morrera jovem e amado pelos deuses. Batera-se contra as teocracias poéticas do tempo, declarara a sua absoluta fidelidade a um compromisso ético com a Liberdade, o Amor, a Poesia e o Conhecimento e prometera “gritar da janela até que a vizinha ponha as mamas de fora”. Um poeta assim, para mais sem editor, só podia ser bem-vindo à casa de quem acabara de perder uma revolução como quem perde uma grossa soma no tapete da roleta. O que fica é sempre uma ponta de raiva e de nostalgia! No momento em que a editora passava a cooperativa, deixando de ser o círculo militante em que se tornara com a queda do Estado Novo e a fuga do mecenas para o Brasil, surgia a mais completa edição da obra de António Maria Lisboa, mais de 400 páginas em letra miúda, que foram um sobressalto de festa para o paladar da garotada da época habituada aos enxundiosos pastelões do Campo Grande e assinalaram uma viragem na editora e uma nova fase na sua vida, em que o homem de Parada de Pinhão, até aí um mero vendedor, ganhou pontos a favor.
Cesariny acabara nessa época de fazer contrato com Snu Abecassis, das Publicações Dom Quixote, para editar Titânia e a cidade Queimada, esta em reedição e aquela em estreia, que saiu no final de 1977. Nessa mesma época preparou o volume do poeta de Erro próprio que a Assírio & Alvim editou no momento em que o poeta faria meio século de vida. Ainda fez contrato com as Publicações Dom Quixote para a tradução dos poemas de Breyten Breytenbach, o poeta africânder que ele conhecera no Festival de Roterdão em 1974 e que no ano seguinte fora condenado na África do Sul a nove anos de cadeia. Este conjunto, Enquanto houver água na água, só saiu em Outubro de 1979 – a data do prefácio é porém de Setembro do ano anterior. A partir desse momento o poeta ficou livre, desocupado, de mãos nos bolsos e cigarro na boca, pronto para os cafés, como sempre estivera. Não tardou a ter um convite de Manuel Hermínio para voltar a publicar na editora, desta vez obra sua. Eu ainda conheci este transmontano. Além de pastor e poeta, era um temível negociante. Ficaram nos anais míticos da editora as primeiras vendas que realizou quando para lá entrou como mero vendedor. Para fazer negócios, o som da sua voz comovia mais que Liszt e Berlioz. Tinha um instrumento divino que encantava qualquer ouvido. Nas suas cordas vocais havia os portugueses que mercaram nos mares da China e a gente que ia de lugar em lugar a montar tenda de feira. Sabia contar os tostões que guardava no bolso das calças mas o seu jeito não residia aí. A sua força estava no grão de voz, que inspirava uma confiança sem limite. Quando punha a tocar o violino, ninguém lhe recusava um pedido; até acontecia receber a dobrar o que pedia e gratificado ainda por um sorriso. Eram assim os prodígios que este canto embalava.
Achou-se bem na editora que Cesariny entrasse para a casa como autor. Também ele era um poeta com tudo a favor. Dera um monumental grito no meio da Pastelaria, “Gerente, este leite está azedo!”, que ainda então se ouvia. Era um grito capaz de vingar uma revolução perdida. Demais, havia ainda o seu erotismo tão perigoso como uma guerra de vida ou de morte. Começou assim a história da sua edição na editora, que se tornou a sua casa para sempre. Duas décadas depois, recordo-me de lhe ouvir dizer, com o ar humilde de quem faz uma revelação em causa própria, que o Manuel Hermínio Monteiro o fora buscar à valeta da rua e lhe dera um tecto. Até aí tinha-se por um sem-abrigo da poesia, um poeta sem poiso certo, que andava aos caídos, sem saber o que fazer da obra, que entregava sem rumo por aqui e por ali. O seu editor, aquele que o salvou da sarjeta foi este Manuel Hermínio que lhe surgiu à esquina duma revolução para lhe dar um palco e um camarim.
Pôde assim pensar reorganizar os seus poemas e os seus livros, dando lugar a edições mais ou menos definitivas do que vinha escrevendo desde a primeira metade da década de 40. O primeiro volume que entregou para publicação foi Primavera autónoma das estradas, que saiu em Junho de 1980. Não era um livro novo mas também não era um livro conhecido. Foi por certo pensado em função dos outros que organizou na sua sequência, Manual de Prestidigitação (1981) e Pena capital (1982). Quis com esse primeiro livro mostrar a sua fidelidade ao automatismo psíquico – e daí o título que lhe encontrou. Reúne nele o automatismo que andava disperso por vários pontos – revistas, colectâneas, livros de ocasião que desejava desfazer, como 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão… –, a que juntou ainda alguns inéditos. Deste vasto conspecto de mais de 200 páginas, paga a pena assinalar os primeiros conjuntos escritos em Paris no Verão de 1947 – as colagens verbais de “Encontrado perdido” e as homenagens de “Les hommages excessives”, inéditas aquelas e publicadas estas numa revista inglesa (Transformaction, n.º 6, 1973) – e que foram dadas neste livro a ler pela primeira vez em Portugal. O leitor já conhece o papel destes textos na criação do autor. Foi neles que experimentou pela primeira vez e de forma consciente os processos do automatismo. Assinalem-se também os poemas lidos na noite da abertura da I Exposição dos Surrealistas – “O teatro da crueldade” de Antonin Artaud, “Auto-coroação” de Victor Brauner e “A Antonin Artaud” de André Breton, os três em tradução de Cesariny – e que haviam conhecido uma primeira edição na colectânea A intervenção surrealista (1966). Note-se ainda a republicação da coluna que ele tivera com Manuel de Lima no Jornal de Letras e Artes antes da segunda partida para Londres, “Consultório do Dr. Pena e Dr. Pluma” – e que por pouca sorte desapareceu da edição da sua obra poética reunida, Poesia (2017). Também os poemas surgidos na Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica de Natália Correia e que levaram o seu autor à barra do tribunal plenário da Boa Hora merecem destaque. Refiram-se por fim alguns dos inéditos que aqui foram dados a conhecer pela primeira vez no livro, como “Carta da guerra de África (1975), “Antero (1975) ou “Dádivas para..”, que mostram a energia poética selvagem que havia neste poeta. Cada um desses poemas é um diamante em estado bruto, a partir do qual ele podia ter polido uma jóia em forma de livro. Recusou sempre, escrever poemas sem ser por acidente. Era um desses seres incapazes de viver na ordem e na monotonia. Detestava o poeta funcionário, sempre sentado à mesa do escritório, a catar as palavras por obrigação. Para escrever, precisava duma tensão, duma energia estática entre duas polaridades, a que se seguia um transe que tinha o valor duma descarga. O seu processo de escrita lembra a formação duma tempestade. O poema era nele um relâmpago e um trovão, estampido e faísca, nunca o artesanato inofensivo de palavras; servia-se da caneta não como uma agulha de tricotar mas como um pára-raios. Quando o poema lhe chegava, aquilo era uma fábrica de relâmpagos a estrelar por todo o lado e um laboratório de trovões a abrir rachas nas paredes e no tecto.
As colectâneas que se lhe seguiram, Manual de Prestidigitação e Pena capital, só no título recuperaram os letreiros já conhecidos. O primeiro fora publicado em 1956 e o segundo em 1957, na chancela Contraponto, de Luiz Pacheco. Os livros agora publicados nada tiveram a ver com esses primeiros volumes. São compilações poéticas mais gerais, onde agrupou vários livros, puxando um deles para título principal, talvez pelo valor meridiano que lhe atribuía. Manual de Prestidigitação passou assim a ser uma colectânea com vários livros – “Burlescas, teóricas e sentimentais”, “Visualizações”, “Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano”, “Alguns mitos maiores…” e “Manual de Prestidigitação”. São todos livros das décadas de 40 e 50. Em relação às edições anteriores as alterações são de pormenor, quase insignificantes e tocam sobretudo a pontuação, que tende a desaparecer, o uso de maiúsculas, que segue a mesma tendência, ou ainda alterações de título, como o conjunto “Visualizações”, que surge pela primeira vez com esse título, mas cujos poemas vêm do passado – chamaram-se na antologia de 1972, “Loas a um rio”.
Há porém alterações com significado, como o desaparecimento de dois poemas em “Alguns mitos maiores…”, “O Berlinde de Berg” e “A Estrela”, mais tarde recolhidos na cortina final de Poesia (2017) e o surgimento dum novo, “O artesão”. Outra alteração de fundo a apontar é a transformação de “Políptica Maria Klopas, dita mãe dos homens”, aliás agora “maria klophas”, em poema dramático, com a introdução de longas didascálias, todas com indicações musicais (Poulenc, Mozart, Strauss, Bach, Satie, Falla, Mendelssohn …). Este conjunto, dos primeiros que o poeta escreveu – é anterior aos poemas assumidamente neo-realistas de 1945-46 mas tem afinidade com eles –, só foi dado a conhecer em 1961, em Poesia, e teve reedição na antologia de 1972, onde aparece refeito e reorganizado. Ainda assim um dos poemas de 1972, “Não”, desapareceu na edição da Assírio & Alvim para dar lugar a um novo poema, “Visão”. O meu biografado chegou a afirmar por várias vezes que poema passado a escrito era poema em que não mexia. Embora pudesse ajustar pormenores, e até fazer alterações de fundo, como aconteceu na “Ode a Maria Helena Vieira da Silva”, ele mexia menos nos poemas que nos livros. Nestes podia retirar poemas inteiros, que desapareciam de vez, para sempre, como o “Não” de “Políptica” – também não chegou a integrar o volume póstumo da poesia reunida em 2017 –, e metia novos, ou que vinham do passado e continuavam inéditos, e é o mais provável para um poeta da sua natureza, ou eram compostos no momento das reedições para reajustar o conjunto à intenção inicial, o que é menos provável mas ainda assim possível.
Pena capital, na nova edição do início da década de 80, passou a agrupar os conjuntos: “Pena capital”, “Estado Segundo”, “Planisfério” e “Poemas de Londres”. “Estado Segundo” não é livro inédito. Fora dado a conhecer pela primeira vez na colectânea de 1961 – e com o mesmo nome. Alguns dos poemas que o integravam – assim permaneceram na edição de 1982 – vinham da versão original de Pena capital. É o caso de alguns dos fragmentos do poema “Pequeno diário de um piloto de guerra”, dedicado a Antoine de Saint-Éxupery, que passaram a integrar “Estado segundo”, deixando de integrar “Pena capital”, que logo na edição de 1961 perdeu esse poema, não mais o voltando a recuperar, o que prova que partes dos dois conjuntos foram compostas na mesma época – a do início da década de 50, embora alguns poemas de Pena capital (1957), datem ainda do final da década de 40, segundo informação da antologia de 1972. Os quatro conjuntos da nova colectânea – “Pena capital”, “Estado Segundo”, “Planisfério”, “Poemas de Londres” – foram editados segundo os mesmos princípios do volume anterior. Existem alterações de pormenor, em geral de pontuação e de maiúsculas, e podem desaparecer poemas – é o caso de “Passagem de Cruzeiro Seixas em África” do livro “Planisfério”, livro que encurtou o título – e até surgirem novos, como “estação” e “poema”, os dois em “Pena capital”, mas sem que nada disso implique a reelaboração de fundo dos livros já conhecidos. Apontem-se por fim alguns inéditos que aqui foram dados a conhecer pela primeira vez – e que crescerão nas duas edições ulteriores do livro, em 1999 e 2004. Poemas como “o regresso de Ulisses” e “um poema transmitido por Frank Mitchel”, este a fazer lembrar o “Canto da criação dos índios Koguis” que restituíra em 1968, estão ao mesmo nível dos melhores inéditos dados a conhecer no volume de 1981 e mostram como Cesariny teria dado surpreendentes livros de poesia nestas últimas décadas de vida – fez 60 anos em 1983 – caso se servisse da caneta como de agulha de tricotar. Ele não pertencia porém ao grupo dos poetas que trabalha como uma dona de casa e não pretendia fazer com metódica certeza uma obra com mangas e gola. Pertencia antes ao grupo daqueles imprevidentes que vêm nus para a rua celebrar a chuva e o Sol, quando acontece haver chuva e Sol e eles darem por isso.
Estas três grandes colectâneas sinalizaram a arrumação possível duma obra desmedida e sem fronteiras, que brotara sem método e sem disciplina, ao sabor das trovoadas inesperadas, nessa fábrica de relâmpagos que foi a descarnada cabeça do poeta. Os três – cada um na ordem das centenas de páginas – fixaram ainda a Assírio & Alvim como a sua chancela. Recebido na editora como um príncipe que a revolução trouxera, ele passou a ser o primeiro autor da casa – mesmo Herberto Helder, que publicou o primeiro livro na editora da Rua Passos Manuel em 1979, Photomaton & Vox, não tinha a sua aura de grande maldito nem o seu estatuto de lenda viva. Vinha de tarde à editora, sentava-se nas traseiras da livraria, ou subia aos andares de cima, conversava e lia em voz alta, rodeado sempre por um pequeno círculo de ouvintes que faziam a vez duma corte atenta e reverente. Às vezes subia ao último andar do prédio para trabalhar nas provas dos livros e debater as capas, as ilustrações e o grafismo. Manuel Hermínio levava-o também a tratar de assuntos que o embaraçavam – Bilhete de Identidade, Passaporte, conta do banco e outros do género – e que o editor era exímio em desatar. Mais tarde, chegou a levá-lo e por variadas vezes no seu carro a Trás-os-Montes, à casa paterna, atravessando numa correria grande parte do país. Embora nestes primeiros anos os direitos fossem muito escassos, os editores nem salário tinham e o trabalho era muitas vezes benévolo – o desafogo só chegou depois, em 1986, com a edição das crónicas de Miguel Esteves Cardoso –, Cesariny encontrou na editora um acolhimento e uma ajuda que nunca conhecera nem doutra forma podia ter, ele que vivia com uma irmã mais velha quase 10 anos e não tinha filhos. Em 1983, a casa da Rua Passos Manuel, e não mais haveria outra, publicou-lhe a pesquisa na literatura subterrânea dos folhetos de cordel, essa pedra preciosa arrancada às entranhas da terra e ainda suja de lama que é Horta de literatura de cordel. E em Dezembro do ano seguinte dava-lhe a lume o Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista, cujos labirínticos e intermináveis corredores o leitor já visitou com alguma demora. Em Setembro de 1985, chegou a segunda edição de As mãos na água…, edição mais completa do que a primeira – esta tem 194 páginas contra as 330 da segunda – que se tornou a edição definitiva do livro, onde o autor recolheu a sua altíssima e soberana intervenção crítica – desafortunadamente apenas em parte, já que muita outra ficou dispersa, ou porque não transitou da primeira edição para a segunda, como aconteceu ao prologo que deu em 1952 à estreia poética de Carlos Eurico da Costa, ou porque não a tinha à mão, e só assim se justifica a falta de textos como “O México e a Máscara – reflexão em torno das máscaras mexicanas da colecção do eng. Victor José Moya”, ou ainda porque, tendo-a, a achou desprezível, e foi por certo esse o caso das notas que publicou no Jornal de Letras e Artes em 1968 sobre os livrinhos dos três Antónios – Porto-Além, Lino Portugal, Barahona da Fonseca.
Fosse como fosse, Manuel Hermínio Monteiro não era plantígrado que se satisfizesse com um negócio de trabalho benévolo. Abordou Cesariny, ainda no ano de 1976, ou na transição para 1977, para lhe mostrar os seus poemas – um deles de homenagem a António Maria Lisboa, datado de 25-11-1976. Veio então a ocasião de se acertar a edição da obra do autor de Erro próprio, que saiu no cinquentenário do seu nascimento. Não foi um prodígio de vendas – nada comparável ao livrinho de Diniz Machado da mesma época, O que diz Molero (1977) – mas chegou para as despesas. Teve campanha publicitária forte com a publicação dum desdobrável em formato de jornal dedicado à figura de António Maria Lisboa e que foi distribuído gratuitamente. Vieram de seguida, entre 1980 e 1985, as cinco obras da autoria de Cesariny atrás referidas e que não enchendo os cofres da editora também não os deixaram mais pobres. Sem serem sucessos de livraria, como depois foram as crónicas de Esteves Cardoso, eram livros que iam saindo. Junte-se-lhes ainda uma tradução de Artaud, Heliogabalo ou o anarquista coroado (1982), com reedição em 1991. O tijolo de António Maria Lisboa atraiu poetas afins, como Herberto Helder, vindo do Café Gelo e colaborador da Antologia surrealista do Cadáver Esquisito, que contribuíram para a consolidação da editora da Rua Passos Manuel como a referência na edição de poesia em Portugal. No ano do centenário do nascimento de Fernando Pessoa, a edição dum número especial do boletim da editora A Phala, que retomara o título de Sergio Lima, nunca legalizado, marcou a consagração da editora como a chancela da edição poética em Portugal – foi no final do lançamento deste volume, na Mãe de Água de Lisboa, no Outono de 1989, que falei pela primeira vez com Cesariny. O prestígio da Assírio & Alvim na edição de poesia era só comparável ao que tivera a chancela de Luís de Montalvor, responsável na década de 40 pela edição da obra poética de Fernando Pessoa, de quem Manuel Hermínio compraria mais tarde os direitos, tornando-se o herdeiro directo da velha Ática.
Um vida assim toda voltada para a edição literária, com uma estratégia de mercado agressiva, tinha por força de ser um destino chique e mundano, com muito beberete e recepção privada de jornalistas. Era impossível que um tal modo de vida aguentasse coeso o grupo que corporizara em 1978 a cooperativa da Rua Passos Manuel. Uma parcela viu na nova estratégia a única forma de sobrevivência da casa mas outra ficou ferozmente crítica e contra. A coabitação das duas facções só aguentou até ao ano de 1988, em que a parte adversa, nostálgica do livro de combate político que fizera a sua glória nos dias da revolução, saiu, recebendo indemnização e deixando o caminho livre ao livro feito para granjear prestígio e aceitação nos meios mundanos. A esquerda caviar é uma mistura pletórica de extravagância e pompa, a que é preciso somar um ponto decisivo de sedução. Nem sempre gera seres tão interessantes ou mesmo geniais como Garrett, que muito antes da anti-moda subia o Chiado de sapatos amarelos envernizados, mas nunca falha no sucesso.
Manuel Hermínio sabia que um livro novo de poesia de Mário Cesariny venderia sempre mais do que aquelas colectâneas com títulos batidos e que faziam a vez de gavetas novas que serviam para arrumar o velho. Dessas primeiras edições, a única que constituía um livro novo, nunca visto nem editado, era o dedicado a Vieira e a Arpad. Lançado numa galeria luxuosa, com edições especiais, acompanhadas de serigrafias dos dois pintores, o tomo garantiu a novidade como compensadora. Insistiu pois o editor para que o poeta lhe desse um volume inédito de poemas. Este poeta não era de dar livros nem poemas – estava nos antípodas da máquina poética, pronta para fabricar prosa e verso na linha de montagem. Não tinha dentro nem bielas nem manivelas. Era um caso raro e muito incómodo para um editor. Só dava poemas quando lhos davam a ele. Dar poemas não dependia de si nem da sua vontade mas da pequena vespa poética, do pequeno demónio hermafrodita que lhe vinha zumbir aos ouvidos. Deu-se porém o caso nesta época de germinar a voz da musa. Não desenganou de todo o editor e ficou à espera da trovoada, que descarregou em Junho de 1987 e durou até Setembro do ano seguinte, altura em que se pensou na sua edição em livro, que surgiu no final do Inverno de 1989. Com longo título, O virgem negra – Fernando Pessoa explicado às criancinhas naturais & estrangeiras por M.C.V. who knows enough about it seguido de Louvor e desratização de Álvaro de Campos pelo mesmo no mesmo lugar. Com 2 cartas de Raul Leal (Henoch) ao heterónomo; e a Gravura da Universidade. Escrito & Compilado de Jun. 1987 a Set. 1988, foi na segunda edição, em 1996, encurtado para O virgem negra – Fernando Pessoa explicado às criancinhas naturais e estrangeiras por M.C.V., assim ficando. Já um ano antes, o livro surgia anunciado no jornal O Independente (20-5-1988) com título distinto – era então, Fernando Pessoa explicado às criancinhas naturais e estrangeiras por M.C.V., who knows enough about it, seguido de Horror e Desratização de Álvaro de Campos, pelo mesmo, no mesmo lugar – e dele se dava a conhecer um dos poemas do livro, “O ciclo do império”, uma glosa do poema pessoano “O menino da sua mãe”, numa versão que ainda conheceu depois pequenos retoques, acabando no livro por perder o título.
Para se entender este livro é preciso algum trabalho de arqueologia. A mais valiosa peça do processo salta à luz do dia sem ser necessário escavar muito. É uma bonita medalha que se encontra no segundo capítulo do livro de 1984, Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista, que o leitor conhece bem. Fala-se aí da vitória do modernismo – do modo como calou tudo o que estava antes e da forma como manobrou a vida da década de 30, com excepção de Vieira e de Arpad, até desaguar no espavento da Exposição do Mundo Português, com o “Padrão dos Descobrimentos”, de Cottinelli Telmo e Leopoldo de Almeida, que personificava o horror dos horrores. Fernando Pessoa não podia faltar à festa. Morreu no meridiano da década, publicou pouco antes de partir Mensagem, que Ferro e Salazar leram rendidos e viu-se consagrado pela revista do modernismo, Presença. Quem era Fernando Pessoa para o autor que fechou o livro sobre Vieira e Arpad? Um clássico, fruto do mundo greco-romano, e logo alguém que lhe interessava pouco.
O meu biografado era o que o leitor já sabe. Seguia os Tarahumaras, cultuava Teotihuacan, detestava a Renascença e o moderno, interessava-se pelos folhetos de cordel e pela cultura de raiz oral. Ele que compunha o poema sem recurso à caneta e subscrevia decerto a frase levistraussiana: A função primária da comunicação escrita é facilitar a escravatura; a luta contra o analfabetismo confunde-se assim com o reforço do controle dos cidadãos por parte do poder, já que todos devem saber ler para que ninguém se possa desculpar de não conhecer a lei. Tinha nostalgia dos pequenos gnomos das florestas primitivas a que chamava as Naniôras, dos filtros do amor, das festas dos loucos, das confrarias mágicas. A sua cidade era a dos subterrâneos, a dos doidos, nunca a dos arquitectos funcionais, a da gente de bem que vivia à superfície, nas avenidas rectilíneas do mundo moderno, escravizada ao relógio e ao trabalho e olvidada dos seus poderes criativos. Reconhecia o ingente talento literário de Pessoa mas via na sua obra, até pelo modo, a sequência última do Ocidente – nunca um corte com ele, que era o que lhe convinha. A situação do autor de Mensagem coincidia com a do modernismo português. Com o poderoso foco da sua luz urbana de alta voltagem ocultara um clarão discreto e bruxuleante chamado Teixeira de Pascoaes. Na contra-historiografia do surrealismo português, em 1973, não hesitara em ser heresiarca: “Teixeira de Pascoaes, poeta bem mais importante, quanto a nós, do que Fernando Pessoa”. Uma década depois, no livro sobre o castelo surrealista da Grande Maga, voltou ao autor de Mensagem, desta vez para gozar o seu tanto e ver o ortónimo como transfert – a “Mademoiselle Pascoaes” activa em Lisboa. Daqui até ao explicativo do “Fernando Pessoa às criancinhas” e da “desratização de Álvaro de Campos” de muito maior pagode foi um palmo que ele transpôs a pé enxuto em 1986, com as celebrações do cinquentenário da partida do poeta – o pessoanismo oficial de Estado e a banalização desenfreada da sua imagem. Foi nesse momento que os seus restos mortais foram postos nos Jerónimos com honras de Estado e o comércio arrancou na exploração da sua caricatura em postais, loiças e roupas.
Seria porém um erro de observação ver o livro publicado em 1989 como uma simples reacção ao pessoanismo. No momento em que as solenidades retomavam em força, desta vez para celebrar o centenário do nascimento do poeta, afirmava ele em entrevista (Semanário, 4-6-1988): Em Portugal desde o século XII que há grandes poetas; o que é muito esquisito é que parece que isso não existe. Só há o Pessoa. O que isto quererá dizer? É muito estranho. É uma febre em que eu não acredito. Há aqui uma aldrabice qualquer que me faz muito medo. (…) Lá nas Franças devem achar que a língua portuguesa começou com Fernando Pessoa. Fala-se desta “febre fernandina” que para mim é muito suspeita. (…) É uma espécie de emprego público, já que dá bolsas, viagens, congressos. Aqui era a febre pessoana que estava em causa, não o poeta e a sua poesia. Mas um ano depois, em nova entrevista, tomou desta forma o poeta (A Capital, 19-8-1989): Estamos todos enganados em Pessoa: o país, Portugal, a Europa, a CEE (…). É mas é tudo uma chatice, uma papinha doce… A problemática do Pessoa é aldrabice da mais chilra, filosofia de instrução primária. Ele arranjou umas antinomias que não funcionam. O “ser tu sendo eu” não há, não é problema para ninguém (…). Pascoaes é o maior poeta português vivo entre os recentes. Aquilo que aqui interessava já não era o ruído em volta do criador, o pessoanismo dos colóquios e das bolsas, o emprego, a febre comemorativa, a obscenidade da exploração comercial, a caricatura, mas Pessoa no miolo mais genuíno da sua experiência e expressão. O desfavor no contraponto com Pascoaes que vinha da década de 70 podia pois estar de regresso. Meses depois, noutra entrevista (J.L., 20-2-1990), confirmou o juízo dizendo que o ruído moderno de Orpheu calara a voz universal de Pascoaes. Sempre mantivera de resto a distância para com Fernando Pessoa. O seu poeta de identificação na década de 40 era Sá-Carneiro – o que se “recusou a beber o pátrio mijo”, o “poeta-gato-branco à janela de muitos prédios altos”, a quem fizera a mais subida vénia no Louvor e simplificação…, aqui, no livro de 1989, clarificado de vez e sem engano como “louvor e desratização”. Na década seguinte, já sem prédios, com mesas de Café, descobriu Raul Leal e fez dele outra figura muito sua. O modo de vida e os escândalos de Leal eram muito mais seus do que a vida banal de Fernando Pessoa – empregado de escritório. Mais tarde, já na década de 60, chegou Pascoaes que acabou por ser a mais forte figura poética de identificação do Cesariny final.
Mas porquê a preferência por Pascoaes? Com certeza por essa luz oleosa e tosca que resultava da combustão dum mero pavio de estopa mergulhado em azeite. Em lugar do elogio das máquinas e da vida moderna, em vez do êxtase diante do urbanismo do século XX, Pascoaes comovera-se com a aldeia, com a montanha, com o céu, com os tolos, com os jericos, com os lobos, com as serras, com as pedras. Era um vadio das aldeias, um aluado, um bruxo, que estava fora da História. Fazia parte da anti-história, da anti-cidade. Era um medieval, um primitivo, um velho da montanha em que não havia resto nenhum de folclore. Era o anti-moderno, o anti-retórico, o anti-intelectual – o índio branco que não saíra das florestas da imaginação, o selvagem que continuava por civilizar, o dissidente indomado que ficara à margem. Era o analfabeto, o “pobre tolo” que se via a falar por uivos e grunhidos, o pé descalço que ficara nos recessos da montanha, irmão de todos os refractários à lógica da modernização. Homem pré-histórico, não se preocupava em fabricar obras de arte mas em dar aos sinais forma mágica. A sua língua não fora medida, não tivera régua, não fora aparada por qualquer tesoura; era uma língua hirsuta e sem pente. Nenhuma gramática a disciplinara, nenhuma escola a esfriara. Era uma língua solta, escaldante, febril, que vinha das origens da cultura e vivia do contacto com as fontes abissais. Para ele, a poesia não pertencia à literatura – tinha um interesse vital. Era irmã das flores, das estrelas, dos bichos e das pedras. O autor de Pena capital viu assim diante de si, vivas e esplendentes, todas as forças que o magnetizaram no momento em que dera adesão aos povos arcaicos, anteriores à formação do mundo moderno. Viu em Pascoaes aquilo que nunca pensara possível na poesia portuguesa do século XX – a via primitivista, em que a arte deixava de ser vista à luz dos valores clássicos para passar a ser tomada como um momento do metabolismo cósmico. Surrealista sem para nada precisar do surrealismo de André Breton, Pascoaes passou assim a ser o trilho onde por força a poesia do futuro tinha de seguir. Em lugar da via rápida ou do comboio de alta velocidade que Pessoa quisera construir com betão e aço na esteira de Antero e de Cesário, Cesariny preocupou-se em encontrar uma senda onde só à pata fosse possível avançar. Não entrava nela nem automóvel nem locomotiva. Foi o primeiro a desinteressar-se pelas estradas construídas pelos modernos. Essa senda pedestre descobriu-a ele na montanha de Pascoaes e deslumbrou-se com ela. Não mais se quis fora dela e tudo o que pretendeu como poeta foi dar-lhe seguimento, aprofundá-la um pouco mais e deixá-la em aberto para outros mais tarde prosseguirem.
A relação de Cesariny com Pascoaes era porém antiga e não datava da década de 70, embora tenha sido nesta ou no final da anterior que se deu conta do alcance da experiência do poeta do Marão, contrapondo-a às Pessoa e Almada, nas quais viu os limites da racionalidade ocidental. Na entrevista atrás citada leu o caso destes dois assim (idem, 20-2-1990): Pessoa e Almada instauraram o internacionalismo culto para grandes senhores da grande metrópole, que nunca tivemos em Portugal, nem consta que venhamos a ter. Nem faz falta. Desde a juventude que tinha o olho em Pascoaes. Quando subiu ao Porto no final do Inverno de 1950 – altura em que combinou a palestra de António Maria Lisboa no Clube dos Fenianos, a 30 de Março e o recebeu na noite do dia 29 no grande casarão da gare de S. Bento – tinha apenas 26 anos. Por intermédio de Eugénio de Andrade, conheceu Eduardo de Oliveira, irmão de Ernesto Veiga de Oliveira e filho do médico Vasco Nogueira de Oliveira, que o recebeu na casa da Barca do Lago, ao pé de Esposende, onde viveu a paixão que o leitor conhece por Carlos Eurico, uma das mais intensas e dolorosas da sua vida. Eduardo de Oliveira – 16 anos mais velho que o poeta de Corpo visível – conhecia Teixeira de Pascoaes desde 1922 e era conviva da sua velha casa em São João de Gatão. Soube nessa altura da comunicação que o poeta fazia no domingo 19 de Março, em Amarante, no Teatro da vila, sobre Guerra Junqueiro, cujo centenário passava, e convidou os seus dois jovens amigos, Eugénio de Andrade e Cesariny, a subirem à vila do Tâmega. Nesse domingo viu e ouviu durante cerca duma hora Teixeira de Pascoaes, que no fim lhe deu assinado e dedicado – “Ao meu querido confrade…” – o opúsculo Guerra Junqueiro. Passou o resto do dia entre vinhas e dólmenes, na casa de São João de Gatão, onde almoçou e jantou na companhia da nonagenária mãe do poeta. Registou os sucessos do dia numa carta a Cruzeiro Seixas (22-3-1950; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 69): Domingo último estivemos, com o Eugénio e outros talvez menos poetas mas basto mais virilmente bonitos, em casa do Teixeira de Pascoaes, no Marão. Almoçámos e jantámos lá e no intervalo ouvimos uma notável conferência dele. Feita no teatro de Amarante, na tarde do mesmo dia. Pormenor indispensável: os bombeiros de Amarante são lindíssimos. Quanto ao Pascoaes, é um caso de grandeza que o faz sair desta terra para atingir sem dificuldade o “espaço finito mas ilimitado”, como ele diz.
Não fica dúvida que a adesão de Cesariny a Pascoaes era já muito forte – e nem sequer ainda se estreara como poeta em livro. O que dele lera – conforme me confessou no seu quarto da Rua Basílio Teles no dia 26-12-1997 – resumia-se ao poema Regresso ao Paraíso, que decerto Eduardo de Oliveira lhe passara, livro que depois deu a António Maria Lisboa, que lho agradeceu por carta, juntando que “Teixeira de Pascoaes é personalidade que me é grata e que bastante admiro” (Poesia de António Maria Lisboa, 1978: 265). Pascoaes tinha no final da década de 40 recepção generosa entre os jovens que fizeram a exposição surrealista da Rua Augusto Rosa. Um poeta que usava a fralda da camisa fora da calça, que andava em tamancos de pau nos campos, que se fazia acompanhar por uma menina de oito anos por todo o lado e que aguarelava anjos que pareciam demónios, não podia senão ser levado ao colo pelos que liam André Breton. Durante anos a única referência que se encontra em Cesariny a Pascoaes é sempre relativa ao grande poema cosmogónico de 1912. Assim sucede no prefácio que escreveu em 1954 para a edição portuguesa de Rimbaud que Luiz Pacheco planeara para o centenário do francês e que acabou abandonada por falta de moeda. Citou versos do poema nas epígrafes e retomou-o no miolo do texto. Entretanto na mesma década, num poema publicado no jornal O Volante, de que foi redactor entre 1955 e 1958, “Cantiga por S. João” (15-8-1957), existe uma quadra que diz assim: “S. João, João, João,/ de Pascoaes para Amarante,/ fazias um figurão/ fardadinho de Almirante!” Repica mas basta para se perceber como Pascoaes, na qualidade de lugar do concelho da vila de São Gonçalo, freguesia de São João de Gatão, persistiu no seu imaginário – a cantiga foi publicado na edição de 1982 do Manual de Prestidigitação com o título “Cantiga de S. João” e com a quadra mudada para “S. João João João/ de corpete e de penante/ fazias um figurão/ fardadinho de Almirante”. O meu biografado era demasiado anti-épico para desprezar o assento da quadra popular, na qual via uma forma genuína e vernácula de erotismo, embora já com a regra do número e a medida do calendário.
Foi preciso esperar pelo final da década de 60 para a situação se alterar e Cesariny regressar ao lugar de Pascoaes, desta vez com mais demora, e mostrar um conhecimento muito mais largo da obra do poeta. Este falecera em Dezembro de 1952 e a sua casa fora herdada por João Vasconcelos, seu sobrinho, que logo em Março de 1953, casou com Maria Amélia Sampaio e Castro. O casal instalou-se na casa e aí teve os seus quatro filhos entre 1955 e 1965. Cesariny conheceu João de Vasconcelos na segunda metade da década de 60, através de João Pinto de Figueiredo, que desde o início da década frequentava a casa de Pascoaes e conhecera em Lisboa o poeta de Pena capital, a quem ajudou em 1966 com as ilustrações da colectânea A intervenção surrealista. Outro que muito pôs para o reatar das relações de Cesariny com a Casa de Pascoaes foi António Pinheiro Guimarães, amigo de João Vasconcelos, cliente no Porto da galeria Alvarez, de Jaime Isidoro, frequentada por João Vasconcelos, que aí chegou a ter lições de pintura e aí fez a sua primeira exposição em 1964. O regresso de Cesariny à casa de Pascoaes aconteceu por intermédio de António Pinheiro Guimarães mas com alusão também a João Pinto de Figueiredo (Cartas para a Casa de P., 2012: 25). Foi Pinheiro Guimarães que o levou para Pascoaes, a partir do Porto, viagem combinada no início de Março de 1968 e que se realizou no final do mês. Este António Pinheiro Guimarães é um dos aqueles seres que merecem algumas linhas. Nasceu no Porto em 1922, publicou muita poesia em edição de autor, teve ex-líbris desenhado por D’ Assumpção em 1959 e chegou a colaborar no segundo número da revista Pirâmide (Junho, 1959). Tinha uma deformidade física e era um grande coleccionador de pintura – daí a sua ligação à galeria Alvarez e a D’ Assumpção. Foi dos primeiros a comprar pintura ao efabulador de Titânia, o que aconteceu nesta recuada época em que ninguém se interessava ainda pelos seus borrões cromáticos, ficando alguma dela à guarda de João Vasconcelos, em Pascoaes. Não era um predador carnívoro mas Eros gentil, disfarçado de monstro. Eduardo de Oliveira, que levou pela primeira vez Cesariny a Gatão, devia ter idêntica natureza. Também ele merecia uma palavra mais demorada. Foi figura que marcou uma época no Porto e chegou a apaixonar-se pelo rapazinho da Rua Basílio Teles, que pouco troco lhe deu, enfeitiçado que andava com Carlos Eurico (carta, 22-3-1950, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 69) – paixão que o fez sofrer tanto que teve de fazer uma catarse de raiva num poema de Pena capital, “Do capítulo da devolução”, que só mais tarde, na edição final de 2004, dedicou “a Carlos Eurico”.
Conhece-se carta de Cesariny a Vieira da Silva escrita e datada da Casa de Pascoaes no momento da sua estadia (23-3-1968). Confessou nela ter as condições ideais para retomar o livro sobre a Maga, no qual lhe era difícil trabalhar em Lisboa – era o período em que assumira responsabilidades na redacção do Jornal de Letras e Artes. No seguimento dessa estadia na casa de Gatão enviou a Nobre de Gusmão um plano pormenorizado do livro a editar pela Fundação Calouste Gulbenkian, logo interrompido pelo luso bofetão com Virgílio Martinho, Luiz Pacheco e o editor Fernando Ribeiro de Mello, que acabou na história do seu recuo para Londres no final do Verão. De acordo com a carta que escreveu a João Vasconcelos já em Abril (idem, 2012: 26) a agradecer a estadia, esteve oito dias na Casa de Pascoaes. Em carta a Guy Weleen do mesmo momento falou em estadia e convite de 15 dias. Tanto monta. Teve nesse período a biblioteca de Pascoaes à disposição, os livros e os manuscritos, e ainda os volumes que estavam desde 1965 a ser editados por Jacinto do Prado Coelho e que se tornaram cruciais para a sua abordagem do poeta – assim mo confessou no nosso encontro do final de 1997. Salvante a prosa editada nos últimos anos, disponível nas livrarias – na década de 80 a biografia São Jerónimo e a trovoada ainda se comprava na Lello & Irmão, que a editara meio século antes –, foi esse trabalho de Prado Coelho que exumou do pó a obra do poeta e lhe deu leitores novos como o meu biografado. Um poeta autêntico nunca morre. É como faúlha invisível aconchegada nas entranhas da cinza morta, que qualquer sopro de vento desperta do seu invólucro. A fria sonolência pode durar mil anos mas o amortecimento é aparente. Quantos e quantos livros que dormem hoje nas prateleiras das bibliotecas, tétricos como esqueletos, têm dentro de si o poder de incendiar o mundo! Guerra Junqueiro pegou fogo às igrejas com um livro e deixou-as quase reduzidas a cinza e carvão. É nos livros que reside hoje a última hipótese de salvar a Terra reduzindo a nada os engenhos que a envenenam!
Nesse primeiro convívio, Cesariny percebeu logo que estava diante dum poeta de muito mais largo alcance do que aquele que conhecera e lera na década anterior. Era um poeta raríssimo, que andara pelos pinhais e pelas serras em tamancos de pau, possuído pelo verbo, a libertar os poderes do espírito e a inscrever enigmáticos sinais nas pedras. Uma voz oracular e nocturna uivava nos seus versos selvagens. Maravilhou-se com a sua acção plástica – desenho a caneta, carvão e lápis e pintura a guache e aguarela – até aí desconhecida. Havia centenas de trabalhos, espalhados pelas paredes e pelas gavetas. Foi ele o primeiro a valorizar esta pintura na qual viu as teorias de Jean Dubuffet sobre a “arte bruta”. Pareciam trabalhos de arte sacra popular, ex-votos de ermida, feitos com uma ingenuidade e uma crença mágica assombrosas. Eram manchas espectrais, borrões de imagens arquetípicas, feitos por alguém que não sabia desenhar mas tinha dentro de si o poder genésico de engendrar mundos. Na estadia falou muito ao serão com João Vasconcelos. Recolhiam-se na salinha que havia a meio do corredor, ao lado direito de quem entra, e ali ficavam à volta do braseiro, que o mês de Março nas faldas do Marão é gelo árctico. Andaram à volta de D’ Assumpção – a presença do pintor na casa era tão assídua que havia um quarto com o seu nome e foi nele que o novo hóspede dormiu – e de Teixeira de Pascoaes, com quem o sobrinho convivera de perto e de quem conhecia muitas histórias. A que mais o impressionou foi a do fogo. João Vasconcelos confessou-lhe que uma vez vira o tio a sair da ala em que habitava com a cabeça em fogo. Esta visão fora confirmada por um homem do campo que o vira subir uma encosta e exclamara espantado: – “Quem é aquele homem que ali vai a deitar fogo dos cabelos?” Cesariny nunca deixou de contar estas histórias com um soberano arrepio sempre que falava do poeta do Marão e chegou mesmo a escrevê-las (Os poetas lusíadas, 1987: 23). Também ele era um ser de fogo e de luz, vindo ao mundo entre árvores e searas nos arredores saloios de Lisboa, num dia de Agosto, quando o Sol preparava uma hemoptise. Os seus olhos eram pura pederneira e à menor fricção faziam faísca. Quando respirava, crepitava fogo e o fumo saía-lhe da boca, às camadas leves, ondulantes, revoltas, como água a brotar da nascente da origem. Nada era tão incendiário como uma palavra sua. Autêntico Sol da meia-noite, viveu retirado na sombra de masmorras de pedra, transido de frio e de medo, perseguido pelos cães do inferno, numa era tóxica de aço e de plástico, mas era um ser nu e solar, cheio de brilho e de alegria, uma língua de fogo, uma luz escaldante – o desejo puro, ardente e imortal que engendra os mundos e os sóis e cuja esfera original, a pátria primeira, era o céu sem céu.
No regresso à Rua Basílio Teles trazia consigo a certeza duma novidade. Já nesta época se dedicava a fundo à questão do primitivo e já nela gritava: je ne suis pas moderne. Na verdade, o assunto começara para ele com o mergulho no “inferno” de Rimbaud, logo no início da década de 50. Viu aí renegado em nome de valores bárbaros e pagãos, da parte do sangue e da selva, o cristianismo, o trabalho, a escola, a caserna, o branco civilizado, a Europa moderna. O tópico desenvolvera-se depois em Paris com a intuição dos pré-renascentistas e crescia agora com a atenção à cultura dos povos arcaicos. A sua tradução do “Canto da criação dos índios Koguis” foi feita nesta época e dada a lume ainda antes do recuo para Londres. Ela coincide com a sua redescoberta de Teixeira de Pascoaes, no qual viu um vernáculo, que conseguira escapar ao torniquete da razão. Eis porque decidiu tornar-se no seu apóstolo. Antes mesmo de ir para Londres fez sair no Jornal de Letras e Artes uma pasta dedicada ao poeta (Maio de 1968) – no mesmo número em que se incompatibilizou com Virgílio Martinho, não lhe dando saída à nota de leitura sobre o livrinho de Luiz Pacheco, Textos Locais. É um conjunto com grande significado na época. Antes de mais, a abrir, um desenho, que foi tanto quanto se sabe o primeiro que veio a público com tal destaque. Depois uma carta de Amadeo de Souza-Cardoso, inédita, e que deu a saber que o mais primitivo dos modernos portugueses, o único luso antecedente para a pintura da Grafiaranha, não desdenhara o diálogo com o Velho da Montanha. Por fim um soneto dedicado a Antero e a republicação duma carta de Fernando Pessoa, datada de 5-1-1914, em que se dá por “eterno admirador” de Pascoaes. Eis o momento genésico da sua relação pública com o poeta do Marão. Estabelecido o contacto, logo se seguiu um período de silêncio e recolhimento – o da sua segunda estadia em Londres, muito mais conventual do que a anterior, com o regresso às traduções do Shakespeare menino, esse Rimbaud enraivecido às patadas no berço, e aos pincéis e à invenção da cor. Não dissera ele no poema “Autografia” que era “uma máquina de passar vidro colorido”?! Cesariny como pintor era um prisma de mastigar luz e por isso de Londres não lhe ficou senão “a magnificência dos verdes”.
Depois do segundo regresso de Londres, em Março de 1969, as relações com a Casa de Pascoaes e com a obra do grande solitário retomaram. Logo nessa Primavera, para realizar a exposição na galeria São Mamede, ele precisou de um dos quadros que ficara em Pascoaes, à guarda de João Vasconcelos e que entretanto lhe fora oferecido (5-7-1968, Cartas para a Casa de P., 2014: 32). Chegou a pensar que Isabel Meyrelles, de momento em Portugal, o fosse buscar no início de Abril mas na viagem de comboio para o Porto a Fritzi de cabelo cortado rente ficou a arder em febre e já não foi. A gripe que lhe fechou o olho de sultão pode ter sido inoculada por Cesariny que no momento em que chegou de Londres caiu de cama e aí ficou a ser tratado pela irmã e pela mãe. Embora tenha pedido para a Casa de Pascoaes por carta de 3 de Abril o quadro por encomenda postal, o mais certo é ter ido de carrinho com Cruzeiro Seixas buscá-lo. A fotografia que se conhece dos dois na casa – faz a capa do livro Cartas de M.C. para C.S. – deve datar do início de Maio, em que Cesariny estava já recomposto da gripe de Março e muito empenhado na exposição que abria no final do mês na galeria da Rua da Escola Politécnica e que foi a sua primeira grande mostra pública. O exemplar da fotografia em posse de Seixas tem no verso “Maio de 1967” – data colocada tardiamente – mas pode ser engano. O cabelo de Cesariny só embranqueceu e dum dia para o outro, como notou o entrevistador do D.L. (26-5-1969), no regresso de Londres. Ora nessa fotografia tem já as frontes enfeitadas por muitos cristais de neve – neve do final Outubro, rala ainda mas irreversível. Uma carta para João Vasconcelos do início de Agosto de 1969 (idem, 2012: 35) confirma a estadia recente dos dois amigos em Pascoaes, que pode ter sido a primeira para Seixas.
O início da década de 70 foi decisivo para o apostolado em volta de Teixeira de Pascoaes. O autor de Pena capital recolheu os aforismos que publicou com Seixas no segundo caderno em papel mata-borrão, saído em final de Julho de 1972, com apresentação na galeria S. Mamede e texto surpresa de João Gaspar Simões. Não resisto a transcrever o seu primeiro parágrafo (D.N., 22-7-1972): A última descoberta dos surrealistas portugueses é sensacional. Sem ironia o proclamamos. Embora conhecêssemos por assim dizer toda a obra de Teixeira de Pascoaes – em verso e em prosa –, foi preciso que Mário Cesariny, surrealista da velha guarda, mergulhando fundo no magma poético do solitário de São João de Gatão, compilasse alguns dos aforismos mais incendiários do autor de O pobre tolo (…) para nos darmos conta que o visionário de O homem universal podia abjurar do saudosismo para ingressar na confraria de André Breton. Ilustrada com três extra-textos, o caderno de Julho de 72 tem ainda a primeira vénia pictórica de Cesariny ao eremita da Montanha, “Homenagem a Pascoaes”, aquamoto sobre têmpera em que inscreveu o aforismo que mais o tocava, “ A luz é cada vez mais luz e a treva cada vez mais treva”, no qual via a dimensão apocalíptica em que o Ocidente entrara com o cientismo febril e o racionalismo cartesiano. No mesmo ano, porventura já no novo ateliê, o da Calçada do Monte, que só chegou depois da apresentação do caderno em papel mata-borrão, fez um acrílico a que chamou, “Pascoaes, o Poeta”. É uma homenagem com as cores do oiro e do chumbo, trabalho de ourives e de alquimista, em que no cimo do mastro se equilibra o capacete de Hermes, mediador entre céu e terra e figura de identificação dum Pascoaes alado e escarninho. Regressou com uma nova homenagem plástica em 1979, num díptico de grandes dimensões (68 x 96 cm), “A Teixeira de Pascoaes: O Universo Menino/ O Velho da Montanha/ O Rei do Mar”, que ofereceu à Casa de Pascoaes e que retoma e desdobra os motivos do quadro de 1972, agora com uma hiperbórea e andrógina Naniôra bailando no coração do oiro. Numa carta a João Vasconcelos ele medita as cores da homenagem desta forma (?-9-1978; Cartas para a Casa de P., 2012: 49): “a cor” do Pascoaes é a dos extremos do espectro: a luz – o branco alvinitente –; e o preto, o negro – a treva. E nenhum intermediário entre estes – o intermediário da cor. Foi com esses extremos que celebrou o Velho da Montanha.
O ano da saída de Aforismos foi ainda o da edição de Poesia de Teixeira de Pascoaes, outra colectânea com organização dele. Surgida na editora Estúdios Cor em Dezembro, a antologia resultou dum pedido de Natália Correia, também ela cada vez mais magnetizada por Gatão e o seu poeta. Trata-se dum álbum de grandes dimensões, com centenas de páginas, onde se recolhem trechos de quase todas as obras do autor e ilustrado com 22 guaches, dando pela primeira vez evidência ao pintor. Começa com os primeiros versos de 1896, em que o autor de Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista viu o transfert para a “Mademoiselle Pessoa”, e termina com o testamento poético, A minha cartilha (1954). Uma obra com tais características, com tanta ilustração e tanto texto para compor e rever, não podia ser feita dum dia para o outro e carreou uma aplicação que se estendeu por vários anos. Exigiu leitura constante, convívio quase diário ao longo de anos, trabalho gigantesco de recorte e selecção. Há ainda o texto introdutório, “Teixeira de Pascoaes”, recolhido na segunda edição d’ As mãos na água…, em que afasta pela primeira vez de forma decidida Fernando Pessoa. É este o autor de belos versos – “bonito seria ingratidão”, diz – enquanto Pascoaes é o criador dum mundo mágico que apagou a morte. Faz ainda coincidir o poeta e António Maria Lisboa, o velho e a criança. O conjunto mostra um Cesariny conhecedor pleno de todos os segredos de Pascoaes. Há como que uma osmose secreta entre os dois. Deixam de ter fronteiras – tocam-se, misturam-se, confundem-se. As cores são as mesmas, o branco e o negro; os azuis das linhas de água são ainda a espuma alva e a treva plúmbea e cada linha de água é um mundo elementar. O rosto é também o mesmo. Cada vez mais pobre, comido até ao osso, boca chupada, sem dentes, olhos encovados, cabelo branco e ralo, o de Cesariny decalca o do poeta do Marão. A partir desse momento já não se distinguem um do outro; são a mesma cara, com o mesmo interminável cigarro a fumegar nos lábios. Pascoaes tornou-se assim o grande fantasma final do meu biografado, a figura máxima da sua identificação. Chegava a encontrá-lo a passear em Lisboa, de bengala e chapéu braguês, conforme relatou numa carta a Maria Amélia Vasconcelos, no momento da morte de João Vasconcelos, aos 57 anos (16-7-1983; idem, 2012: 73-4): Sabe o que queria que ele ouvisse de mim? Pois, e por ser verdade, que eu tinha visto o vosso Tio, o Pascoaes, na Av. Almirante Reis, em Lisboa, aí pelas 11 horas da noite, a andar pela rua, no sentido de quem segue para a Baixa. Eu ia de táxi, a caminho dum cinema qualquer estúpido, de meia-noite. Não parei, não podia fazê-lo, mas fiquei com a certeza que era ele.
Depois do abalo da revolução, quando tudo estava a normalizar num uso inofensivo da liberdade, que era o marcelismo mais os partidos políticos, António Lopes Ribeiro, o realizador de Revolução de Maio (1937), o filme de propaganda do Estado Novo, retomou tranquilamente os seus projectos cinematográficos. Para cativar verba do Estado concebeu dois filmes com atractivos de apoio – um sobre Pascoaes e outro sobre Herculano. Do primeiro passava o centenário da vinda ao mundo; do segundo, o da partida. O filme era para contar com o conselho de Cesariny, que recusou. Conhece-se carta a João Vasconcelos com os termos da escusa (?-6-1977; Cartas para a Casa de P., 2012: 47-8): Quero dizer-lhe uma coisa: há semanas fui procurado pelo cineasta António Lopes Ribeiro (!), o do “Camões” e de outras pulhíssimas chatices a fingir cinema, nacional ou da Patagónia Sul (…). Parece que se trata de fazer um filme – documentário? – fantasia? – demi-demi? – sobre o Poeta seu tio, ideia que vejo maravilhosa, absoluta!, onde eu, parece, forneceria o texto, a ideia de?, não ficou esclarecido. (…) Ora agora o que eu queria dizer-lhe a si, e à Maria Amélia, e a quem mais for preciso é que: se encaro com a maior alegria participar na feitura dum filme sobre (ou sob…) o nosso grande Pascoaes, o caso é que ver um António Lopes Ribeiro a encabeçar tal tarefa dá-me uma grande dor do lado esquerdo do peito, e não garanto que essa dor não evolua para paralisia geral do que eu pudesse fazer. (…) Na desgraça estou de lado. Acho que não vou querer colaborar com o Ribeiro, mesmo ao preço de poder fazer-se uma fita sobre o Pascoaes. Compreende e aceita isto, não é verdade? Arranjem outro! (Ribeiro). E outro (Cesariny). Os dois não dá; era indecente que desse! Com desgosto, sincero desgosto, resolvo e lho digo, a si, João.
Esta rejeição é afinal a mesma que o levou pouco tempo depois a bater com a porta na cara de Salles Lane, o advogado do Grémio Literário. Fala-se aqui dalguém que não tinha alma de escudeiro, menos ainda de criado de quarto. Andou às beatas nos passeios da Avenida e dos Restauradores mas nem ao Diabo despejava penicos. Tinha soberania bastante para gritar um redondo e estrondoso “não” a um António Lopes Ribeiro. O filme não foi por diante e quem o fez foi Dórdio Guimarães, desta vez com a ajuda de Natália Correia, que estava bem habilitada para isso. Em carta a João Vasconcelos (?-9-1978; idem, 2012: 49-51), o meu biografado comentou a obra de Dórdio com adesão. É uma carta significativa, pois é dos raros momentos em que se pronuncia sobre a sexualidade de Pascoaes – mais vivida do que a de Fernando Pessoa, visto sempre como “virgem”, sem sexo e sem desejo. Cesariny era do tempo – 1949 e 1950 – em que estava acesa a história da paixão do poeta de Gatão por um caseiro, o Zé Cobra, pai da Adelaidinha, a afilhada que o seguia por todo o lado e que ele tratava como filha. Tais histórias, que ele ouviu da boca de Eugénio de Andrade e de Eduardo de Oliveira, confirmadas depois em Amarante, alvoraçaram-no sempre e muita da sua identificação com Pascoaes vinha desta sexualidade uranista, que lhe lembrava o Heliogabalo de Artaud, que já então admirava – a sua tradução do livro saiu em 1982 mas era alvitrada desde muito antes.
Nesta mesma época, a do centenário do nascimento do poeta, foi ainda convidado a dar colaboração ao livro que a Secretaria de Estado da Cultura compilou para assinalar a data, Pascoaes – no centenário do nascimento de Teixeira de Pascoaes (1980), convite que não viu razões para rejeitar. Intitulado “Comunicado”, o breve texto que entregou retoma a ideia de que a linhagem insurrecta da poesia em Portugal não faz da fabricação a sua chave, a pedra de toque da sua razão de ser. É a tal senda por onde só se pode seguir a pé descalço por contraste com as vias modernas rasgadas na paisagem a régua e compasso e que têm o seu ponto de partida nos carris de aço de Cesário. Nesta família nocturna e subterrânea, a do navio dos espelhos, Pascoaes é o antecedente imediato de António Maria Lisboa. O meu biografado ria-se das teorias de Eliot e Pound, que defendiam a poesia como um trabalho de eruditos, uma ordem, uma disciplina severa, quando não uma servidão às palavras. Ele preferia a imponderabilidade do estado de graça e das raras vezes que citou “il miglior fabro” (J.L.A., Junho, 1968) foi para lhe chamar “romano”, o que na sua boca equivalia a um insulto grosseiro.
No final de 1976 iniciaram-se as relações de Manuel Hermínio Monteiro com Mário Cesariny com as consequências que o leitor já conhece. Ora o cooperante e editor da Assírio & Alvim, e depois seu responsável literário, via das janelas paternas o Marão, do lado de Vila Real, e se não via sentia-lhe ao menos a brisa que de lá soprava nos finais da Primavera. Estava ele a chegar ao mundo, em Setembro de 1952, e estava Teixeira de Pascoaes a bater a asa para o céu sidéreo, o que sucedeu em Dezembro. Desde gaiato que lhe ouvia soletrar o nome e a história – o Dr. Joaquim de Amarante, que nunca tomou a sério o curso de direito que fizera à beira do Mondego e escrevia versos como quem corre por entre carvalhos e antas. Não havia vez que passasse na vila do Tâmega – e sempre que ia ao Porto passava, com paragem na antiga garagem, ao pé da Rua 31 de Janeiro e das águas do Tâmega – que não ouvisse ou lembrasse o nome do poeta. Por isso quando o autor de Primavera autónoma das estradas lhe falou dele, o que não demorou, dado o caso do filme do centenário e o do “in memoriam”, o jovem editor pulou na cadeira – “Ó Mário, isso é que era, Pascoaes na Assírio & Alvim!” Pascoaes era poeta da sua terra, poeta do Marão e das suas neves, e não o imaginava no Bairro Alto ou nos cafés da Avenida e do Chiado, mas também ele entendeu que esse seu poeta de Amarante era “a última descoberta dos surrealistas portugueses” e que era uma invenção “sensacional”. A partir daí meteu no peito trazer o Marão para Lisboa e tornar-se editor do pobre Joaquim que uivava à Lua na ponte do Tâmega. Com a edição da Bertrand parada e sem jeito de seguir, Manuel Hermínio não se aliviou enquanto não meteu Cesariny a combinar-lhe uma visita à Casa de Pascoaes, ali ao lado da aldeia natal, onde ia várias vezes ao ano ver pais e irmãs. Esteve na casa de Gatão a primeira vez em Junho de 1982, ainda João Vasconcelos andava entre os vivos e da passagem ficou registo numa carta do meu biografado para João de Pascoaes (14-6-1982) – “Então o Hermínio Monteiro apareceu-vos aí? (Já falámos disto, creio). (Há-de e havemos de voltar).”
No final de 1981, Cesariny preparara em Amarante uma exposição de pintura, que abriu em Janeiro do ano seguinte na Biblioteca-Museu, hoje Museu Amadeo Souza-Cardoso, com presença sua. Estava já de pé nessa época a ideia de se fazer uma antologia de Pascoaes na Assírio & Alvim. Com a visita de Manuel Hermínio no final da Primavera do ano seguinte transformou-se a antologia em edição da obra completa do escritor. O homem da Assírio & Alvim não fazia nada por baixo. Daí ter mudado uma mera antologia numa obra completa. Pensava sempre em grande como alguém que passara a infância a olhar uma montanha. Sabia estar calado mas guardava dentro de si uma sinfonia que nem um Hermes manco sabia tocar tão bem. Qualquer Apolo se lhe rendia. Era teimoso sem ofender e sonhador sem deixar de ser prático. Foi com certeza assim que o seu conterrâneo Fernão de Magalhães deu a volta ao mundo. Nem a morte de João Vasconcelos em Junho de 1983 fez parar o projecto, que arrancou um ano depois com a reedição de São Paulo, meio século depois do livro aparecer. Até à sua morte – aos 48 anos! – editou cerca de 20 volumes do poeta, milhares e milhares de páginas exumadas ao esquecimento. Por trás da sua figura de carvalho, sólida como penedo de granito, escondia-se um Cesariny frágil, delgado como caniço. Chegava a aconchegar-se-lhe no colo, como uma criança à procura de calor e protecção. Nessas alturas traçava a perna e fechava os olhos com despreocupação. Só lhe faltava chuchar no dedo para ser uma criança feliz! Pelo menos uma fotografia – no rebordo do lago do jardim da praça central de Cáceres, na raia espanhola – ficou para testemunho (Relâmpago, 2010: 52). A ligação dos dois é mais comovente que a Pietá de Buonarroti!
Neste quadro – morte de João Vasconcelos e arranque da edição da obra de Teixeira de Pascoaes na Assírio & Alvim – aconteceu o cinquentenário da morte de Fernando Pessoa, com os Jerónimos e a quermesse nacional, que não tardou a ser europeia. O desespero de Cesariny tinha porém razões mais fundas. Já numa entrevista em 1978, ele dizia o seguinte (A Luta, 10-2-1978): “Fernando Pessoa é o anti-poeta por excelência. Ele é um puro racionalista”. Na mesma entrevista viu o poeta de Mensagem como “uma etapa final do Ocidente” e não uma ruptura com ele, como o surrealismo desejava. Não terá sido pois ao acaso a escolha duma carta de Pessoa para publicar no primeiro preito público que fez ao poeta do Marão, em 1968. Não é uma carta qualquer. É uma carta em que Pessoa sem querer confessa o âmago da sua experiência: o meu espírito está bambo e desfiado e não suporta já o peso de um raciocínio ou de uma analogia. Digo-lhe tudo por imagens e metáforas, e estas são a moeda falsa da inteligência. Estas palavras são na aparência o que menos importa mas na realidade são talvez o único ponto decisivo da carta. Aí se percebe como o intelecto era muito mais caro ao autor de Mensagem que a imaginação. Ao dar como título à carta “Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes”, Cesariny quis assinalar uma divergência entre dois caminhos – intelecto e imaginação, raciocínio e pensamento metafórico. Essa divergência é tudo e é insanável. Dum lado está a via do intelecto tal como ela surgiu com os gregos, até chegar a Descartes, Newton e Adam Smith, apostando tudo na intelectualização dos instintos e na objectivação quantitativa; do outro está a via que coloca toda a carga na imaginação como momento mágico, festa dos sentidos, delírio da alma. A bifurcação que seguia em sentidos diferentes encontrava no século XX português dois representantes maximamente representativos: Pessoa e Pascoaes.
Ora a intelectualização das emoções vitais, a racionalização do “eu” e a ordenação dos instintos, a sublimação sexual e a objectivação do saber, não interessavam ao meu biografado. A sua via era a do lado esquerdo, a do delírio e da alucinação, uma via subterrânea e nocturna que nada devia à racionalização. Por isso o livro de 1989, O virgem negra…, é antes de mais uma criação satírica, destinada a ridicularizar o que na encruzilhada final da vida do autor menos ou nada interessava – a ginástica do intelecto, a sublimação do sexo pela razão pura ou instrumental. Havia um satírico magistral em Cesariny. Lembrem-se os poemas de Nicolau Cansado para se ter presente como a sua palavra castigava a rir. Ao dar ao mundo em 46 Nicolau Cansado e os seus dois escoliastas, Marília Palhinha e Araruta Província, ele visava os coimbrões do Novo Cancioneiro, que lhe pareciam insuficientes e até nefastos ao neo-realismo que queria pôr de pé. Fê-lo tão bem que é quase impossível ler hoje o livro Terra de Namora sem ser por seu intermédio. Desta vez pegou em Fernando Pessoa com propósito igual – ridicularizar-lhe o discurso. Os processos usados são os mesmos – não é insignificante que tenha assinado o livro, o seu derradeiro livro de poemas, com as iniciais do nome civil completo, Mário Cesariny de Vasconcelos, abandonado desde o início da década de 70 mas em começo de uso no tempo dos poemas de Cansado. O recurso é sempre a paródia verbal, a duplicação do discurso visado, a glosa que imita e põe a nu as fragilidades do discurso original. O que destruiu a poesia de Namora foi a sua imitação. Uma poesia que não resiste a ser imitada sem cair no ridículo está à partida condenada. O papel do discurso que imita é pois essencial. Ele precisa de ser suficientemente engenhoso para mostrar a fragilidade do imitado – fragilidade até aí despercebida. Aconteceu isso com a “Cacilda” do poema de Namora, que até ao poema “Rural” de Nicolau Cansado era um factor de progresso e depois dele passou a ter o sentido inverso.
Todo O virgem negra… é uma paródia verbal, uma duplicação do discurso de Pessoa e dos seus heterónimos – e quando não é, como sucede nos seis primeiros poemas, é porque o monólogo mental de Pessoa serve de apoio e contexto à paródia que está a chegar. São muitos os poemas que glosam – a bem dizer a segunda parte do livro, a mais extensa, é uma longa glosa de poemas conhecidos. Mesmo os poemas que parecem novos nunca chegam a ser novidade, pois ecoam neles, em geral como pretexto inicial, fragmentos reconhecíveis do discurso poético e crítico pessoano. Tomem-se três poemas, todos glosados pelo autor do livro: “O menino de sua mãe”, “Ó tocadora de harpa, se eu beijasse” e “Ela canta, pobre ceifeira”, este acrescentado na segunda edição do livro. O que caracteriza a apropriação de 1989 destes textos, como aliás dos restantes, é a introdução de segmentos novos, todos na aparência obscenos, despudorados. Veja-se a forma como a parte final do poema “Ela canta…” é desviado (2017: 627): Ah! Poder ser tu sendo eu! / Ter a tua alegre limalha/ E todo o ouro dela! Ó céu/ Ó campo, ó canção,// O homem pesa tanto e a matriz é tão leve!/ Entrai por mim dentro! Tornai/ Meu ânus o vosso almocreve!/ Depois, levando-me, passai. O processo repete-se nos restantes dois, com uma alusão discreta no primeiro à relação sexual com uma criada e com um choque muito mais frontal no segundo – Ó tocadora de harpa, se eu beijasse/ teu corpo sem beijar a tua poma/ (…)// e te enterrasse// Tão fundo o meu caralho que gravasse/(…). O procedimento é retomado no discurso paródico com as anotações que Pessoa deixou sobre os “outros” nas “Notas para a recordação de meu Caeiro” e nas cartas para Gaspar Simões e para Casais Monteiro (2017: 636): O Álvaro gosta muito de levar no cu/ O Alberto nem por isso/ O Ricardo dá-lhe mais para ir/ O Fernando emociona-se e não consegue acabar.// O Campos/ Em podendo fazia-o mais de uma vez por dia./ Ficavam-lhe os olhos brancos/ E não falava, mordia. (…)// O Fernando o seu maior desejo desde adulto/ (Mas já na tenra idade lhe provia)/ Era ver os heteros a foder uns com os outros (…).
Que se pretendeu com a repetição obsessiva deste processo? A resposta só pode ser: revelar o que havia de pudico, de envergonhado, de retraído no discurso a duplicar. Os heterónimos até horóscopo tinham, mas faltava-lhes a mais pequena alusão à vida sexual – e o mesmo para o criador deles. Eram assexuados. Daí o título do livro, “o virgem negra”, quer dizer, o que não tem desejo, o castrado sexual. Foi essa ausência de sexo que o autor das duplicações intentou mostrar ao “desviar” por meio da ofensa ao pudor os poemas de Pessoa. A presença chocante das aparentes obscenidades no discurso de segundo nível põe a nu a falta de qualquer nota sexual no discurso original. É por isso que as duplicações nunca são aqui pastichos mas sátiras. Imita-se para apontar uma falta, nunca por epigonismo. Neste caso a ferida capital de Pessoa – o abuso do intelecto e o desejo estéril que daí decorre! Nesse sentido os poemas cumprem com eficácia. O discurso de Pessoa não volta a ser o mesmo depois desta duplicação. Vêem-se-lhe partes que antes não se viam; percebem-se limites que antes não existiam. O mesmo já sucedera com os decalques de Cansado. Os poemas do Novo Cancioneiro envelheceram depois das glosas deste; também os de Pessoa perdem espaço depois do seu desdobramento paródico. É impossível ler o “poder ser tu sendo eu” com o mesmo sentido depois do seu “desvio”. Mas não são só os poemas de Pessoa que se retraem; é o próprio autor deles que se encolhe. É por isso que Raul Leal ganha uma estatura que o cartesiano do “quando não fodo é que fodo” não pode ter. É por isso ainda que Leal é visto como o “único não-heterónimo meu” – o único que excede Pessoa e não pode ser canibalizado.
Os poemas de Nicolau Cansado foram na década em que foram escritos uma construção dramática poderosa, com um conjunto de personagens fortes que agem através das falas, pondo em causa o sistema literário da época. Está lá parodiado e ridicularizado o discurso das academias onde se produzia o saber sobre a poesia (Marília Palhinha), o discurso das editoras onde se faziam os autores do momento (Araruta Província), o discurso dos jovens poetas que pretendiam mudar o mundo – sem mudar de casaco e de fala. Quatro décadas depois, O virgem negra… tem um estatuto idêntico, alargado agora a um mito poético nacional com décadas de enraizamento e muito mais difícil de escarnecer. O livro consegue o feito de impugnar o sistema literário da década de 80, ridicularizando o pessoanismo e fazendo desmoronar com estrondo, através da réplica da sua fala, a vida de Pessoa – tão frustrante para um surrealista como a dos coimbrões da década de 40. Também o seu discurso não podia sair ileso depois de tal empreendimento sobre ele. O meu biografado confessou sempre o propósito assumido de baralhar o consenso que se estava a cimentar em torno da obra de Pessoa. Numa carta a Laurens Vancrevel afirmou (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 284): Entretanto, publiquei um livrinho um pouco chato sobre Fernando Pessoa – a ideia é exactamente chatear aquela gloria excelsis geral e colorida C.E.E., que o pobre poeta está em vias de gozar post mortem post vitae e pós-tudo. A invenção apócrifa de duas cartas a João Gaspar Simões, uma de Pessoa e outra de Campos, muito contribuiu para a queda do pessoanismo. Estes dois anexos têm no livro de 1989 o valor paródico das intervenções de Marília Palhinha e de Araruta Província. Desta vez é a construção literária da década de 80 dominada pela obsessão institucional da arca pessoana que aparece escarnecida e contraditada como farsa burlesca (2017: 680): E para seu consolo, comunico-lhe que saiu não há muito exportada para o Brasil, uma série de 292 (duzentos e noventa e dois) inéditos, dos quais para sermos benévolos, cento e oitenta e quatro são para pôr na retrete e puxar o autoclismo, energicamente.
Uma última nota para as epígrafes do livro, a primeira de William Blake e a segunda de Christina Georgina Rossetti, poetisa inglesa do século XIX, figura central da confraria dos pré-rafaelitas, muito activa nas décadas de 40 a 60/70 do séc. XIX. Ao poeta das “Núpcias do céu e do inferno”, William Blake, já Cesariny dedicara homenagem pictórica no momento da segunda estadia em Londres, no final de 1968. Metera ainda versos dele num dos poemas de Londres publicados no livro de 1971 – o que merecera a crítica arrasadora de Nelson de Matos. Christina Rossetti é uma novidade e não dou nota de nenhuma referência anterior à poetisa, citada ainda no terceiro poema do livro, ao lado do irmão Dante Gabriel Rossetti. Tudo aponta para uma descoberta tardia – nunca anterior à década de 80 – dessa confraria inglesa. Na pasta consagrada à Inglaterra no livro Textos de afirmação e de combate…, compilada em 1977, não há uma palavra sobre este movimento e numa entrevista de 1979 (Tempo, 13-9-1979) afirmou que “o Renascimento foi uma viragem para o lado da morte” sem porém se referir às teorias pictóricas do grupo. As fontes dessa afirmação parecem ainda tão-só as mesmas que o levaram no início do estudo sobre Vieira a interessar-se pelos primitivos flamengos e depois no final da década de 60 pelas formas poéticas ameríndias, sem que daí resultasse a mais pequena alusão ao círculo pré-rafaelita. Nas cartas para Alberto Lacerda, com quem muito falou sobre a confraria oitocentista, as primeiras alusões aos pré-rafaelitas só surgem em 1985 e no livro dado à estampa no final de 1984, Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista, propício ao assunto, eles estão ausentes. Tudo leva a crer que a leitura em força destes poetas e o contacto com a sua pintura só aconteceu no momento em que Cesariny estava a compor os poemas d’ O virgem negra…, quer dizer, no início da segunda metade da década de 80. Numa carta a Alberto de Lacerda dessa época noticia deste modo os seus avanços (29-1-1988; Cartas de M.C. para A.L., 2015: 87): Os meus amores pela Pre-Raphaelite Brotherhood vão muito adiantados (…). E pede um livro acabado de sair em Londres – Solomon: a family of painters (exhibition catalogue, Geffrey Museum) – a que junta ainda cópia dum poema de Simeon Solomon, o mais novo dos Solomon, A vision of love. Tece depois as seguintes considerações sobre este autor, que foi dos mais jovens – nasceu em 1840 e morreu já no século XX – a conhecer Dante Gabriel Rossetti (idem): Este Solomon é para mim um ponto-chave: os pré-rafaelitas eram todos – e alguns seriam sem grande saber disso, só inquinados pelo carbonário Rossetti – eram todos bastantes subversivos, no uso e nos costumes, mas o pobre Solomon foi o único que apanhou por todos, apanhado que foi com a boca na botija in urinol. Segue-se condenação judicial (…).
A leitura dos pré-rafaelitas ingleses continuou e quase sem interrupção até ao final da vida. Há notícias continuadas dessa leitura nas cartas para Alberto de Lacerda até à penúltima que lhe escreveu em Julho de 1999. Anda à volta dos seus nomes maiores como se com eles todos os dias discutisse à mesa do café as notícias da arte, da política, da religião. Era um convívio contumaz, obsessivo, como se vê no seguinte parágrafo dessa carta (idem, 2015: 132): O Swinburne é O Maior. A Christina Rossetti também é o maior. O D. G. Rossetti também é o maior, na especialidade. E o… ah, escapa-me agora o nome mas também Pré-Rafael, o primeiro, pintor (de 1 só quadro) – depois, Poeta – que parece que também é o maior, para quem ah, William Morris – o maior dizia, para quem o pode ler bem em inglês (…).
À medida que foi recolhendo livros, catálogos, cópias e anotações sobre os poetas e os pintores do movimento, o seu entusiasmo subiu sempre de grau. Dando-se conta que a notícia que deles existia em Portugal era quase nenhuma, chegou mesmo a conceber a publicação duma grande antologia constituída por traduções e reproduções plásticas que fornecesse ao leitor português a atmosfera do movimento. A teimosa recolha de materiais – em quase todas as cartas a Lacerda posteriores a 1986 pede livros, catálogos ou cópias de poemas e chegou mesmo a fazer um caderno do assunto (idem, 2015: 104-5) – alimentou-se deste sonho de fazer uma compilação dos pré-rafaelitas ingleses. O meu autor foi um construtor de antologias, nas quais viu um involuntário jogo de forças afins. Esta colectânea dos pré-rafaelitas foi o modo que ele arranjou para selar com chave de oiro um domínio que era seu – o das antologias – e em que dera pontos marcantes, como ninguém então os deu, nas décadas de 60 e 70. Chegou a iniciar as traduções mas a velhice, a doença, o desânimo e sobretudo o ter conhecido Helena Barbas, sua vizinha na Palhavã, levaram-no a desistir na segunda metade da década de 90. Helena assumiu a tarefa em 1995 mas ele ficou próximo, em conversa constante. Teve papel determinante na escolha dos autores e dos livros – a escolha dos poemas não partiu porém dele – e foi revendo as traduções, cabendo à tradutora a derradeira palavra. Os pré-rafaelitas – uma antologia poética (2005), contendo para cima de seis dezenas de poemas de seis autores e dezasseis reproduções a cores, saiu ainda em vida dele e foi num período já de muita desolação um das últimas alegrias que teve. O revestimento da antologia não é dele – não há uma nota escrita por ele – mas na ossatura, no esqueleto que lhe dá forma reconhece-se o seu trabalho de modelação Que fabulosa antologia não se teria obtido se ao menos as notas biográficas tivessem espirrado da sua revolta viril! Convenço-me que nem o diabo descansaria com a sua fala sobre Algernon Charles Swinburne!
Que interesse teve Cesariny nestes poetas ingleses oitocentistas, a ponto de tão teimosamente os ter lido e querido editar durante os últimos anos de vida, citando-os com paixão tão próxima? Ele encontrou nos pré-rafaelitas aquilo mesmo que vinha a descobrir por si desde o final da década de 40 e início da seguinte. Como movimento, os pré-rafaelitas resumiam nas suas aquisições colectivas o seu percurso pessoal. Tudo começara com a leitura do Rimbaud que cortara o laço com a Europa – “je quitte L’Europe” – e com o trabalho – “j’ai horreur de tous les métiers” – para se ver como nómada e bárbaro. Viera de seguida a visita ao castelo da Grafiaranha e a descoberta duma pintura anterior aos modelos da perfeição clássica – a dos primitivos flamengos. Ora o movimento dos pré-rafaelitas vira a luz no domínio da pintura por meio duma reflexão sobre a pintura de Rafael e o uso da perspectiva. A revolução introduzida por Rafael deslocou a força da pintura e do desenho para os aspectos técnicos, esvaziando a energia do simbolismo. Foi uma pintura com estas características que os pré-rafaelitas quiseram evitar e por isso procuraram uma inspiração nas experiências plásticas anteriores ao Renascimento, valorizando a pintura medieval – e daí o nome que para si tomaram ou aceitaram, os que estavam antes de Rafael. A pintura moderna tem no trabalho técnico deste pintor, no rigor da sua composição e execução, o seu principal molde de formação. Os primeiros que o contestaram e que dele se afastaram, reabilitando para isso as tradições anteriores, foram os pré-rafaelitas. Quase todos abandonaram a pintura de perspectiva e o tratamento da dimensão espacial na superfície plana do papel, cuja obra-prima é a Escola de Atenas de Rafael. Além de excessivamente técnico – obter um ponto comum de intercessão de todas as linhas de fuga –, o tratamento espacial vampirizava a energia do quadro que assim esvaziava o poder simbólico das suas figuras. Os pré-rafaelitas começaram a praticar uma pintura em que à imagem da arte do antigo Egipto e da de certas fases da idade medieval as proporções dos elementos da composição deixavam de depender do espaço tal como objectivamente é visto para passarem a ser determinadas pela sua importância sentimental e simbólica na cena representada. Não se anda longe do não formalismo, do improviso e do espírito naif e espontâneo que Cesariny advogou na prática pictórica a partir dos primeiros textos teóricos ainda no quadro do neo-realismo e que depois se tornou experiência e auto-conhecimento com o picto-poema. O seu interesse pelos pré-rafaelitas ingleses tem assim o valor dum encontro com um antepassado distante e quase desconhecido mas no qual é possível reconhecer todas as qualidades que o futuro herdou e alargou. O antecedente pré-rafaelita abriu caminho afinal na Europa a todas as reacções não clássicas em arte, incluindo a surrealista e a da “arte bruta”, a arte dos que não sabiam desenhar, de Jean Dubuffet.
Mas outras razões há para esta paixão final. O corte que esta confraria de poetas e de pintores fez com os modelos plásticos dominantes na tradição académica ocidental – a ruptura aconteceu na Royal Academy, em aulas de desenho – foi acompanhado por um corte significativo com os costumes da época. A sociedade inglesa vivia submetida ao código moral repressivo e muito castigador do período vitoriano – coroada em 1837, a rainha Vitória só deixou o trono já no século XX, em 1901. Os pré-rafaelitas deram de barato as proibições do puritanismo, praticaram a homossexualidade, trocaram de mulheres e de homens, deixaram vir ao de cima perversões sado-masoquistas, entregaram-se a excessos, que os levaram à prisão, ao asilo, ao suicídio, à morte prematura. A vida secreta dos membros da confraria constitui um contraste com tudo o que a rodeia; é o contraponto duma época. Este aspecto magnetizou o meu biografado. A sua situação no salazarismo tinha paralelos irrecusáveis com a dos pré-rafaelitas no tempo vitoriano. Também ele fora martirizado por um código penal; também ele fora o contrapeso duma sociedade torturada pela pressão dum torno não menos opressivo e castrador. Há ainda o voyeurismo – nada desprezível. Seixas afirmou-me sempre que um dos grandes prazeres do amigo era ver e dar-se a ver no acto sexual e daí a preferência por cinemas ou urinóis. Por isso, antes de conhecer a obra plástica e poética de Simeon Solomon, já ele escrevia empolgado para Londres, em Janeiro de 1988, afirmando que o jovem pagara por todos; “o único que apanhou por todos, apanhado que foi com a boca na botija in urinol” – diz a carta, aludindo à prisão de Solomon em Fevereiro de 1873, caçado pela polícia da rainha num acto homossexual com um desconhecido no urinol de Statford Place. Há aqui um voyeurismo óbvio, que se alargou a toda a confraria, marcada por extravagantes historietas sexuais e por uma libido sem fronteiras, muito porosa, cujos desvãos um passageiro clandestino de Eros como Cesariny conhecia bem e que grandemente o atraiu e fez vibrar. Mas o episódio do jovem Solomon é ainda modelar para se perceber como ele se revê nos pré-rafaelitas como num largo espelho de identificação. Como não associar esse momento ao que se passou no final do Verão de 1964, no piolho de Paris, e ao que se lhe seguiu com a prisão e a cidade queimada do pátio de Fresnes?! É tudo tão idêntico e tão próximo que parece uma repetição do que se passou em Satford Place. É por isso que o único poema que eu me atreveria a colocar no esquife de Cesariny na hora da sua partida, a única voz digna de acompanhar a sua alma na eternidade é a do longo e estranho poema em prosa que é A vision of love – esse mesmo que ele encomenda para Londres em 1988 como se encomendasse a sua própria vida.
Um outro motivo houve ainda para a adesão ao pré-rafaelismo. Além do corte artístico e do moral, os pré-rafaelitas realizaram um terceiro rasgão – o corte social e político. É um dos aspectos críticos do movimento e um daqueles que absorveu Cesariny, cuja adolescência fora tocada pelos ideais comunistas, que a adesão ao surrealismo deixou intocados. Num manifesto de 1949 (A Intervenção surrealista, 1997: 157), ainda cita como fonte de inspiração do surrealismo português, ao lado de Freud, Rimbaud, Hermes, Artaud e outros, Lenine, o que chocou com certeza o seu autor a partir da década de 60, em que se afastou de forma decidida de qualquer ideia de revolução que se pudesse cruzar de perto ou de longe com o que se passara em 1917 na Rússia. Os pré-rafaelitas foram filhos da primeira revolução técnico-industrial – a da máquina a vapor, a do comboio, a da exploração intensiva do carvão. Vendo diante de si as gigantescas transformações das paisagens rurais e urbanas, revoltaram-se contra essa revolução, acusando-a de liquidar os equilíbrios sociais e naturais e de destruir a beleza que lhes interessava – a que vinha dos momentos genésicos do erotismo, da pulsão do desejo, essa que os levara a impugnar a dependência das proporções dos elementos de uma composição pictórica do espaço tal como se via do exterior. Quando aboliram em pintura a perspectiva, cuja solução era só técnica, foi na esperança de darem a ver uma beleza muito mais essencial e chocante, muito menos contabilística e formal do que a mera representação objectiva do espaço, e que pode ser vista como o antecedente imediato do excesso de convulsão que o surrealismo exigiu da beleza.
O progresso técnico e o desenvolvimento industrial não estavam a ser acompanhados por um progresso social e moral, já que uma nova miséria mental e material estava a surgir, muito mais restritiva, a do operariado. Enquanto as anteriores classes de artesãos – o mesmo se diz para o rural – dominavam o processo de produção dum objecto desde o princípio ao fim, os novos trabalhadores apareciam embrutecidas por tarefas parcelares, monótonas, repetidas de forma mecânica e desprovidas de sentido. O artesão tinha tudo para dizer que o objecto que saía das suas mãos era seu. Constituía uma obra, que ele podia aperfeiçoar e embelezar até ao limite. O seu empenho estava mais colocado na obra e no seu aperfeiçoamento do que no lucro ou no valor de troca. Este modo de produção, em que a arte constituía a primeira paga do trabalho, mostrava-se assim adequado ao ser humano e ao seu progresso interior. Ao invés, o novo modo de produção, assente na tecnologia e na produção em série de objectos reduzidos à sua mínima expressão funcional, destruía o sentido do trabalho, coisificava a obra, reduzia o trabalhador a um ser amorfo, sem qualquer criatividade e que apenas dava um contributo mínimo à fabricação dum objecto igual a tantos outros. Esses objectos não tinham estatuto de obra singular; eram coisas, cujo valor simbólico residia no lucro que forneciam. A pior miséria do operariado não era assim a dos seus salários e a das suas condições de vida mas a miséria do tipo de trabalho que fazia. De igual modo, o bem-estar duma sociedade não residia na quantidade de objectos que era capaz de produzir e de consumir, no excesso de oferta que podia disponibilizar, mas no modo de trabalhar para criar riqueza. A existência dum ser humano criativo, livre e feliz, objectivo de qualquer sociedade exemplar, dependia do tipo de trabalho que era obrigado a fazer. Era ele a pedra-de-toque para se avaliar a felicidade de cada um. O modo de fabrico industrial, com um trabalho embrutecedor, que em lugar da beleza e da singularidade da obra tomara como estímulo o dinheiro do lucro ou do salário, estava condenado a mergulhar o ser humano no vazio, na fealdade, na apatia, na doença mental e na infelicidade.
Pondo em causa o uso da perspectiva e a evolução da pintura ocidental a partir da Renascença, os pré-rafaelitas contestaram de forma não menos feroz as alterações sociais, técnicas e económicas que ocorreram na época do parto do capitalismo industrial. Se defendiam o regresso aos modelos pictóricos anteriores ao tratamento do espaço por Rafael, dizendo que havia neles um caminho que ficara por trilhar, também advogavam o regresso ao modo de produção artesanal, afirmando que nele existia uma vitalidade que ficara por desenvolver. Só o modo de produção artesanal podia dar lugar a um ser humano plenamente realizado com o seu trabalho. Alguns membros da confraria, como William Morris, entregaram-se assim à reabilitação do artesanato em domínios tão variados como o mobiliário, a encadernação, a tipografia, a decoração, a iluminura, a arquitectura, a joalharia, a tapeçaria, a tecelagem e outras artes antigas. Criticando o capitalismo e as soluções industriais, adoptaram um socialismo utópico, que não fosse uma tentativa de fazer com os mesmos meios e de modo idêntico o que o capitalismo não conseguia fazer – produzir ainda mais – e que foi infortunadamente a forma de socialismo que o século seguinte viu nascer com Lenine. O socialismo dos pré-rafaelitas advogava o regresso às oficinas e o abandono das fábricas, a retoma da jardinagem e da pequena agricultura manual, o abandono da maquinaria agrícola, o repovoamento dos campos e a socialização do belo na arquitectura, no mobiliário e em todos os objectos do quotidiano. Queriam uma comunidade empenhada na criação da beleza, no progresso moral e interior, na liberdade, e não no lucro e na escravização à riqueza e ao trabalho mecânico e monótono. Morris chegou a afirmar que a única grande paixão que dominou a sua vida foi o ódio à civilização moderna. Sem uma febre assim negativa nunca teria aderido da mesma forma ao socialismo. Não julgue o leitor que o ódio à civilização moderna é um absurdo. O grau de fealdade que essa cultura instaurou é de tal ordem assustador que haverá sempre alguém para se escandalizar. A revolução talvez não seja uma questão de justiça mas de estética.
O pré-rafaelismo foi o último dos movimentos culturais e de ideias a que Mário Cesariny aderiu com a paixão inflamada e estrídula dum nativo do signo do Leão. Tinha já 60 anos quando se deu conta da relevância e da originalidade deste movimento e ao longo de 20 anos não mais o largou. A sua derradeira grande alegria no domínio dos livros é porventura a saída da antologia dos pré-rafaelitas em que trabalhou uma demorada década com Helena Barbas. No seu itinerário formativo este é um momento tardio, mas só comparável ao que sucedera em 1947 com a descoberta apaixonada do surrealismo, aos 24 anos. Entre a sua juventude e esta revelação já serôdia, num arco de quatro décadas, nada de muito relevante sucedeu ou tudo o que de significativo aconteceu – tradução de Rimbaud, leitura e tradução dos dadaístas, adesão em pintura aos primitivos, fascínio pelas culturas não ocidentais, em especial ameríndias e tribais – decorreu da sua adesão ao surrealismo e por aí se compromete. A questão dos pré-rafaelitas é distinta, embora a confraria possa ser lida como um antepassado do surrealismo – e assim a leu ele quando afirmou que “o olhar dos pré-rafaelitas ingleses era muito mais surrealista” que o dalguns surrealistas do século XX (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 369). Nenhum surrealista mostrou paixão tão acesa pelo movimento inglês e nenhum o elegeu como ele. A adesão não o levou porém a qualquer retratação em relação às linhas que recebeu de André Breton – sente-se até um reforço destas. O pré-rafaelismo é nele um ponto de convergência de tudo o que vinha fazendo, uma cristalização final onde se revelava em conjunto, numa síntese criativa e revolutiva, o que mais o apaixonava – o erotismo, o primitivismo, a criação, o corte com o Renascimento e o mundo moderno, a utopia, a liberdade, o poder do anjo demónico e até o socialismo.
É por aí que se pode dizer que a sua formação e o seu ideário poético e plástico só chegaram ao fim com a longa travessia que fez por dentro deste movimento. Atendendo às epígrafes, sobretudo a segunda, de Christina G. Rossetti, admite-se que um livro como O virgem negra… só possa ter sido parturejado no quadro dos valores pré-rafaelitas. Quem é Fernando Pessoa senão Rafael?! Também “Camões é italiano” – diz o enunciador do poema “Alheio”. E carrega, acrescentando que tudo o que sucede em Portugal desde XVI é italiano. Tudo, tudo? Não! Há para ele uma excepção. Essa é Teixeira de Pascoaes – que assim se descobre como o pré-rafaelita que Cesariny foi desencantar no trilho dolménico do Marão. O leitor já sabe que a paixão por Pascoaes vinha do final da década de 60, quando no horizonte havia de frente muitos dádás mas ainda poucos ou nenhuns pré-rafaelitas, e tivera logo depois em 1972 dois momentos altos, com as duas antologias, a dos aforismos e a outra, mas reacendeu-se a partir da segunda metade da década de 80, altura em que já havia Rossettis em abundância e em que ele escreveu as 11 notas sobre Pascoaes, datadas de Outubro de 1986 e dadas a lume como parte do prefácio da reedição d’ Os poetas lusíadas (1987) – quinto livro editado por Manuel Hermínio no âmbito do acordo que fez em 1982 com os herdeiros da Casa de Pascoaes.
O virgem negra…é assim um livro final que nasceu na derradeira parte da formação do autor, a do pré-rafaelismo, como vara de síntese de tudo o que abeberara desde o neo-realismo inicial. Sem o movimento inglês a dimensão moderna e intelectualista de Pessoa não seria porém questionada da mesma forma – Pessoa trabalhou a composição do poema como Rafael o espaço da composição pictórica – nem os processos usados, os da sátira, seriam os mesmos ou tocariam o mesmo grau de violência. Se os pré-rafaelistas não lhe tivessem mostrado com os seus meios próprios, todos independentes da visão técnica e matematizável do espaço, o poder simbólico da imagem erótica, e a pintura homoerótica de Simeon Solomon foi aí decisiva, o erotismo nunca se volveria porventura na chave para desmontar parodicamente o discurso pessoano. A desmontagem satírica da fala vinha dos primórdios, de Nicolau Cansado ou até de “Maria Koplas”, mas por meio de recursos lineares, o do eufemismo irónico por exemplo, em que o medalhão do erotismo está ausente. Este só aparece no livro final e tem um efeito explosivo e ao mesmo tempo ambíguo. A paródia cumpre aqui a sua função de sátira mas acrescenta-lhe outra: a de tinta reveladora dos conteúdos recalcados. Obriga os poemas de Pessoa a dizerem o que a censura quis que fosse esquecido e deixado de lado. É por isso que diante de muitas das glosas d’ O virgem negra apetece dizer: – “Que pena que a poesia de Pessoa não seja isto!” Nunca se dirá semelhante frase a propósito de Namora para o poema “Rural”. Sem qualquer ambiguidade, o ridículo é aí irremissível!
Na época em que cresciam os sinais da chegada d’ O virgem negra…, a mesma em que o país punha um panamá de batata frita na cabeça e via passar o cadáver de Pessoa a caminho dos Jerónimos, Cesariny recebeu uma carta de Maiorca – carta tímida e receosa, que se fazia acompanhar de trabalho académico. O remetente, Perfecto Cuadrado, estudara português em Salamanca com João Palma-Ferreira ainda no tempo do franquismo. Depois disso, já nas ilhas Baleares, pensara dedicar trabalho académico a Virgílio Ferreira, autor caro ao seu mestre salamantino, mas acabara por se desviar para o modernismo, as vanguardas e o surrealismo. Na primeira metade da década de 80, investigara em Lisboa, comprara as colectâneas de Cesariny na livraria da Rua Passos Manuel e aí trocara sem mais dois dedos de conversa com o homem forte da editora. Aprovado o trabalho, pensou enviá-lo para a Rua Basílio Teles. Expediu a medo. O poeta acabara não há muito de dar a público uma carta, “A universidade continua mal cheirosa” (J.L., 11-10-1983), em que, a propósito duma exposição na universidade de Montréal, não deixava pedra sobre pedra nessa instituição – uma das mais fustigadas no livro de 1989. A missiva mostrava de novo o varapau ágil e desapiedado que batera no advogado do Grémio Literário. Terminava assim: Para mim, e para alguns mais, a universidade, depois do século XVI, continua a ser a instituição mais progressivamente mal cheirosa a corpo sem espírito e a espírito separado que a Europa inventou. Não é de toda e qualquer universidade que se fala aqui. É da academia renascentista, aquela que começou com Rafael e se impôs depois com Cartésio, o que de novo obriga a enquadrar esta portentosa raiva no contexto das suas ideias mais gerais a favor do primitivo e do medieval.
Recebeu todavia com agrado as notícias deste universitário espanhol. O meu biografado sabia ser escarninho e até malcriado – Salles Lane nunca lhe perdoou a sobranceria e José-Augusto França teve uma época em que não se lhe podia falar do seu antigo camarada – mas era insuspeito de mau feitio e até de simples má vontade. Bastava um nome, uma palavra no lugar, capaz de o impressionar, para ele baixar as guardas e fazer-se uma criança, que só queria mimo e rebuçados. Ouvi um dia, entre portas, Pedro da Silveira, que tinha veneno na língua bastante para andar mal com meio mundo, exclamar, meio temeroso, meio a rir: – “Alto! Vem aí Cesariny, o Terrível!” Quem o ouviu, pensou talvez num carniceiro de cutelo e pluma. Puro engano! Era neto de corso e tinha até panache de corsário, mas no dia-a-dia, num restaurante, num táxi, num cinema, num café, numa livraria, era duma simpatia inexcedível. Ninguém mais gentil e agradável do que ele. Encontrei um dia em Peniche um rapaz, criado ao pé da igreja matriz, que fizera amor com ele várias vezes no meado da década de 80. Depois de ter frequentado Sesimbra nas décadas de 60 e 70 – registou os engates aí feitos em cartas para Seixas e Virgílio Martinho –, e quando não se ficava pela Caparica, para onde começou a ir muito cedo e que nunca deixou, o meu biografado passou a fazer surtidas a Peniche onde encontrou condições de excepção para fazer amor com homens. Do seu intenso convívio com a região ficou mesmo um picto-poema, “A praia da Almagreira” (1983), extenso areal a Norte do ilhéu do Baleal. Esse rapaz, Júlio Bem Adão, que andou sempre na pesca marítima e morreu no final da década de 90 com a “síndrome de imunodeficiência adquirida”, disse-me que o poeta era um senhor muito fino, do mais doce e amável que já conhecera. Chegava a fazer amor com ele só pelo prazer de ser bem tratado. É um testemunho de monta para se perceber a gentileza do seu trato no dia-a-dia! E ainda para se registar a visão que os amantes de ocasião – em geral gente humilde, ligada ao mar, que faziam amor em quartos de pensão ou de hotel, muitos sem dinheiro à mistura – retinham dele.
As relações entre Perfecto e Cesariny foram depois próximas. Se aceitou a carta, simpatizou com a figura castiça que lhe apareceu pouco depois em Lisboa. Além do nome que valia uma festa de regozijo, tinha estatura de criança e olhos límpidos como um pego de água pura. Lembrava-lhe um dos acrobatas dos poemas de Londres, figura que ele encontrava ou imaginava encontrar nos passeios de Chelsea. Com Manuel Hermínio, Manuel Rosa, Bernardo Pinto de Almeida, que também conheceu época, e alguns mais, Perfecto tornou-se alguém de sua casa, no qual confiava até para o trato de assuntos pessoais, que nada tinham a ver com a sua obra de poeta ou de pintor. Mesmo Henriette lhe fazia pedidos e lhe encomendava perfumes raros de Madrid e de Barcelona. Numa carta para a Casa de Pascoaes refere-o como “um bom amigo meu” (2-10-1992; Cartas para a Casa de P., 2012: 87). Perfecto levou-o a Espanha – a primeira logo em 1989, altura em que o poeta português passou uma semana em Maiorca ao seu cuidado. Uma década empós foi com ele a Tenerife – ficaram fotografias – onde vivia outro jovem correspondente espanhol de Cesariny, Miguel Pérez Corrales, que se começara a cartear com ele ainda no final da década de 70, chegando a fazer uma folhinha Noa Noa, em 1989, com uma fotografia dele. Corrales contou a história desta folha, nunca distribuída por falta duma legenda (La página, 2013: 47-82). Entre as duas viagens, em 1998, Perfecto levou-o a passear pela Extremadura espanhola, com visita à povoação de Hervás, a norte de Cáceres, onde Pierre Rossi Cesariny conhecera Cármen Escalona. Fizeram contactos com os serviços municipais e até com o alcaide para se identificar a casa onde a família vivera mas nunca se chegou a nenhuma conclusão, o que desgostou o meu biografado, empenhadíssimo na história destes seus antepassados, com os quais a sua corda interior mais se identificava. Nunca deu qualquer crédito aos Vasconcelos de Tondela, quase todos ourives, e nunca referiu a prole larga dos vários irmãos do pai Viriato. No final da vida chegou a assinar Cesariny Rossi, dando assim a perceber como valorizava a diáspora que vinha da região central do Mediterrâneo. Na curta estadia que fez em Hervás fez-se fotografar na praça da povoação com um retrato na mão, que tudo indica ser o do avô – um ilhéu de pele clara, vestido de negro, cabelos fartos e fulvos a saírem do chapelão negro, com o qual o poeta se parece identificar de forma simbólica.
Nestas décadas finais não parou de viajar. Tinha marca de viandante e porventura foi isso que o levou a valorizar o apelido Rossi da ascendência materna. Interessaram-lhe esses antepassados sempre em movimento e que não tinham lugar fixo no espaço. Tanto se faziam fotografar nos recantos esquecidos de Salamanca e de Cáceres, como em Paris e na Córsega. Toda a sua atenção estava na parte final da vida voltada para os Rossi e não para os Vasconcelos, apelido que abandonou antes dos 50 anos e a que não regressou, a não ser muito de passagem nas iniciais com que assinou o último livro de poemas, talvez para o ligar ao de Nicolau Cansado. A década de 80 abriu com uma estadia na Holanda, que Laurens Vancrevel registou com pormenor em cadernos da época e que ficaram inéditos até hoje. O casal acabara de trocar o apartamento da Rua Ruysdaelkade – em Maio de 1979 ainda lá estavam – por uma casa mais ampla, com dois andares, em Oudezijds Voorburgwal, um dos canais mais antigos de Amesterdão, que começou por ter belas e sossegadas casa burguesas e se tornou depois na zona louca da cidade, com os bordéis e as prostitutas na montra. Cesariny chegou ao aeroporto de Schiphol a 19 de Junho, ao início da tarde, depois de voar num avião da TAP. Ia acompanhado de Francisco Baptista Russo, um amigo ligado ao teatro, antigo aluno de Suzanne Jeusse, tradutora francesa de Pascoaes, e que se instalou num hotel do centro. Ele ficou instalado no piso térreo da casa dos Vancrevel. Era uma casa imensa, com muitos quartos, que tinha uma data, 1686, gravada no frontão de pedra. Baptizou-a de imediato o “Palácio” e assim ficou para sempre. Chegou mesmo a receber aí nessa altura um amigo, Victor Morais, jovem lisboeta da vida da noite, que passou com ele alguns dias em Julho. Laurens registou nos seus cadernos para o dia 5 de Julho uma refeição colectiva de bacalhau e batatas cozidas preparada por este ribeirinho e que se tornou num daqueles instantes em que pelo contágio da gratidão o efémero quebra a sua reserva. O regresso a Portugal só aconteceu a 14 de Julho, quase um mês após a chegada. No momento em que pôs pé em Lisboa tinha à espera nas mãos de Manuel Hermínio o primeiro exemplar do seu livro de estreia na editora, Primavera autónoma das estradas, que o leitor já conhece. Em carta para o casal holandês, escrita três dias depois do regresso, diz que o livro já saiu mas não dispõe ainda de exemplares para ofertas (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 286).
Esta viagem a Amesterdão foi a primeira saída depois do grande voo sobre a América em Maio de 1976 – de Chicago às ruínas de Teotihuacan. Esteve quatro anos sem sair do quadradinho português, o que foi para ele como estar fechado um século num armário escuro. Houve um ponto da estadia que importa aqui relatar com algum pormenor – o dia 12 de Julho, que nesse ano foi um sábado. Tanto Laurens como Frida estavam livres e passaram o dia com Cesariny. Passearam no centro da cidade e visitaram com demora dois monumentos, o Palácio Nacional no Dam e a Igreja Velha, Oude Kerk, uma gigantesca construção dos sécs. XIII e XIV, duma irregularidade extravagante. A construção tocou-o fortemente e é possível que tenha regressado no dia seguinte a sós (as referências de Laurens nos seus cadernos ao lugar são para 12 de Julho e as das notas de Cesariny para 13). O que mais o impressionou foi uma escada em caracol que subia à torre mais alta, que de imediato associou a um mastro de navio, cujas velas eram os telhados da igreja que se sucediam, alinhados em correnteza, por baixo. Pensou no “navio de espelhos”, que lhe surgira primeiro no Cais do Sodré, no tempo tempestuoso do Café Royal, e que reencontrara em Londres, depois do inferno de Fresnes. Ambos os casos se associam a duas humilhações policiais e por isso o “navio” é uma barca de insurreição, uma nave de loucos e de marginais – uma prisão que abriu as portas e se soltou no espaço sem amarras e de velas desfraldadas. O momento da escrita em Londres foi um choque verbal inesperado, uma sinfonia cega que lhe entrou de supetão pela alma e lhe deu o tom e o toque para fechar A cidade queimada – por certo um prémio que o anjo demónico ofereceu ao seu poeta para ele se “envaidecer” da humilhação sofrida. Embora Gastão Cruz não mostrasse qualquer entusiasmo com a força viril da sua revolta e nem sequer aludisse aos seus versos na sua nota do D.L., é um daqueles poemas que, como imparável trompa de água rodopiante, tropel de cavalos à desfilada que nada detém, rola soberano sobre as intempéries do mundo. Na catedral de Amesterdão, ele voltou ao “navio dos espelhos”, desta vez sem sinfonia, sem verbo, sem mediação demónica. Retomou aí a imagem primordial do Café Royal para ver como a palavra do poema se fazia silêncio e tomava corpo de catedral e de castelo; tornara-se pedra, madeira, ferro, escada, porta, torre, sino e corda e ali se lhe oferecia soberba e sensível como visão material. Depois do Tamisa, foram precisos 15 anos para ele estar de regresso ao “navio dos espelhos” e desta vez com todos os sentidos do corpo bem acordados. Mais do que uma surpresa ou uma novidade esse reencontro foi um reconhecimento. Não se aprende nada que não se conheça já! Dizer é repetir!
Quando no dia seguinte chegou a Portugal trazia dentro de si o lugar e a primeira coisa que fez quando escreveu para o casal foi pedir o “mapa das ruas e lugares de Amesterdão”, que lhes servira de guia na viagem do sábado anterior e que Frida pouco depois lhe mandou, ainda manchado dos borrões de tinta-da-china que Cesariny nele deixara cair inadvertidamente. Passou a escrito os dezasseis dísticos e o terceto do poema – 35 versos no conjunto –, que comentou de acordo com a visão arrepiante da igreja acastelada de Amesterdão. No fim acrescentou que o poema inicial fora escrito em Londres “numa espécie de estado de graça, de estado segundo, sob a influência longínqua da visão (a pintura) de Vieira da Silva” (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 284) – essa pintura que ele começara a ver na retrospectiva de Grenoble, onde encontrara o quadro “La ville brullée” (1955), decisivo para o seu destino, e continuara depois a viver na granja de Yèvre-le-Châtel. A visão da catedral de Amesterdão, cristalização material do “navio de espelhos”, não mais o abandonou e ainda no final da década, no Verão de 1988, quando preparava o regresso a Amesterdão – acabara de ser convidado para um encontro sobre literatura homossexual em Roterdão – na companhia de Manuel Hermínio e de Manuela Correia, esposa do editor, escreveu para o casal holandês a lastimar a falta duma boa imagem dum dos pormenores que mais o haviam impressionado (?-8-1988, idem: 392): Frida La Belle, ainda não tenho uma fotografia a preto e branco daquela escada-maravilha da vossa Igreja-Velha, com a porta-morta-fantasma no cimo da parede! Haviam passado mais de oito anos sobre o encontro com o “navio de espelhos” mas a imagem continuava a bailar-lhe no espírito.
Nesta mesma década houve duas viagens a Londres, talvez as grandes viagens do período, dada a ligação afectiva que ele tinha com a cidade. A primeira na Primavera de 1984, que passou por Paris, no quadro dum filme que a televisão portuguesa pensou fazer com ele e que não concluiu, talvez por desentendimento entre os realizadores – Maria Elisa e Artur Albarran. Entre os testemunhos a colher em Londres, entrava o de Jonathan Griffin, seu tradutor e amigo desde o início da década de 70. Do encontro dos dois ficou fotografia, numa rua sossegada, que o meu biografado resgatou no momento da morte do poeta inglês, num opúsculo de homenagem, Dois poemas de Jonathan Griffin vertidos para português por Mário Cesariny e Philip West – Dois poemas de Mário Cesariny vertidos para inglês por Jonathan Griffin (separata, Colóquio/Letras, n.º 120, Abril/Junho, 1991). O período que seguiu a esta viagem foi o da conclusão gráfica e demorada revisão de provas do livro Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista, que ficou pronto no final do Outono e foi apresentado em Dezembro numa galeria de Lisboa. Poucos dias depois, em Janeiro, Arpad falecia em Paris e Cesariny no final do Inverno teve um colapso nervoso que o deitou ao chão e o deixou fechado em casa durante meses. Estava de tal modo ligado por fios invisíveis à Grafiaranha que acabou por sofrer no corpo e na mente, a milhares de quilómetros, os abanões violentos da sua dor. “Nunca tive nada de semelhante” – confessou ele em carta para os seus amigos holandeses, em Outubro de 1985. Numa carta do ano seguinte para os mesmos, relatou todo o caso com algum pormenor, dando-se ainda em convalescença (13-5-1986; idem: 367): No ano passado, em Fevereiro, deu-me o célebre break-down nervoso, e fiquei três meses de cama, meio lirú. Nos três meses seguintes, recuperação lenta. Recomecei a andar, na rua, com a Henriette. (…) Nos meses de Outono, enfim, recuperei – conseguia ir e vir sozinho até à Baixa – Rossio, Restauradores, até ao ateliê. Em Dezembro, recomecei a pintura. Etc. Sinto-me cada vez melhor, mas ainda não estou completamente bem, ainda não.
O final do ano, momento em que retomou a pintura e as idas à oficina da Mouraria, coincidiu com o termo do segundo mandato presidencial de Ramalho Eanes e a formalização de candidaturas para a nova eleição para a presidência da república, prevista para Janeiro de 1986. Apoiou Mário Soares, chegando mesmo a fazer parte da sua comissão de honra e a participar em comícios de apoio ao candidato. Uma das chaves desta intervenção foi José Manuel dos Santos, um jovem de 30 anos, que ele conhecera adolescente, entre 1973 e 1974, por intermédio de João Belchior Viegas e com quem passara a ter convívio regular. Salvo as campanhas do M.U.D. na década de 40 e o anti-estalinismo a bem dizer militante do ano de 1975, que se prolongou depois com as colaborações que deu aos jornais de Vitorino Nemésio, de Vera Lagoa e de Helena Roseta, o apoio a Mário Soares em 1986 foi um dos raros momentos da sua militância política.
Não vale porém carregar demasiado este seu passo biográfico. Conhecia Soares da década de 40 mas viviam em mundos separados – Soares com uma carreira de advogado, uma família tradicional e muita ambição social, e ele à margem, sem emprego, com uma vida sexual de maldito e sem qualquer cobiça social. Admirava Soares à sua maneira – e reafirmou-o numa entrevista final (Expresso, 20-11-2004): Uma pessoa que ainda hoje admiro é o Mário Soares, que nos livrou por uma unha negra de uma ditadura estalinista – mas tinha consciência da linha que o separava deste homem absolutamente crente nos valores da ciência, da técnica, da política e da civilização. Por isso, em 1995 manifestou abstencionismo, declarando que ia deixar de meter o papel do voto na urna. Nem a social-democracia a brincar nem o socialismo de fachada – “pseudo” classificou em carta a Vancrevel – lhe convinham. Confessou então nessa carta que “aquilo que me interessa, a mim, escapa-lhes, perdidamente a todos eles” (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 434). “Eles” eram os políticos dos partidos da direita, do centro e da esquerda. Tinha um pensamento crítico próprio, modelado por um itinerário muito seu de cinco décadas, que ia da adesão ao surrealismo ao entusiasmo pela confraria pré-rafaelita. Essa seriedade íntima não amolecia com as banalidades administrativas e tácticas que os socialistas de partido praticavam. Numa entrevista deixou um passo que corta qualquer hipótese de o acorrentar ao fundador do Partido Socialista (Público, 1-12-2004): Uma vez perguntei ao Mário Soares o seguinte: “Os socialistas não podem, não querem ou não sabem?” Ele lá desviou o assunto, não sei se intencionalmente: “Pois é, este Guterres foi uma fatalidade.” Mas eu não falava do Guterres; falava do socialismo em todo o mundo. Não podem, não querem ou não sabem? Para ser simpático admito que não podem. O socialismo de Cesariny era o de William Morris, não o de Lenine ou o de Soares – assentes ambos no modo de produção que Morris odiava. Para este o socialismo chegava a pé – ou de bicicleta a pedal – enquanto para Lenine ou Soares tinha de chegar no último modelo de automóvel e de avião.
Depois da vitória de Soares na segunda volta, em Fevereiro, e da tomada de posse em Março, uma das primeiras acções do novo presidente foi uma visita de Estado a Inglaterra para celebrar os seis séculos da aliança luso-inglesa. José Manuel dos Santos tornara-se seu assessor cultural no palácio de Belém e Cesariny foi convidado a integrar a comitiva presidencial. Deu-se assim o seu regresso à cidade do Tamisa, em Maio de 1986, na que foi a sua segunda viagem a Inglaterra na década de 80 e de que ficaram algumas fotografias tiradas por Nuno Félix da Costa – uma na National Gallery, com ele em pé, mefistofélico, a pentear cuidadosamente a asa do cabelo, reproduzida na edição de 2004 de Pena capital, e uma segunda, sentado, no fausto da embaixada portuguesa de Londres, publicada no boletim da editora da Rua Passos Manuel com a seguinte legenda “Mário Cesariny na sua casa de Londres” (A Phala, n.º 9, 1988: 4-5). Essa viagem estava já planeada e só no último momento foi repensada e integrada na viagem do presidente Soares. Carta para Alberto de Lacerda do início de Abril prova que vinha a ser planeada desde o final do Inverno e tinha como objectivo uma exposição de homenagem a L.T. Mesens capitaneada por El Janabi, um dos subscritores do manifesto do movimento surrealista árabe que a revista dos Rosemont publicara em 1976, e na qual Cesariny participava. No início da Primavera escrevia para Lacerda, em Londres, a pedir marcação de quarto. Já então a exposição de homenagem a Mesens na James Birch Fine Art Gallery estava agendada para Maio e já enviara para Paris ao cuidado de El Janabi duas colagens, uma de homenagem a Mesens e outra dedicada a Beckford, o autor de Vathek – colaboração dele para a exposição. Não se atreveu a pensar na viagem a sós – o colapso dos nervos no ano anterior, a idade, os desarranjos intestinais, a língua, tudo aconselhava prudência – e arranjou companhia num amigo, Nuno Félix da Costa, que apresentou a Lacerda como “Psiquiatra e Pintor” e ao casal holandês como “um bom amigo, jovem pintor e fotógrafo, e jovem médico psiquiatra”. Conheciam-se desde 1983 e Félix da Costa no momento da crise nevrótica valeu-lhe como médico neurologista, dispondo-se depois a acompanhá-lo a Londres, onde a sua esposa, Cristina Frazão, enfermeira, vivia na altura. Já antes, não se deslocava fora do perímetro de Lisboa sem ser guiado por alguém. Em carta da época disse a Lacerda o seguinte (24-4-1986; Cartas de M.C. para A.L., 2015: 80): O problema complica-se ainda com o agradável facto, já constatado, de eu não poder, ou já não saber, viajar sozinho. No ano passado, tive finalmente a macacoa há muito aguardada – um esgotamento nervoso e cerebral que me empanturrou três meses na cama e do qual ainda sinto os apitos. De qualquer modo, já antes disso não punha os pés em sítio que me levasse (…) para fora do ordinário (…) sem ser acompanhado, o que é triste e é verdade. Nessa carta dá ainda notícia para Londres do estado de Alexandre O’Neill, que acabava de ter uma trombose cerebral e ser internado no Hospital de Santa Cruz de Carnaxide, ficando na unidade dos Cuidados Intensivos (idem: 81): O O’Neill está no Hospital e muito mal, com os tubos…Oremos….
A viagem de partida – a inauguração da exposição era a 13 – chegou a estar marcada para o dia 9 de Maio, com regresso a 21, mas as voltas que deu pode ter alterado ligeiramente estas datas, antecipando a partida para 6 ou 7 e retardando um ou dois dias o regresso. Contava pagar do seu bolso a viagem mas ter estadia paga. Deu essa informação a Lacerda na carta de 24 de Abril – a mesma em que se manifesta incapaz de viajar sozinho e dá nota do estado deplorável de O’Neill. Esperava então apoio português do Ministério da Cultura, que não chegou. Começara a receber no início da década, em 1982, uma bolsa mensal de mérito cultural da Secretaria de Estado da Cultura no valor de 15 mil escudos e era disso que vivia – estava ainda longe de fazer dinheiro com os pincéis, como passou a suceder no final da década. Foi aí que entrou José Manuel dos Santos, que falou com Soares. Este integrou-lhe as despesas na comitiva presidencial que ia a Londres, resolvendo-lhe a estadia e a viagem. Cesariny relatou a história deste modo (13-5-1986; Cartas a F. e L. Vancrevel, 2017: 366): não tendo conseguido, para essa viagem, nenhum apoio do Ministério da Cultura, exactamente porque era este o Ministério da Dita, e não tendo vontade de pedir mais uma vez esmola à Fundação Gulbenkian – que, verdade seja dita, muito compreensiva sempre disse que sim aos meus pedidos – então fui chorar um pouco no ombro de um velho e excelente amigo meu que, por um acaso não menos excelso, é amigo pessoal do Presidente da República Portuguesa – levantem-se e cumprimentem-no! – e seu assessor cultural. O Presidente da República, Dr. Mário Soares, também meu amigo, encontrou um modo excelente de me fazer chegar às Ilhas Britânicas: resolveu pura e simplesmente (e, vendo bem as coisas, muito compreensivelmente) integrar-me na sua comitiva que aqui está agora em Londres para festejar o sexto centenário – creio que é o sexto, ou não? – da aliança luso-britânica.
Dois dias antes da viagem, recebeu uma carta do iraquiano El Janabi a dizer-lhe que a exposição por questões de última hora já não se realizava. A viagem ganhara entretanto uma autonomia tal que deixara de estar na dependência do que devia acontecer na James Birch Fine Art Gallery. Cesariny ficou instalado no Piccadilly hotel, mesmo no centro da cidade, pois a sua dependência da comitiva presidencial era mínima – esteve numa única recepção oficial na Embaixada Portuguesa, na tarde de 13 de Maio. Já conhecia o hotel – ficara nele em 1984 com a equipa da R.T.P. que fora com ele a Londres gravar testemunhos e registar imagens para o filme que não se completou. Escolheu-o logo no início de Abril, quando ainda estava longe de pensar que teria financiamento presidencial e o seu objectivo era só a exposição a Mesens. Numa carta para a Holanda dá-o como “um dos mais caros de Londres” e noutra para Alberto de Lacerda diz que o hotel “é velhote e por isso bom”. Em Maio de 1986 passava o cinquentenário da grande exposição surrealista de Londres, organizada por Mesens e Roland Penrose, primeira grande exposição internacional do surrealismo, e havia um conjunto de comemorações na Mayor Gallery à volta do evento, antes de mais uma exposição evocativa, com quadros, fotografias, jornais e catálogos da época. A exposição de El Janabi que não se chegou a realizar inseria-se neste mesmo quadro, já que Mesens, belga de nascimento, se fixara em Londres depois da grande exposição e aí se tornara director da London Gallery. O meu biografado passou a pente fino a exposição da Mayor Gallery, da qual enviou para a Holanda relatório pormenorizado e muito crítico, tal como enviou nota, mais doce, do encontro no Piccadilly hotel, no domingo, 11 de Maio, com alguns surrealistas ingleses, incluindo o velho Conroy Maddox, então a caminho dos 80 anos e a quem Cesariny já havia escrito de Lisboa, em Abril, quando preparava a viagem, e que Nuno Félix da Costa, que esteve presente no encontro, classificou em conversa comigo do “mais excêntrico” que a Inglaterra então tinha. O autor de Pena capital a receber num luminoso domingo londrino de Maio, no vetusto Piccadily hotel, Conroy Maddox, com mais de meio século de surrealismo em cima, é uma cena memorável e pitoresca – só comparável ao encontro de dois habitantes da galáxia de Andrómeda num bosque à beira-mar cheio de famílias em piquenique.
Deu ainda passeios pela cidade, à procura dos lugares que 20 anos antes frequentara. Na carta em que se retraiu ante a exposição evocativa dos 50 anos do surrealismo londrino, relata um desses passeios até Charing Cross para visitar as “inesquecíveis livrarias daquela zona”, que frequentara nos anos 60. Embora na visita que fez a Londres em 1984 tenha havido pré-rafaelitas – entre a bibliografia que ele possuía sobre o assunto estava o monumental catálogo da exposição de 1984 sobre os pré-rafaelitas, que em carta para Lacerda ele garante ter visto “com grande assustadora alegria” – foi nesta época, em 1986, que o nome dos Rossettis se lhe tornou familiar. Há que ter em conta que foi na carta escrita de Londres aos amigos holandeses, carta de 13 de Maio dando conta da sua ida à Mayor Gallery e ao encontro tido no Piccadilly hotel com os velhos surrealistas bretões, que se topa com uma das primeiras referências aos pré-rafaelitas – e a primeira feita ao casal holandês. Afirma aí que “há um olhar muito mais surrealista nos pré-rafaelitas ingleses” do que em Edward Burra, um dos presentes na exposição da Mayor Gallery e com o qual é crítico, menos embora do que com Penrose e David Gascoyne. Félix da Costa referiu-me ainda uma visita e um almoço em casa de Paula Rego, um dos seus antigos contactos portugueses de Londres que nunca se perdera e fora alimentado com alguns encontros em Portugal sobretudo no período da galeria da Rua da Escola Politécnica.
Quando regressou a Lisboa, soube que O’Neill não tivera melhoras. Não o visitou mas lastimou o seu sofrimento e chegou a enviar por José Manuel dos Santos um recado escrito – O’Neill lia e até rabiscava umas frases mas não dizia palavra entendível. Em final de Junho foi para o Hospital Egas Moniz, aí falecendo a 20 de Agosto. Cesariny lastimou a morte e numa nota ao casal holandês resumiu deste modo a situação (idem, 2017: 370): Estávamos muito afastados um do outro, há já muitos anos, mas é na mesma uma perda muito dolorosa para mim. Nunca esquecerei a nossa camaradagem, nos anos 46-48 (mesmo antes!), nem o dia em que ele apareceu no café com a História do surrealismo debaixo do braço. Passou-me simplesmente o alfarrábio e disse: Tens de ler isto. Isto era o surrealismo. Ao boletim da editora Assírio & Alvim disse o seguinte (A Phala, n.º 2, 1986: 4): Sem ele, quero dizer: só comigo, não teria sido possível a hoje infausta, mas à data parecendo maravilhosa, formação do Grupo Surrealista de Lisboa.
Na mesma “phala” deu-o por “companheiro inesquecível dos anos 1945 e seguintes, quando ambos buscávamos libertar-nos do pesadelo chamado realismo-socialista”. No rescaldo, compôs ainda “Cantiga de amigo e de amado”, glosa das cantigas trovadorescas, que apareceu no boletim A Phala (n.º 9, 1988: 1), datado de “87-88”, anos da composição dos poemas da primeira edição d’ O virgem negra…. Mais tarde recolhido na cortina final das edições de Pena capital, onde hoje está, chamou-lhe na entrevista ao jornal A Capital (19-8-1989) “o poema do “Dolviran” por causa do refrão, “vou pôr outro dolviran”, dando a entender que havia por ali algum pagode de mistura com homenagem. Isto não é, não foi, para desprestigiar O’Neill. Tenho a impressão que em Cesariny qualquer vénia não pode pôr de lado o gozo. Saudar e rir eram para ele o mesmo movimento. Tinha um riso para cada ocasião e até tinha um riso sério, sofrido, que era capaz de afivelar nas ocasiões mais trágicas! Rir da morte a chorar é um dom do mais sublime saber e não menosprezo da soberba.
NANIÔRA OU O TRIÂNGULO MÁGICO
O que é uma década? Uma unidade humana para medir o tempo pessoal e até colectivo. O século é demasiado longo para se contabilizar na vida de cada um e o ano é demasiado curto para ter um significado fixo. Assim a década tem o prestígio da História, tal como a fixaram um Tito Lívio e um João de Barros. A última década do século XX foi também a derradeira década que o meu biografado atravessou, o último troço da sua história. A seguinte ficou já incompleta e não conta como as outras – a Parca cortou-lhe o fio a pouco mais de meio. Mesmo esta, a última, já não tem o peso das anteriores; não há nela um livro novo, o que sucedeu pela primeira vez desde os anos 40. Como quer que seja tem matéria de grande relevo na consolidação das linhas de força que vinham do passado recente e por isso a obra deste tempo foi uma reedição – O virgem negra… aumentado com vários textos.
A década começou com duas viagens e não podia ser doutro modo para quem como ele viera fadado para saltar barreiras. A primeira viagem foi a Espanha, no final da Primavera de 1990. Tinha um velho núcleo de amigos no país – os que giravam à volta de Aranda e de Manolo Mateos, que 20 anos antes na viagem a Tenerife para encontrar Garcia Cabrera, Maud, Eduardo Westerdhal e Domingos Perez Minik era quase um miúdo – tinha na altura 35 anos muito envernizados – e se transformara agora num senhor sólido, de cabelo grisalho e bigode farto, um espanhol médio que podia figurar num cartaz de Turismo da Costa do Sol. Aranda acabara de falecer no Verão do ano anterior – nascera em 1926 e tivera a desdita aos 11 anos, em Saragoça, de saber o pai fuzilado por um esquadrão da morte fascista – e essa foi por certo uma razão forte para Cesariny revisitar Madrid e lembrar o amigo que conhecera em Lisboa no dobrar da primeira metade do século e a quem chamava um “príncipe”. Esse primitivo núcleo alargara-se entretanto muito. Granell e Amparo haviam regressado a Espanha e viviam em Madrid. Também Philip West, nascido em 1949, amigo do casal Vancrevel e que estivera para expor pintura com Cesariny em Amesterdão em 1977, se mudara para Espanha, Saragoça, passando de vez em vez por Madrid. Até nas Astúrias havia agora um amigo, Enrique Carlón, nascido em 1952, que em 1976 fundara o Círculo Surrealista de Gijón e se ligara ao Grupo Surrealista de Madrid, de Eugenio Castro e José Manuel Rojo, e à revista Salamandra. Estabelecera contacto com Lisboa e aí expusera no final de 1984 na mostra “Surrealismo e pintura fantástica”, organizada por Cesariny em colaboração com o movimento Phases. O seu guia nestes itinerários dentro e fora de Madrid foi sempre Manolo Mateos, que em breve se ligaria por um laço de amor a um jovem de Badajoz, nascido em 1963, Pedro Polo Soltero, acabado de chegar a Madrid e que se tornou próximo dos surrealistas portugueses – Cesariny chegou a fazer campanha a seu lado em 1993 quando foi acusado de insubmissão por um tribunal militar espanhol e Seixas trocou com ele copiosa correspondência que se prolongou até aos dias de hoje.
A segunda viagem, em Julho, logo de imediato ao regresso de Espanha, foi aos Açores, na companhia de José Manual dos Santos que o leitor já conhece e de familiares deste. Nesta época ele era tão chegado ao jovem assessor de Mário Soares, com quem fazia vida nocturna nos cafés e nos bares do Bairro Alto, como de Manuel Hermínio Monteiro, Manuel Rosa ou Nuno Félix da Costa. Ficou um mês em São Miguel, no Hotel Baía Palace, e José Manuel dos Santos garante que Cesariny viveu um “Verão de prodígios”. Numa carta para Laurens, escrita dos Açores, ele resumiu deste modo o encanto que estava a viver (?-8-1990; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 412): É uma espécie de Holanda na vertical. Impressionante a densidade e variedade de verdes, de terras, de brancos de nuvens. As estradas, cuidadas com desmedida paixão, fazem lembrar uma propriedade privada – ladeadas de sebes de flores, escondem, à esquerda e à direita, toda a horizontal – só vemos os picos, por vezes o mar. E quando desces até à cidade ou aldeia, encontras por todo o lado um Portugal desaparecido há três séculos, um século XVII que vai à discoteca.
Tinha a nostalgia dum outro mundo, muito mais idílico e feliz, do que a azougada Rua Basílio Teles e a horrorosa Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, iguais a tantas outras das grandes cidades ocidentais. Por isso a sua paixão pelos índios americanos fez-se neste momento mais activa. Ele pressentia que vinha aí no meio milénio da viagem de Cristóvão Colombo à América uma febre comemorativa que ia branquear um dos piores crimes de sempre – a violenta destruição duma cultura milenar, o genocídio dum povo, a confiscação e o roubo despudorado das suas terras e a não menos trágica integração forçada dos sobreviventes numa cultura que detestavam, a do trabalho e a do dinheiro, e que não lhes deu qualquer outra saída.
Por isso na segunda metade do ano, pôs-se a traduzir um texto de Jean-Marie Le Clezio sobre a calamidade que foi a chegada do homem europeu ao continente americano – uma breve nota sobre o drama do silenciamento das culturas americanas pré-colombianas e da situação do índio integrado à força, primeiro na cristianização moral e seus castigos e depois na nova ordem política, no Estado de direito e no seu código penal. O texto deve ter começado a ser traduzido na cama do hospital de São Luís dos Franceses, onde passou um mês no final do Verão, com operação à próstata, “a célebre próstata” diz ele em carta para Alberto de Lacerda (16-1-1991), e finalizado já em casa, onde passou outro mês a convalescer. Chamou-lhe A interrupção do pensamento índio, que mandou compor e imprimir em caderno tipográfico de oito páginas – levou ainda reprodução de pintura sua, “Pranto por Tupac Amaru” (1978), fruto da viagem ao México, e um canto a Tupac Amaru, o filho do Deus Serpente, no original quechua (alfabeto latino) e em versão portuguesa feita a partir da tradução castelhana de José Maria Arguedas. O conjunto, que tem uma nota final do editor, dizendo que tudo o que Le Clezio diz para a ocupação espanhola da América central – o texto, traduzido de Le rêve mexicain ou la pensée interrompue (1989), está muito centrado na região do México actual desde as terras semi-áridas do Noroeste até às florestas verdes e húmidas da Sierra Madre – se aplica “em mais ordinário” para “a ocupação portuguesa em África, América e Oriente”, foi uma edição Noa Noa, as folhinhas que editou em 1989, mas já com referência à The ted oxborrow’s…, série que se seguiu à Noa Noa ou com ela coexistiu ainda. Era uma edição – estava datada de “Fev. 1991” – na linha daquelas que ele fizera no final da década de 50 com a colecção “A antologia em 1958” e teve uma tiragem acima da habitual para as folhinhas fotocopiadas que começara a fazer na década de 70. Expõe a sua posição muito crítica para com o Ocidente e que de resto fora o seu estado mental de sempre, ao menos desde o fim da adolescência, quando descobrira que a sociedade em que vivia era execrável e que o propósito dum espírito bem formado só podia ser recusar os seus valores éticos e lutar por uma revolução. Numa carta desta época para Guy Girard, nascido em 1959 e membro activo do grupo surrealista de Paris a partir do Outono de 1990, ele pronuncia-se sobre esta sua edição assim (15-10-1992; carta inédita; versão portuguesa minha): Faço votos para que possa encontrar o texto francês de Jean Marie Le Clezio. É um texto verdadeiramente admirável. Arruinei-me na tipografia para o imprimir. E no momento que passa foi uma excelente maneira de cuspir na conquista e na colonização. O “texto francês de Jean Marie Le Clezio” é o livro atrás citado, acabado então de aparecer.
Miguel Perez Corrales, que teve direito a uma pequena homenagem na folha de rosto da pagela, ao descrever o caderno diz que no colofão final se lê o seguinte (La pagina, 2013: 67): “Por uma Europa pré-raphaelita”. O exemplar que conheço não tem esta menção e o exemplar que enviou para Mário Soares, decerto por mão de José Manuel dos Santos, também não. É muito provável que tenha acrescentado em alguns exemplares à mão, a tinta, esta frase, na página final onde se mencionam as edições Noa Noa. Na carta que escreveu a Mário Soares, em Junho de 1991, e seguiu junto à oferta do folheto, confirmou a intenção da frase e a ausência tipográfica dela (carta inédita; Fundação Mário Soares): Falta-lhe, não foi a tempo da impressão, um genérico que envolverá, poderá envolver, o que eu ainda dê a público, forma escrita ou outra: “POR UMA EUROPA PRÉ-RAPHAELITA”. Nesta mesma carta indica que o texto editado não vai “a mercado porque não tenho, não há, organização para ele, ou público, ou livreiro capaz de achar que valha um tostão”.
A associação da Europa “pré-raphaelita” a um texto que se destinava a lembrar as atrocidades do homem europeu em terra americana não podia ser mais certeira. A Renascença, ponto de partida duma revolução na pintura, na ciência e na política, fora também a época das grandes viagens marítimas europeias que cruzaram todos os mares e levaram à escravatura do negro, ao genocídio do índio, à ocupação e à colonização de territórios já habitados e que foram integrados à força nas coroas cristãs da Europa. O mundo moderno, esse que estava na base do racionalismo cartesiano e da revolução técnica, esse que a si mesmo se chamava de Humanismo, tinha como alicerce um crime nefando, uma interminável pirâmide de cadáveres, um roubo que não deixava de alastrar a cada geração que passava. Os pré-rafaelitas haviam sido os primeiros a voltar costas ao Renascimento e à revolução técnica que fora a sua consequência, defendendo para a arte e para a produção caminhos anteriores à violenta explosão económica que as viagens marítimas haviam proporcionado. Eram eles a quinta coluna, os índios brancos, os inimigos do interior, os irmãos dos que haviam sido massacrados ao longo dos séculos nos quatro cantos do mundo e só em seu nome a Europa podia falar sem ter as mãos manchadas de sangue inocente. Daí o achado formidável, “por uma Europa pré-rafaelita”, que é todo um programa de acção – a Europa da beleza e da criação por oposição à Europa da exploração e da dominação, a Europa da riqueza, da indústria, do trabalho, do mercado e da guerra.
Na carta a Mário Soares atrás indicada ele aponta essa frase como um “genérico” da edição dada a lume e por isso a inscreveu à mão na página final de alguns exemplares mas avança ainda com a ideia de que tudo o que ainda vier a escrever é para colocar debaixo dessa ideia duma Europa pré-rafaelita. “Genérico que envolverá (…) o que eu ainda dê a público, forma escrita ou outra” – diz ele, por aí marcando que era esse o rumo em que mais empenhado estava. É por certo este o momento em que concebe a ideia duma antologia portuguesa do movimento oitocentista inglês, que três anos depois se ajustou e desenvolveu com o encontro na Palhavã com Helena Barbas. Esse letreiro sob o qual ele inscreveu ou quis inscrever toda a obra pictórica, poética ou ensaística que ainda viesse a escrever parece ter sido encontrado em Janeiro de 1991, no lastro da viagem e estadia nos Açores e no momento da edição do folheto A interrupção do pensamento índio, saído com a data de Fevereiro de 1991 mas que estava composto e revisto, pronto para impressão, desde Janeiro, momento em que começou a primeira Guerra do Golfo contra Sadam Hussein e que não pouco deve ter posto para o nascimento da frase. A Europa da riqueza e da indústria era a Europa da guerra e do armamento; o alvor do Renascimento e do crescimento urbano foram as Cruzadas. Logo a Europa pré-rafaelita da beleza e da criação era uma Europa sem guerras e sem ocupações, uma Europa não romana. Numa carta a Laurens Vancrevel de Janeiro de 1991, fala-se pela primeira vez desta outra Europa (Cartas a F. e L. Vancrevel, 2017: 416): continuo a ter o projecto delirante – os projectos porque são dois, em princípio – de traduzir para português a Epopeia de Guilgamesh, em verso, e de escrever um ensaio, minimamente conseguido, sobre os Pré-Rafaelitas ingleses. Esse ensaio não será mais do que o ponto e vírgula de uma ideia maior e que terá – uma vez que título é tudo, não é? – o título: “Para uma Europa Pré-Rafaelita”. Vai ser importante (!), para a Europa (!!) e para Portugal (!!!). “Explica-se” (ah!) por que razão (oh!) a Europa, depois do Renascimento, se transformou no continente mais chato do mundo. Chato: de aborrecido até odioso, na sua própria casa e entre os povos que quis submeter. O ensaio “minimamente conseguido sobre os pré-rafaelitas ingleses” não lhe saiu do espírito mas também nunca chegou a escrito – ia a caminho dos 70 anos e os primeiros sinais da doença que o levou, um cancro na próstata de evolução lenta mas fatal, já se manifestara levando à operação no Hospital de São Luís dos Franceses, no final do Verão de 1990. Se o escrito houvesse ido ao papel, o prólogo da antologia de 2005 teria sido dele e já não foi.
Uma palavra sobre Guilgamesh e a sua epopeia. Esta não é desconhecida do leitor. Já lhe surgiu a propósito da colaboração de Cesariny no jornal O Diabo. Já então, no Outono de 1977, ele conhecia bem o poema sumério, descrevendo-o e comentando-o com adesão na última colaboração que deu ao semanário. De resto já na década de 60, na ode a Vieira, logo na versão de 1966, o citara a seu modo com hierática paixão. Um poema que contava uma história de amor entre dois homens e que passava por ser o mais antigo poema da humanidade tinha de o cativar. Pensando que o poema era até então ignorado de todo em Portugal – mais tarde veio com surpresa a saber que já Teixeira Rego, um amigo de Teixeira de Pascoaes, escrevera sobre ele no início do século XX – concebeu com o secreto saber da sua arte poética o projecto de o dar em português. Detestava a tradução pela tradução, mera consulta de dicionário – as versões de Holderlin por Paulo Quintela, ou as de Albert Vigoleis Thelen por Olívio Caeiro, eram para ele o inaceitável na tradução de poesia. Para traduzir um poema não queria sentidos; exigia sons e ritmos – a recriação rítmica era para ele a única chave decisiva para a trasladação do verso. Assim fizera com a passagem de Rimbaud ao português por meio do processo a que chamou “cabala fonética” – e em certos passos de Rimbaud, logo a começar no título do livro de 1873, Une saison en enfer, chegou a sacrificar o sentido, obtendo porém resultados surpreendentes. À luz de critérios rítmicos e fónicos adoptou a grafia Guilgamesh, deixando de lado a mais vulgar Gilgamesh. Explicou-o assim a Lacerda (Cartas de M.C. a A.L., 2015: 86): eu ponho Guilgamesh por ter decidido, oxalá não me engane, ser o sumério, de que não percebo nada, uma língua inevitavelmente mais gutural (macaca, sem pendor para o J, que é já de gente fina).
O trabalho entusiasmou-o. Tal como sucedeu com os poetas ingleses da confraria pré-rafaelita, e neste caso com mais razão por força da língua original do poema e a sua venerável antiguidade, a sua grande preocupação foi estudar ao longo dos anos o maior número de versões fiáveis do poema, quase sempre inglesas e francesas. Em Julho de 1987, após um encontro com Alberto de Lacerda em Lisboa, onde este viera para uma exposição de colagens, esperava dele notícia de duas edições gaulesas do poema – uma de 1939 e outra que lhe parecia ser de 1958; três anos depois, em Outubro de 1990, agradeceu-lhe para a América uma edição norte-americana do poema, de 1985, com texto copiosamente anotado. Quase 10 anos depois, em Julho de 1999, ainda ele escrevia ao mesmo a confessar-lhe que se desunhava para pôr mão em cópia da tradução de Coutenau, editada em 1950, em Paris, e que já só estaria acessível na Biblioteca Nacional de França. “A única, creio – e já vi muitas – versão pela qual poderia guiar-me menos mal” – diz ele sobre essa tradução. No ano seguinte, em Março, quando esteve em Paris com os seus editores por causa do Salão do Livro consagrado a Portugal, animou-se ainda com o assunto pelo acesso que então teve a novas versões, a de Coutenau entre elas.
A primeira notícia sobre o trabalho de tradução em si respeita ao Verão de 1985. Em Fevereiro tivera o amoque que o deixara de cama três meses, a que se seguiu lenta recuperação de vários meses, os primeiros só com saídas na companhia da mana. Nesse primeiro período de convalescença, a coincidir com o Verão, quando ainda estava muito em casa, entregou-se aos primeiros exercícios de tradução. O trabalho foi o primeiro que ele fez depois da quebra do início do ano e só mais tarde, no final do Outono, é que retomou as idas ao ateliê e a pintura. Na carta que escreveu de Londres, em Maio do ano seguinte, para o casal holandês, ele deu conta do assunto deste modo (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 368): (Verão-Outono passado em casa, com a ajuda de… Guilgamesh). Esse gigante ajudou-me quase tanto como a Henriette, a sair do poço: comecei a experimentar traduzir a Epopeia de Guilgamesh, o semi-deus assírio. (É um trabalho que só se pode levar a cabo no Verão, sob um Sol forte. Espero pelo próximo Verão para poder continuar…). Os primeiros tentames de transposição foram assim recuados no tempo. Como quer que seja, partiu para ele com a certeza de que aquele não podia ser um trabalho continuado. Estava sujeito a interrupções e dependia da pressão do clima e da atmosfera. Necessitava segundo ele dum “Sol forte”, apaixonado, em plena explosão de luz e calor, para poder ser levado a cabo. Entretanto no Verão seguinte chegaram os primeiros poemas d’ O virgem negra, livro que um ano depois continuava a escrever, o que não lhe permitiu, sabendo que só traduzia no Verão, dar continuidade à transposição, em que só veio a pegar na década seguinte. No Verão de 2000, no rescaldo da viagem a Paris com os editores, estava ainda a trabalhar no poema e com alguma esperança de poder concluir a tradução. Numa carta para a Holanda assim disse (?-8-2000; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 439): Estou a trabalhar numa tradução em verso rimado, poesia métrica (bastante livre, diga-se!) da Epopeia de Guilgamesh. Espero conseguir acabar este belo trabalho. Não acabou – o poema é longo e cruza versões sumérias mais antigas e acádicas e hititas mais recentes – mas ainda assim avançou e deixou sequências integralmente traduzidas. Deu a conhecer parte do trabalho na colectânea organizada por Manuela Correia, Rosa do Mundo. 2001 poemas para o futuro (2001: 339-343) e no boletim A Phala (n.º 85, 2001: 27-8).
A edição do folheto de Fevereiro de 1991, A interrupção do pensamento índio, coincidiu com a febre comemorativa das viagens ibéricas, que teve o seu desfecho na Exposição Mundial de Sevilha, no Verão de 1992. Foi o suficiente para o grupo surrealista de Paris produzir uma declaração, “1492-1992 – tant que les voyageurs parviendront à se substituer aux voyants”, que Guy Girard enviou para a Rua Basílio Teles, depois de obtido o endereço junto de Vincent Bounoure, ainda activo – só faleceu em 1996 – e que conhecera o português cara a cara na sua casa de Paris no Inverno de 1970, espantando-se na altura com a mais fabulosa colecção de arte negra e da Oceânia (3-3-1970; Cartas de M.C. a C.S.). Expedida no final do Verão de 1992 – a carta de resposta é de 8-9-1992 e diz responder na hora ao envio vindo de Paris –, levava junto pedido de subscrição, que Cesariny assinou com gosto, acabando por ser o único português a fazê-lo. Apenas um bilhete para vos dizer que assino com todo o prazer a declaração que me anunciam sobre a “descoberta” da América por Colombo – disse ele na carta de 8 de Setembro, a mesma em que juntou o folheto português com a tradução do texto de Le Clezio, que na seguinte, de 15 de Outubro, classificou como “excelente maneira de cuspir na conquista e na colonização”. Os contactos com Guy Girard duraram até ao meado de 1994, num total de sete cartas, que tiveram depois por fulcro o inquérito que Mário Cesariny e Laurens Vancrevel, “Homenage a André Breton”, lançaram em Maio de 1992 e que foi mais tarde publicado pela revista Salamandra (n.º 6, 1993). Constituído por duas perguntas – “Qué debe usted, personalmente a André Breton?” e “Como ha podido la obra de André Breton influir, determinar su proprio destino?” –, teve 35 respostas, entre elas, a dos portugueses Lima de Freitas, Ernesto Sampaio e Eurico Gonçalves.
Neste início de década ele retomou Teixeira de Pascoaes e teve entre mãos o plano dum longo artigo sobre as traduções do poeta, primeiro em Espanha e França e depois na Holanda e na Alemanha. Era uma faceta do poeta do Marão mal conhecida e que lhe parecia crucial para se perceber como a sua estatura ia muito além da Renascença Portuguesa e da sua teorização lusocêntrica e havia interessado sociedades tão afastadas como a holandesa e alemã. Numa carta para Maria Amélia Vasconcelos de 24-9-1991 pediu-lhe o envio dum exaustivo conjunto de referências sobre estas traduções, que existiam na casa de Pascoaes e haviam pertencido ao poeta. As fotocópias pedidas ajudariam bastante o “artigo” que iniciei – afirma ele (Cartas para a Casa de P., 2012: 86).
É provável que este “artigo”, que então iniciou e não passou do estado de borrão inicial, se destinasse a prefaciar o epistolário do escritor alemão Albert Vigoleis Thelen para Teixeira de Pascoaes. Thelen, que viveu na casa de Gatão nos anos da segunda guerra, entre 1939 e 1947 e foi tradutor de Pascoaes para holandês e alemão a partir de 1936. O meu biografado depois de fechar no Verão de 1988 O virgem negra regressou à Biblioteca Nacional para conhecer o espólio de Pascoaes que estava a ser catalogado por uma bolseira e microfilmado pelos serviços da biblioteca. Interessou-se pela epistolografia e dentro desta pelo conjunto escrito por Thelen, que logo pensou passar a livro, interessando nisso a editora da Rua Passos Manuel. Numa outra carta para Maria Amélia de Pascoaes, esta de 2-10-1992, estava ele no rasto da tradução espanhola do São Paulo de Pascoaes, prefaciada por Unamuno, livro que estava na origem da paixão de Thelen pelo escritor português e que ele queria conhecer de perto. Na entrevista que então deu ao jornal A capital (19-8-1989) percebe-se que já andava a ler as cartas de Pascoaes na Biblioteca Nacional e com um plano para Thelen, acabado de falecer na Alemanha na Primavera: A correspondência de Pascoaes está a ser ordenada na Biblioteca Nacional com a ajuda da sobrinha do poeta… Dentro da desordem aquilo já está suficientemente ordenado para se fazer a brincadeira que eu fiz. Fui lá, pedi à família para tirar cópia das cartas. Gastei uma fortuna em fotocópias, dava para comprar um iate, mas fiquei a saber coisas lindíssimas, cartas do editor e amigo apaixonado dele, que o traduziu em alemão e holandês e fê-lo traduzir em checoslovaco. Um combate de amor pela obra de Pascoaes que só visto. Andou anos com estas cartas na secretária na esperança de as transformar em livro até que desistiu e através de Hermínio Monteiro me indicou a mim para fazer o livro, que saiu no Outono de 1997 e que foi o pretexto para ele me chamar nesse Natal à casa da Rua Basílio Teles. A desistência foi em 1995 – ano em que também pôs de lado o plano de fazer a antologia dos pré-rafaelitas, talvez para se centrar na tradução da epopeia suméria, que em 2000 ainda pensava completar, o que não aconteceu como o leitor já sabe. A hiena que o roera em Fevereiro de 1985 andava sempre a rondar na sombra, a ver se lhe deitava o dente de novo. Tinha desânimos, pessimismos, medos, pavores hipocondríacos – estes agora mais concretos com a ameaça da próstata. A epopeia suméria pode ter beneficiado duma viagem que fez em Maio de 1995 a Madrid, onde passou 15 dias em casa de Manolo Mateos e Pedro Polo, reviu os amigos do Grupo Surrealista de Madrid, Eugenio Castro, José Manuel Rolo e outros, e fez uma leitura na Residência de Estudantes, onde Pascoaes já havia estado em 1923 a ler palavras suas para uma audiência onde se encontrava Garcia Lorca.
Arruinei-me na tipografia para o imprimir – disse Cesariny na carta de 15-10-1992 para Guy Girard a propósito da edição do curto texto de Le Clezio em português. É força de expressão e não mais – como é expressão a “fortuna em fotocópias, que dava para comprar um iate” que gastou na Biblioteca Nacional para ficar com uma cópia da epistolografia de Thelen, a mesma que me foi entregue, anotada por ele a lápis, no final de 1995. Se momento houve em que a preocupação de dinheiro deixou de existir na sua vida foi este. Desde o final da década anterior que a sua pintura se vendia como nunca se vendera. As vendas nas exposições da galeria S. Mamede antes da revolução foram curtas e daí a violenta quebra que sofreu em 1975, em que voltou a não ter com que pagar a renda do minúsculo buraco que tinha na Calçada do Monte, tendo de recorrer para se poder manter a pedidos de dinheiro para a Holanda e a pedidos de subsídio à Fundação da Avenida de Berna. Depois da exposição que montara com Édouard Jaguer em Dezembro de 1984, em Lisboa, “Surrealismo e pintura fantástica”, surgira-lhe um galerista interessado em trabalhar com ele, José Carlos Cardoso, fundador em 1980 da galeria Neupergama, em Torres Novas. A partir do final de 1987, passou a expor várias vezes ao ano na galeria, cujo galerista lhe comprava em visitas regulares a casa e ao ateliê quase tudo o que ele punha na tela. No momento em que trabalhava nas traduções dos pré-rafaelitas criou várias composições que foram de imediato compradas – a “homenagem a Dante Gabriel Rossetti”, colecção de José Carlos Cardoso (falecido em 2010), foi exposta e reproduzida – e o mesmo aconteceu em outros momentos. As linhas de água, que ele datava de 1976, tiveram a partir de 1987 uma tal saída que quando se entrou na década de 90, após sucessivas mostras na galeria torrejana, qualquer linha de água que ele fizesse encontrava comprador. Quando se chegou à segunda metade da década, por vontade do galerista, Cesariny passava o dia na oficina a pintar linhas de água. Quanto mais fizesse, mais vendia. Sentindo-se preso à linha de montagem, parou uns anos com este modelo de pintura, diversificando para o lado da colagem e do poema-objecto, onde o acaso e a surpresa eram maiores, incluindo o fazer e desfazer das peças.
Com a roda-viva do dinheiro e a conta do banco a subir, em Setembro de 1992 fez a escritura da compra do andar da Costa Caparica, que foi a única compra vistosa que ele fez em toda a vida. Tinha o dinheiro no banco a apodrecer sem dar por ele. Continuou a dormir no mesmo catre de sempre, no quarto de entrada da casinha da Rua Basílio Teles, a servir-se da mesma mobília velha que viera da Rua da Palma e a vestir a mesma roupa usada, que não se distinguia muito da que usava em Londres e em Edimburgo no final da década de 60. Na entrevista ao jornal A Capital chegou a dizer e numa altura em que já vendia o que queria: O dinheiro não resolve nada e até complica. Juntou porém: Mas é preciso chegar a essa complicação.
A Caparica não era novidade na sua vida. Nos tempos da escola António Arroio e do grupo dissidente desandava para lá na companhia de Cruzeiro Seixas, de António Paulo Tomás, da Fritzi, de Fernando José Francisco e da namorada deste. Acampavam nas dunas ou alugavam por uns tostões a cabana dum velho pescador – era o tempo em que estes viviam ainda em cabanas nas dunas e tinham currais com vacas que serviam para puxar os barcos, todos a remos, na areia, pondo-os a salvo da força da preia-mar. Mais tarde, na década de 60, quando a vila perdia já o semblante milenar e se motorizava, ao mesmo tempo que cresciam no horizonte bairros novos, ele regressou, decerto pelos mesmos motivos que o levavam na mesma época a Sesimbra e mais tarde a Peniche. Sempre afirmou que os homens do mar gostavam de fazer amor com homens. Casavam, punham casa, tinham filhos, mas amor físico de perder a cabeça, amor de gritar, era com homens não com as petingas de xaile, lenço e tamancos que tinham em casa e lhes serviam para cozer a roupa e manter a casa, onde raramente vinham. Até a comida – dizia – o homem do mar gostava de cozinhar e comer entre homens. Mais tarde, na década de 80, quando a vila se transformara já num amontoado de prédios horríveis, passou a veranear lá com a mana Henriette, hospedando-se em casa dum espanhol, Paco, dono dum bar de homossexuais, “O duche”, que ficava numa das entradas da povoação e era frequentado por José Manuel dos Santos e Francisco Relógio, que tinha um apartamento na povoação. Pelas cartas que escreveu para o casal holandês fica a saber-se por exemplo que passou todo o mês de Setembro de 1982 na Caparica – “numa casa perto da praia, casa bem bonita” – e que o mesmo aconteceu entre Julho e Agosto de 1989, desta vez na companhia da mana Henriette.
Ele detestou as modificações que viu sucederem-se no povoado ao longo de meio século – ia para lá desde o início da década de 40 – mas mesmo assim nunca desistiu dele e aceitou mesmo comprar lá um andar quando teve dinheiro e o espanhol que lhe alugava casa se foi embora. Precisava de mar e a Caparica dava-lhe linha de água, oceano sem fim e um fio de costa que lhe alimentava um imaginário arcaico, que mais nenhuma costa nas imediações de Lisboa lhe era capaz de dar. Havia depois a recordação das praias selvagens do Norte da sua infância – Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Moledo do Minho, que lhe entranharam para sempre as primeiras linhas de água e o gosto a sal e a esperma. Uma pintura dessa época final – “Chegada dos Romanos à Costa da Caparica” – dá a ver a proa fálica a sair do azul, o desembarque do triângulo humano e a incandescência do caracol solar. Apesar de encoberta pelo ocre da terra, a procissão das Naniôras está muito perto e cada uma delas vai de vela acesa na mão, patinhas felinas de veludo, a tocar ao de leve na areia mansa das dunas.
Se as transformações do povoado da Caparica ao longo das décadas o chocaram, mais ainda lhe custou o que se passou na cidade natal. Ele vinha duma Lisboa hoje inimaginável, com a Mouraria viva, inteira, sem a razia do Martim Moniz, a Praça da Figueira com o mercado e as ruas da Baixa com mulheres de avental preto e canastra à cabeça. Passou a juventude a queixar-se da pequenez da cidade e a pensar em Paris, e mais tarde em Londres, mas adorava os recantos da Lisboa popular, os cafés do Rossio e da Avenida, as tabernas do Cais do Sodré e do Bairro Alto, a chegada da fragata do Alfeite, os cacilheiros, os urinóis, os cinemas baratos, as sessões da meia-noite, os bairros velhos e encavalitados nas colinas, com telhados reluzentes e vermelhos como escamas de peixe. Essa cidade humilhou-o na Primavera de 1953, com o Torel e as apresentações, mas proporcionou-lhe também o encontro com um feérico diadema chamado Titânia, que o transformou no Titanin que possuía todos os poderes da beleza e da magia, antes de mais o poder de voar com grandes asas de luz por cima das reluzentes colinas da cidade. Foi a Lisboa operária e rasca que fez dele um prestidigitador e lhe deu as duas grandes alegrias da vida – a poesia oracular da sua juventude e o amor de aluguer – a musa e os Antínoos que vinham do Alfeite e de Cacilhas. Ora a década final do século XX viu essa Lisboa começar a mirrar. O seu enterro fez-se com a chegada em força do turismo já na segunda década do século XXI mas a sua agonia começou antes, na década de 90. Fecharam os cafés, as tabernas, as mercearias, os cinemas de bairro; em seu lugar, surgiram bancos, supermercados, garagens, bares de balcão de alumínio, discotecas. Nesse período desapareceram também os derradeiros urinóis nos jardins, nas praças e nas gares, substituídos por cubículos individuais com chave e funcionário. O mesmo se passou com os quiosques de ferro, que vendiam tabaco e bebidas noite dentro. A antiga fauna da noite lisboeta que alimentava estes lugares, constituída por carteiristas, pegas, aldeões de passagem, soldados, bêbados, chulos, marinheiros e outros, estava agora reduzida a um clube de gente fina, a mesma que ao fim da tarde passava pelo Grémio Literário do Chiado e que tomara de assalto os novos lugares da noite, expulsando a gloriosa gesta marginal do passado, que se sumiu em pouco tempo debaixo da terra deixando atrás de si um silêncio de sepulcro e de esquecimento. Só Cesariny os chorou e lhes lavrou um compungido e sonoro necrológio!
Numa entrevista de 1994, ele deu conta das transformações da paisagem da sua Lisboa deste modo (Público, 12-11-1994): Cheguei a odiar ir ao Bairro Alto, porque o Bairro Alto que eu conhecia, sobretudo a partir do início da guerra de África (porque antes disso a polícia batia nos civis, batia nos militares, na marinha; quando veio a guerra de África a coisa virou: eram os militares que batiam e faziam fugir a polícia), era todas as noites magnificamente povoado por uma gente que eu continuo a considerar a mais interessante que se pode encontrar: putas, chulos, gatunos e marinhagem. Uns príncipes. Descendentes todos de instituições sagradas, milenares. Desapareceram. Sinto a falta dessa gente. Agora, quando vou ao Bairro Alto encontro umas pessoas que compram um fatinho para ir ao Frágil e a outros Frágeis. Não tenho nada contra o Frágil. Mas chego ali e noto ausências.
O que mais lhe custou foi o fim dos Cafés. Era um homem de Café. Nascera e fizera-se no Café. O primeiro grupo que teve – não tinha sequer 20 anos – foi uma roda de Café, na Avenida Almirante Reis, que nunca mais esqueceu. Em 1970, no catálogo à exposição de Seixas “20 bules e 16 quadros”, recordava-o com uma insistência que só podia ser paixão. E nas entrevistas finais, a 60 anos de distância, retomou-o com uma nitidez, uma precisão de quem andava todos os dias com o assunto. No Café recebeu de O’Neill a revelação do surrealismo e em Cafés se formaram os dois grupos surrealistas da década de 40. Num gabinete do Café Royal, todo espelhado, recebeu a visita de Titânia e aí traçou o seu destino rente às escamas dos telhados de Lisboa. Foi no Gelo, um Café, que se formou em seu redor um novo grupo surrealista, na segunda metade da década de 50. Cafés sempre! Adorava ainda as leitarias de bairro, sem nome nem prestígio, que ficavam abertas até altas horas e onde fazia sala a chungaria da vida nocturna. Já depois da revolução foram estes os seus clubes políticos, que só depois das primeiras verbas e directivas de Bruxelas começaram a desaparecer. A sua última glória foi um Café, melhor, uma leitaria de bairro, o Rei Mar, na Rua do Telhal, derradeiro refúgio duma zoologia fantástica em extinção acelerada. Era mais um navio de espelhos, com portas moles e vibráteis como barbatanas, que deixavam entrar uma fauna marinha de tritões e nereides, duendes corcundas e peixes de mãos nos bolsos. Era o concílio dos deuses marinhos sem qualquer “rei do mar” no centro! Sofria sempre que via um Café entaipar e ser substituído por uma dependência bancária, um balcão de seguros, uma loja de informática, um armazém de electrodomésticos. Sentia o desaparecimento de cada Café com a mesma dor com que sentia a morte dum ser humano. José Manuel dos Santos, que o viu no tempo da revolução e ainda fez vida nos Cafés com ele, disse-me que à medida que a década avançava e os Cafés fechavam ele declarava que o estavam a expulsar da cidade. A sua aura de poeta – ó senhores das letras e da crítica – não foi um mero verso escrito mas as conversas loucas que improvisava nesses botequins de ocasião e pelas quais teve de pagar o elevado tributo que Platão cobrou na cidade aos poetas – expulsão!
O fecho do século XX foi amargo. O semblante urbano era arrasador e a vida nocturna estava resumida àquele Frágil que passou a ser o centro dos encontros no Bairro Alto. Era a chegada em força da cultura “gay”, de que ele tanto desconfiara em Londres e em Nova Iorque. Detestou-a de vez e sem remissão na Lisboa desta época, resumindo-a no fatinho larica que se ia comprar ao pronto-a-vestir para se pôr o pé nos novos bares do Bairro Alto. Quando comparada com a gloriosa homossexualidade de pé-descalço que conhecera na companhia da marinhagem e dos pescadores de traineira, e que sobrevivera até ao final da primeira metade da década de 80, esta nova cultura homossexual, enquadrada e legislada, pareceu-lhe miserável e mesquinha. Sentia-se nela e nos seus espaços como um leão da selva se pode sentir numa gaiola de jardim zoológico! Triste, fastiento, enojado!
Ademais, os amigos morriam. Eram como os Cafés – desapareciam uns atrás dos outros! Pepe Aranda, que se fora em 1989, abrira porta à mofina, que nunca mais desandara. Em Fevereiro de 1992 morria em Coimbra com 50 anos, esquecido de todos, o editor Fernando Ribeiro de Mello, que editara em 1965 a antologia de poesia erótica de Natália que lhe valera um longo e doloroso processo judicial que acabara em prisão e multa. Pelo meio houve o panfleto de 1968, “As avelãs de Cesariny”, mas também a reconciliação depois do tribunal plenário de 1970, com a sua presença em vários dos eventos da editora Afrodite. Dias depois, numa fria manhã de Março de 1992 partia em Paris a Grafiaranha, que fora a sua mãe de espírito. Para bem dizer só nesta altura ele perdeu de todo a mãe. Antes continuava a ter a sombra tutelar duma Penélope a tecer por ele na cidade de Paris. Nesse mesmo ano, em Novembro, morreu Fernando Alves dos Santos, um dos membros do grupo “Os Surrealistas”. Era um irmão que partia sem mesmo dizer adeus. Sentiu a sua morte e deixou escrita em duas cartas a sua dor e a sua revolta contra o silêncio que se lhe fez em volta. Numa delas disse (carta a Miguel Pérez Corrales): Morreu o Fernando Alves dos Santos, um belo companheiro das lides do 1.º para o 2.º meio século – do surrealismo que houve (…). Nem uma linha. No ano seguinte, o dos quarenta anos da partida do argonauta de Ossóptico, luto de lhe serrar a alma de que nunca se livrou desde 1953, viu ir-se embora Natália Correia, a Feiticeira Cotovia, a quem tanto favor devia – a edição da grande antologia de Pascoaes em 1972 e a tradução dos poemas de Buñuel em 1974 foram oferta dela – e que continuou sempre a ver com altos e baixos quase até ao final da vida, passando de vez em vez pelo Botequim do Largo da Graça, que ficava quase ao lado do ateliê da Calçada do Monte. Um ano depois foi Virgílio Martinho, de quem editara a estreia em 1958 e com quem se zangara 10 anos depois. Não mais se falaram mas ficaram a ver-se à distância com a nostalgia danada que só se deve aos grandes e inconsoláveis amores. No Verão de 1995 foi o brutal suicídio de Ricarte-Dácio, o rapazinho da Rua Walton, a quem ele devia o regresso à luz e à vida depois da carbonizada escuridão de Fresnes e que fora durante os últimos anos o companheiro de mesa de Virgílio Martinho. Tinha 60 anos, uma mãozinha soberana de leão e um peso sem nome no coração. Matou a tiro a mulher, o filho que adorava e o gato, antes de dar em si o último disparo. Estava afastado de Dácio desde as guerrilhas do final da década de 60 mas sentiu-lhe tanto o abalo da morte que não foi capaz de ficar calado; precisou de deitar ao papel uma palavra. Dedicou-lhe as reedições de Pena capital, com uma dedicatória sofrida e vertical – “In Memoriam de Ricarte-Dácio de Sousa” – que desafortunadamente saiu da edição da poesia reunida de 2017. Anos depois ainda falava assustado do sucedido. Em 1997 mais duas mortes. Em Lisboa morria Al Berto, que ele costumava encontrar no Frágil e que era editado por Manuel Hermínio. Foi à Basílica da Estrela sentar-se ao pé do féretro e dizer-lhe um último adeus, incomodado com a vida mais do que com a morte. Em Espanha desaparecia Philip West. Gangrena de antiga chaga contraída no mato venezuelano e nunca sarada? Cancro? Embora! Foi ferida que o roubou de supetão, quase sem tempo para se despedir. Era um rapazinho que nem ao meio século de vida chegara, aliás como Al Berto. Cesariny, que o notara por meio de Laurens Vancrevel, sempre gostara dele e recebera-o em Dezembro de 1993 na oficina da Calçada do Monte, onde o seu nome ficou pintado em alvas letras na primeira linha de honra dos seus convidados. No ano seguinte desaparecia Carlos Eurico da Costa, que tivera um papel fulcral na sua vida da década de 40 mas que morrera para ele há muitos anos, no momento em que escrevera o muito digno poema “Do capítulo da devolução”, que abre “Hoje venho dizer-te que morreste” e que integrou logo a primeira edição de Pena capital. Só depois da morte física do antigo amante, por quem muito chorou mas de quem se afastou sem um ai, o poema lhe foi explicitamente consagrado, “para Carlos Eurico”.
Esta razia de gente e de lugares destroçou-o. Chegou ao final do século queixoso, com a hiena dos nervos e do pessimismo a rondar-lhe a carcaça ameaçada. Sentia-se homem dum outro mundo, sem lugar neste que estava a entrar e que lhe parecia ainda mais execrável do que aquele que ele havia no passado detestado. Deixou quase de ir à oficina da Calçada do Monte, agora a infinita distância da Rua Basílio Teles, mesmo de táxi. Adaptou o quarto e passou a trabalhar em casa. Não tinha já pachorra para tratar da limpeza da oficina nem tão pouco para se deslocar. Perdera o interesse e a vontade. Juntava a melancolia do final do século com a dos poetas que se afastam da miséria do mundo para olhar uma estrela e adorar uma rosa. Os editores da Rua Passos Manuel falaram com João Soares, na chefia da Câmara de Lisboa desde 1995. Deram-lhe um espaço no Bairro do Arco do Cego, perto do Campo Pequeno, que ele ainda frequentou mas a que não se chegou a ajustar. Faltava-lhe vida local, o sainete popular, o verdete da velharia, que fora o grande ingrediente que o levara a aderir ao cubículo da Calçada do Monte. Só via carros ferozes à volta, de caninos à mostra, a rosnar – ele que nunca metera mão em volante de automóvel – e multidões caladas em movimento. Acabava por preferir trabalhar em casa, no velho quarto em que dormia, lia, fumava e recebia os amigos, o mesmo onde outrora, nos anos escaldantes da mudança da Rua da Palma, tocara piano para as estrelas do céu de janelas abertas. A falta de forças e o desânimo prendiam-no ao buraco onde dormia, dando-lhe a enfadonha sensação do leão enjaulado, a mesma que por ele formigava quando o levavam aos novos bares do Bairro Alto.
Tinha porém uma consolação – a irmã Henriette, que continuava a seu lado, igual ao que fora desde sempre. Pequenina, firme, perfumada e muito arranjada, continuava a meter a mão na cozinha e a fumar na boquilha preta os seus cigarros de fumo azulado que em vez de nicotina pareciam ter bálsamo. Sinalizava o passado e tornava presente o que se perdera. Era a grande alegria da sua vida e por isso tinha com ela às vezes pequenas e familiares disputas em torno duma saída, duma compra ou duma peça de vestuário. Nada ajuda tanto a alegria como um curto amuo. Mesmo as duas mães – Mercedes e Vieira – continuavam vivas na figura pequenina e aristocrata da mana. Ao lado dela, continuava a ser o menino das manas e da mamã, com um jeito descontraído de pequeno príncipe. Quem os visse juntos, a meterem-se um com o outro, no corredor da casa, dizia que eram dois jovens risonhos que andavam a brincar com caraças de velhinhos – ela muito pintada e envernizada como uma bonequinha de barro e ele de farripas brancas, nariz adunco, testa alta e sem cabelo, boca encovada, cara descarnada, ossos salientes, lábios sumidos, como um feiticeiro mascarado – o Copélio das óperas italianas, dando vida no seu laboratório aos seus desenhos autómatos.
Havia ainda os editores, Manuel Hermínio Monteiro e Manuel Rosa, e as respectivas mulheres, Manuela Correia e Ilda David, que lhe faziam companhia, o levavam a fazer viagens de carro, o iam pôr e buscar à Costa da Caparica, lhe faziam compras e lhe tratavam de assuntos civis. A sua pintura vendia-se e as exposições sucediam-se. O mesmo para as edições e para as entrevistas – em 1998 passava o cinquentenário do G.S.L. e logo o das acções da Casa do Alentejo e da exposição da Rua Augusto Rosa. Houve pelo menos dois espectáculos de palco com textos dele, O gato que chove, no Teatro Villaret em 1997, encenação de Maria Emília Correia, e Cabaret surrealista, no teatro Gil Vicente, em Coimbra, em 1998, com montagem e encenação de Nuno Pinto. Na Primavera de 1999, veio a reedição de Pena Capital, com lançamentos no Porto e em Lisboa, aqui num bar do Bairro Alto que pertencia à editora da Rua Passos Manuel, a Assírio Líquida. No Porto, no lançamento de Pena Capital, a 8-5-1999, na livraria que a editora então tinha na cidade, reencontrou ao fim de muitos anos Eugénio de Andrade com quem se zangara em 1951 por causa do livro As palavras interditas. No início do Verão de 2002, Um auto para Jerusalém foi de novo à cena, desta vez no Teatro Nacional D. Maria II, por sugestão de João Grosso e com encenação de Nuno Carinhas. Mas isso era o que menos lhe interessava; era por vezes até o que mais o aborrecia. Simpatizava com os malditos e no fundo custava-lhe não acabar esquecido como um Fernando Alves dos Santos, que no final da vida nem editor tivera para um livro de poemas. Por isso na carta a Peréz Corrales em que se queixou do silêncio que rodeou a partida deste seu companheiro juntou: Apega-se-me a ideia, horrível, de que esta gente só se ocupa de mim, porque eu não morri, a tempo e horas, como devia! “Esta gente” eram os que o editavam, expunham, compravam, liam, analisavam, comentavam, encenavam, musicavam, entrevistavam, fotografavam, filmavam – sempre a bater palmas. Quando o premiaram com dois prémios, um para a pintura e outro para a literatura, traduziu este sentir da seguinte forma (Expresso, 20-11-2004): Começo a ficar irritado com tanta adesão à minha pintura, literatura… Mas de revolução ninguém fala. Habituara-se a crer que a glória não era a obra mas o nojo dela e por isso se desagradou com esse cortejo final de atenções. O tempo é a punição da beleza e as homenagens e os prémios são o castigo do génio!
Embora sem ser convidado oficial, o seu nome não figurava entre os 55 escolhidos, esteve com os seus editores em Março de 2000, em Paris, por ocasião do Salão do Livro de Paris. Teve nessa altura o último fôlego em torno de Guilgamesh, pois ficou então na posse das versões decisivas do poema. Andou com Manuel Rosa pelos alfarrabistas da margem esquerda, foi com ele à Biblioteca Nacional de França, consultou e fotocopiou as versões que lhe faltavam conhecer mas ainda assim nunca chegou como o leitor sabe a completar a sua versão. Dessa viagem a Paris ficou fotografia dele, tirada por Manuel Rosa, em frente da Torre de Saint-Jacques e que ilustrou nesse Outono a capa da reedição d’ A cidade queimada. É o mago, o primeiro arcano do baralho do Tarot, dominando todo o que está diante de si e tendo por detrás o poder da Torre. Nunca como nesse momento ele teve na mão a varinha mágica de prestidigitador e na mesa o oiro, a espada e o vaso que são os quatro cantos do mundo e os quatro elementos da matéria.
Pouco depois, na manhã de 24 de Maio de 2000 meteu-se com a mana Henriette no jipe de Manuel Hermínio e Manuela Correia. Agora tinha por destino o Museu Vostell de Malpartida, em Espanha, perto de Cáceres, onde decorria um cursilho, El surrealismo en Portugal: La estirpe de los argonautas, financiado pelo governo regional e para o qual era convidado especial. Reencontrou à chegada Ernesto Sampaio, também convidado, que dissertara no dia anterior no mesmo acto. Acabara de perder há pouco, em Janeiro, de supetão, sem esperar, o grande amor da sua vida, a actriz Fernanda Alves, que Cesariny conhecera às mesas do Café Gelo e com quem convivera no cubículo ao lado do Aljube, antes da ida para Paris no Inverno de 1964. Estava destroçado e inconsolável. Balbuciava a sua dor num monólogo líquido, contínuo, em que parecia repetir sempre a mesma infinita e felina palavra, “Fernanda”, cujo eco não lhe saía da cabeça. Nas guerras da edição do Sade de Ribeiro de Mello, em 1966, nos duelos com Luiz Pacheco e Virgílio Martinho em 1968, Cesariny e Ernesto Sampaio ficaram em distintos campos, desconfiados, agastados, pirrónicos. O velho senhor da Rua Basílio Teles chegou a mesmo a ir-lhe às orelhas no tempo da saída do primeiro número da revista Sema (Primavera, 1979), não o poupando numa folha que então distribuiu e em que lhe chamou Ratinho Pico. Agora porém tudo era diferente e o abraço foi de parte a parte sem reservas.
Nessa tarde foram a Badajoz, porque o curso previa visita e actividades no Museu da cidade. Viajaram com cerca de 30 pessoas numa camioneta oficial que o governo regional pôs à disposição. Cesariny e Henriette fumaram o tempo todo, dizendo graças e levantando-se para falar com os jovens que estavam na parte de trás. Em Badajoz ela foi fazer compras nas lojas do centro e ele foi fazer um recital de poesia ao Museu da cidade com Manuela Correia e Perfecto Cuadrado. Regressaram a Cáceres para jantar num restaurante da cidade antiga e os dois irmãos ficaram instalados no Hotel V Centenário. O curso continuou no dia seguinte nas instalações do Museu Vostell com mais intervenções e um almoço no centro de Cáceres, na Plaza de San Juan, onde de seguida se passeou. Lembro-me de o ver ao pé da fonte em pedra do jardim a recitar versos, talvez de Lorca e Buñuel. Estava melancólico – nunca mais se libertou da melancolia, que foi para ele nesse fim de vida a forma suportável da acrimónia – mas feliz. Gostava das asperezas pétreas da língua espanhola, língua da sua linhagem, os Escalonas de Hervàs, e que condizia muito bem com o alvará, a estrela da sua revolta. O que nele havia de sal e de cristal, de duro e de resistente, revia-se nessa língua que se criara no bojo de inacessíveis montanhas e se desenvolvera nos planaltos áridos e desertos do interior, onde só corria o vento seco e o pó. Chorar, chorava em português, com o murmúrio das ondas e a renda duma camélia de espuma, mas para gritar a solidão da revolta e da vida só mesmo a rosa de pedra do castelhano – e assim fez num poema d’ O virgem negra. Fosse como fosse, uma e outra se haviam tornado línguas de conquista e morte no Renascimento. Assim sendo, não queria nem uma nem outra. Aspirava a uma terceira língua, toda poética e virgem, toda inocente, sem manchas secas de sangue nas mãos, feita só de poesia, uma língua mágica, infantil, pré-babélica, a língua de mago que ele entreviu nos poemas do livro Alguns mitos maiores alguns mitos menores e nos saltos que fez com Rimbaud por transposição fonética.
Um mês depois fez nova viagem a Amarante de novo na companhia de Manuel Hermínio e Manuela Correia. Iam agora a convite do presidente da Câmara da cidade, Armindo Abreu, apresentar um novo número da revista bilingue publicada em Badajoz, fundada em 1987, Espaço/Espacio escrito – este, número duplo, com matéria sobre Teixeira de Pascoaes. Era o início do Verão, a luz chegava ao apogeu, as árvores tocavam no cimo. Ninguém queria espaços fechados e sombrios e não tardou que o grupo fosse para uma esplanada ao pé das águas do Tâmega, nas traseiras da igreja de São Gonçalo. Ángel Campos Pámpano, o director da revista, via pela primeira vez os infinitos verdes de Amarante mas Cesariny já em Março de 1950 lá estivera com Eugénio de Andrade e Eduardo de Oliveira, tendo depois regressado vezes sem conta. E o mesmo para Manuel Hermínio Monteiro que sempre que saía na meninice para o Porto atravessava o rio Tâmega em Amarante. O grupo foi depois jantar para a parte nova da povoação, na saída para Vila Real, e a ele se juntou Maria José Teixeira de Vasconcelos, a sobrinha dilecta de Teixeira de Pascoaes e que órfão de pai à nascença fora criada junto do tio na casa de Gatão. Era então quase nonagenária mas tinha uma rijeza sóbria que a irmanava aos grandes sobros centenários que bordejavam o caminho de Gatão que levava à casa de Pascoaes e que ela conhecia de pequenina. Vivia entre Amarante, onde casara, e o Porto, onde tinha casa, escrevendo e contando memórias do tio. Sentou-se em frente de Manuel Hermínio, que acabara de cativar em 1998 para a sua chancela os direitos exclusivos da edição de Fernando Pessoa e estava agora a editar a obra pessoana, grande aposta do momento da casa da Rua Passos Manuel, que arranjara entretanto novas instalações na Baixa lisboeta, na Rua de São Nicolau. A certa altura, a meio da refeição, a sobrinha de Pascoaes deixou uma pergunta ao seu conviva da frente: – “ Então agora só se lhe interessa Fernando Pessoa?” Manuel Hermínio deixou cair um “oh” de surpresa, de escândalo quase, e tentou justificar-se. Do alto dos seus quase 90 anos, a vetusta senhora calcou mais: – “Você agora só gosta do Pessoa… Deixou e abandonou o Pascoaes!” Estava sentado eu ao lado esquerdo desta ilustre dama e quase diante da cara de Manuel Hermínio, que pouco já conseguia engolir e se limitava de quando em vez a dar o seu “ó” de aflição. Tranquila, sorridente, afável, Maria José continuava a trincar com apetite. Ela que servira uma chávena de café quente a Raul Brandão, brincava com um menino que só nascera muito depois da segunda grande guerra e ainda corava nas grandes e carnudas bochechas quando se metiam com ele.
A verdade é que mal fazia ela ideia que um ano depois o editor da Rua Passos Manuel já não era do número dos vivos. Nesse Verão, aquele em que Cesariny levantou a voz contra a Câmara de Oeiras e o Parque dos Poetas, já em Lisboa, sentiu perturbações intestinais. Pensou que se tratava dalguma avaria de momento. Fazia transmontanas petiscadas que levavam longas horas a digerir. Era um Suevo duriense de barba rala, traçado de berbere, habituado a meter dente em javali e pedra, mas que também podia entrar numa ópera galante de Verdi. Foi ao médico, fez exames. Não tardou a ser enviado para oncologia, com o mal alojado nos intestinos. Cada vez mais apagado, passou o Inverno a tentar resistir ao cancro, com sessões de quimioterapia, mas não chegou ao Verão. A 3 de Junho de 2001 partiu para sempre, diante da surpresa dos mais próximos. Tinha 48 anos e ainda na Primavera anterior com as rosadas bochechas de menino que tinha cruzava a toda a velocidade as estradas da Ibéria no seu jipe como se tivesse para viver outro tanto. Três meses depois, a 10 de Setembro, dia em que faria 49 anos, Manuel Rosa, agora à testa da editora, e Manuela Correia, a viúva, com apoio da Câmara de Lisboa, homenagearam-no no Fórum Lisboa, na Avenida de Roma. A sobrinha dilecta de Pascoaes veio de Amarante e foi a primeira a chegar. Não acreditava no que se passara e abraçou-se a chorar a Germana Tânger, que participava no espectáculo de homenagem – recitou poemas de Almada e de Sá-Carneiro, autores da casa da Rua Passos Manuel – e era uma velha e nunca esquecida amiga sua.
Cesariny ficou destroçado com a morte do seu jovem pilar. Desde há mais de 20 anos, que Manuel Hermínio era o eixo em torno do qual a sua vida encontrava forças para prosseguir. Nada fazia sem o seu apoio. Para a mana não ter de cozinhar, ele até comida lhes ia pôr a casa. Outras vezes pegava em ambos e levava-os aos restaurantes próximos donde traziam as sobras que davam para a refeição seguinte. A morte de Ricarte-Dácio afectara-o e deixara-o meio enublado – era alguém a quem ele devia nada menos do que Londres. Remordeu a sua morte até com alguma amargura, pois desde as guerrilhas da década de 60 e depois da galeria S. Mamede que se haviam afastado um do outro. A morte de Hermínio foi porém mais difícil. Sentiu-a quase como a morte dum filho. Conhecera-o com 24 ou 25 anos, quando ele depois de ler António Maria Lisboa escrevia em fogo e de olhos fechados poemas automáticos, e perdia-o quando nem sequer tinha meio século de respirar ar. Fez-lhe um poema objecto – pluma negra, moldura dourada, caricas circulares e pedra endovélica – a que chamou “Memória para Manuel Hermínio Monteiro”. É um objecto para o luto, um memorial sinalizado a preto, com um ser que tapou o rosto e voltou costas ao mundo para caminhar para o além. E dedicou-lhe ainda uma edição da The ted oxborrow’s… – caderno de oito páginas, datado de Setembro de 2001, reunindo os poemas escritos pelo editor entre 1977 e 1979, aqueles que ele mais gostava – com a ajuda de Manuela Correia, que se tornou ainda mais assídua na Rua Basílio Teles. Amortalhavam ambos o mesmo corpo em lágrimas – ele como pai, mas um pai que era uma mulher, ela como simples mulher.
De imediato, no final do mês de Outubro, foi a morte de Granell, em Madrid. Tinha quase 90 anos e morte anunciada. Assim como assim, ele, no covil da Rua Basílio Teles, sentiu-lhe a pancada. Era mais um que se ia e o deixava mais sozinho. Desde a chegada de Granell a Madrid na segunda metade da década de 80 que os contacto com Portugal se haviam estreitado. Ainda nesse Outono viu rolar outra cabeça. Ernesto Sampaio, o rapazinho do Café Gelo que ele abraçara em Cáceres em Maio do ano anterior, voltava costas à vida e ia ter com o seu amor, cujo nome sempre soletrado lhe dizia em obsessivo eco, cada vez mais insistente – “anda”, “anda”, “anda”. Tinha 65 anos e perdera qualquer gosto em se ver à luz do Sol. A morte roubara-lhe o amor; logo só via como solução entrar ele na morte à procura do amor que perdera. Era um Pedro tresloucado à procura nas tumbas terrosas de Santa Clara o oiro brilhante, o Sol esplêndido da sua Inês. Para apressar a viagem aos subterrâneos do amor e abrasar-se na sua perdida estrela, o novo Orfeu encharcava-se em álcool. Descobria neste a essência estimulante do espírito, a “luz central”, o fogo em que a alma se desprendia do corpo e ficava solta para a sua busca de além. Muito mais terrível que a de Antero, a bala de Dácio quando explodiu abalou os centros nervosos de Cesariny mas o veneno tóxico de Sampaio, destilado a gota a gota, não lhe fez tremer menos as entranhas. Viu ante si o desvairo dalguém que corria todo nu para o coval – amor e morte num só ser, cavalo e cavaleiro à desfilada e ao longe, num penhasco de pedra, à luz duma sucessão de relâmpagos nocturnos, a beleza electrizante dum cadáver, o de Inês, o de Elisabeth Sidal, o de Fernanda Alves. Gestos assim sideravam-no e contagiavam-no. Arrepiado, punha-se a balbuciar no escuro de forma automática um nome e um verso. Além de cego, o amor é mudo e só a poesia o faz falar.
Lisboa continuava a mudar para pior. Ele sentia-se expulso dos últimos redutos em que se acantonara na década passada. No século XXI já não havia cafés, jardins, ruas e vielas. O Cais do Sodré desaparecera. Tiravam-lhe tudo. Até a livraria da Rua Passos Manuel perdeu ar. As tensões que se seguiram à morte de Manuel Hermínio e que acabaram por levar ao afastamento de Manuela Correia inquietaram-no. Fechou-se mais em casa. Recebia por um lado a visita de Manuel Rosa e Ilda David e por outro de Manuela Correia. As duas partes não se falavam e ele era obrigado a ouvir as queixas dos dois lados. Ainda tentou fazer o papel do conciliador mas desistiu. Sentia-se frágil. Perdera muito e os tempos iam cruéis. Como quer que seja, a sua estatura crescia e a sua palavra era ouvida. Nesse Outono de 2001 teve ainda forças para fustigar a exposição “Surrealismo em Portugal 1934-1952”, comissariada por Maria de Jesus Ávila e Perfecto Cuadrado e que esteve no Museu do Chiado. Na origem do protesto estava de novo a historiografia de França que ainda tinha discípulos influentes e movia junto do poder os seus peões. Procuravam-no para entrevistas, fotografias, declarações e até a R.T.P. chegou a pensar retomar o projecto do filme que em 1984 fora abandonado. Como quer que seja, foi por meio dum concurso do Instituto Nacional do Livro e das Bibliotecas que chegou um primeiro documentário nesta época sobre ele. A realização foi entregue a Perfecto Cuadrado e estreou em 2002 com o título “Ama como a estrada começa”. Na mesma época um jovem cineasta, Miguel Gonçalves Mendes, começou novo filme com ele, “Autografia”, que estreou em Maio de 2004, na Cinemateca. Meio século depois das correrias na Baixa lisboeta e das primeiras desilusões que o levaram ao Café Royal, as luzes fortes, cruas e ostensivas da primeira linha do palco incidiam em cheio nele. Muitos acorriam a conhecê-lo. Batiam-lhe à porta e ele abria. Às vezes retraía-se – uma vez estava a almoçar sardinhas foi à porta e limitou-se a dizer “é favor não incomodar” – mas em geral escancarava a porta. Tinha uma carência grande de afecto e de se ver rodeado de amigos de quem gostasse. Rapaz que o procurasse duas vezes de seguida, o que do seu ponto de vista era já desassombro, passava a ser recebido no seu forte com uma demorada vénia que tinha tanto de venerável como de humilde. Não havia nele qualquer necessidade de ser admirado, impulso cego que destrói tantas biografias de escritores. O que existia nele de forma heróica era a vontade de admirar. Sexualmente sempre se preocupara em dar prazer e pouco em receber. Se a sua melhor língua foi selvagem e pré-babélica, não portuguesa e não civilizada, uma língua que nada queria saber do mar português mas apenas da floresta primitiva, também a sua sexualidade foi titânica e hermafrodita e nada há nela de doméstico e de reconhecível. Foi nestas levas finais que lhe chegou um rapazinho, Jorge Perestrelo, filho dum antiquário lisboeta, a quem se ligou de perto. Era ele que muitas vezes o incentivava a sair, o ajudava a vestir-se e o levava sair, fosse ao Arco Cego, fosse a exposições; era ele que lhe dava ainda a última ilusão de estar rodeado duma gente gloriosa que tinha a aura luminescente da marinhagem fadista doutros tempos, essa que lhe havia dado à beira Tejo a sua arrojada e brava Titânia.
Em Novembro de 2002 visitei-o de novo em casa. Embora invisíveis, havia crepes de luto no corredor. Recolhida na sala, Henriette soluçava a morte dalguém. Ainda tinha lágrimas para chorar nos olhos de porcelana – ou ao menos ainda se comovia com a notícia duma morte. Morrera-lhe um familiar, um cunhado próximo – o marido da irmã Maria del Carmen. O irmão encolhia os ombros e guardava para si as palavras. Hoje eu sei que estivera com esse seu cunhado na Bélgica na ida ao festival de Roterdão, em Junho de 1974 mas na altura não o sabia. Percebi porém que a vida tal como se dava a ver era para ele um abuso sem desculpa. Transformá-la numa anedota era a tarefa do poeta. O problema do Mago não era a morte mas a vida. Copélio sabe dar vida aos mortos mas não estrelar um ovo. No chão do quarto, ao lado da cama, tinha um poema-objecto com a inscrição: Lancelote do Lago. Era um brinquedo de criança, um mundo paralelo e em miniatura. Espalhadas pelas mesas e pelo chão estavam as folhas da sua homenagem a Timothy McVeigh, condenado à pena capital e executado por injecção intravenosa em Junho de 2001. O jovem impressionara-o – não o carrasco, não o militar, mas a vítima da pena capital, que agonizara cerca dum quarto de hora. Pena de morte e homicídio não se distinguiam. Cruzando a colagem de letras, palavras e imagens, a evocação foi um dos derradeiros trabalhos que fez. Constituiu-se como sucessão de achados, nem todos aproveitados na edição posterior. O que sobrou e foi editado em 2006 pouco antes da sua partida é uma vénia e sobretudo a denúncia firme dum código jurídico cruel e criminoso que sem abalo de consciência e com uma convicção firme e inabalável envia para o açougue seres humanos.
Pouco depois, a meio de Dezembro, vimo-nos em Amarante. Passavam os 50 anos da partida do poeta Teixeira de Pascoaes e íamos os dois em romagem à sua campa. Ficámos em Gatão, na casa de Pascoaes, ao cuidado da Maria Amélia, viúva de João Vasconcelos. Manuela Correia também ficou instalada na casa do poeta. Passou os dias à volta dum bloco de papel tão lívido e espectral como a sua viuvez. Tinha o rosto macerado, os olhos pisados, os lábios mudos e murchos. Nos canteiros terrosos das suas olheiras fundas nasciam violetas de veludo. Em carne humana, era a aparição do Outono tal como o víamos nos descarnados choupos vegetais do Tâmega. Molhava nas lágrimas os pincéis para aguarelar os desenhos do outro mundo que fazia no seu bloco de fantasmas. Como uma boneca de vidro, Henriette fumava a seu lado os seus eternos cigarros brancos e balsâmicos. Nela o tabaco era tão leve e tão loiro que nem cheiro deixava. Para acender o cigarro pedia lume em bicos dos pés a uma estrela do céu. O mano recitava poemas que sabia de cor com a mão no ar, o cigarro a levitar entre os dedos amarelos da nicotina e os olhos perdidos no longe. Nele o tabaco queimado era muito mais resinoso e demoníaco. Ele acendia o seu cigarro numa labareda do inferno.
Numa manhã nevoenta, descemos todos ao cemitério de Gatão, no vale do rio Tâmega, para ver a humilde campa rasa do poeta, decorada apenas com uma lousa, onde se liam os versos que para ali ele escrevera: Apagado de tanta luz que deu/ Frio de tanto calor que derramou. Em redor reunia-se uma multidão de amarantinos encasacados. Abraçámos a Maria José, que picara o Manuel Hermínio para depois chorar por ele, e a Adelaidinha, a afilhada do poeta, que o meu biografado nunca conhecera nas suas idas a Amarante e agora tinha ali à mão, em carne e osso, uma campónia simples, alimentada a milho e vinho de Gatão. O pai, o Zé Cobra, que Teixeira de Pascoaes recebeu em casa aos 16 anos e se tornou depois o seu caseiro, era uma das portas que lhe abrira no tempo de Eduardo de Oliveira o reino encantado de Pascoaes, quando o poeta ainda reinava no lugar, acolitado sempre por uma menina de 8 anos. Era o final do Outono mas as margens do Tâmega reverdejavam como se fosse Primavera e a linha do Marão perdera o hercúleo peito de bronze e ondulava doce e azulada sob um céu leve de fumo e cinza. Ele que cruamente gozara em passos d’ O virgem negra a fria estela de Fernando Pessoa na pomposa e oficial igreja dos Jerónimos – teve ali, no despojado cemitério aldeão, rodeado de gente sem literatura, de braço dado com a bonequinha da mana, com as vinhas nuas à volta e o piar misterioso dos pássaros por cima, numa manhã fria de Dezembro, o seu derradeiro momento de calor terreno.
Foi nesta época, no regresso a Lisboa, que se prendeu aos quadros das Naniôras que ainda guardava consigo. Passara a vida a desenhar aqueles triângulos animados com pernas, braços, dedos e movimento. No vértice de cima brilhava-lhes a cabeça nobre e irradiante. Desde menino que via e conhecia aquelas formas, por certo as primeiras que viu e desenhou. Não eram, e nunca foram, representações esquemáticas da vida humana mas seres singulares, independentes, com vida própria – anjos demónicos que viviam noutro mundo e que por força da sua mão vinham de visita a este. Continuava sempre a deitar ao papel esses triângulos vivos como se tirasse da sua cartola de mago uma fauna nova e auspiciosa. Eram eles que lhe abriam agora as portas do outro mundo. A superfície dos quadros ou do papel funcionava como um espelho mágico, um corredor de entrada e de saída no reino dos mortos. Subiam procissões da sombra e do silêncio à procura da luz e da palavra. Ele dialogava então com esses seres de névoa e espuma, que ganhavam realidade. Recebia e dava indicações, exaltava-se com os seus movimentos. Previa que o momento da sua partida não podia estar longe mas deixava-se estar entretido nesse passe de mágica que fora a ocupação infantil de toda a sua vida. Revisitava os amigos que já haviam partido, como esse António Maria Lisboa que o vinha agora olhar a sorrir, para lhe dizer em silêncio que o não esquecera. E deixava entrar essa multidão do além, duendes corcundas, tritões a escorrer limos, elfos azuis, que lhe vinham deixar sinais e pregar partidas. Nestes momentos voltava a ser o poeta inspirado da sua juventude, o vate que profetizava a partir dos sinais que traçava e interpretava, a criança que voava aos círculos por cima da Mouraria e do castelo de Lisboa, o pássaro que nunca deixara o paraíso. Mas quando perdia o contacto directo com os espectros que flutuavam no reino das sombras, quando emergia à superfície e regressava ao mundo dos vivos opacos e sem fala com os “grandes transparentes”, era uma criança frágil, desamparada, que perdera as asas e a voz e se sentia incapaz de dar um passo. Choramingava e tremia de medo ante a mais pequena obrigação coerciva e exterior.
No Verão de 2003 a Fundação Cupertino de Miranda retirou-lhe de casa o espólio – o que o desgostou e lhe carregou a impressão de desolação e frieza em que a sua vida estava a resvalar. As filmagens e os diálogos do filme de Miguel Gonçalves Mendes captaram a tristeza e a revolta desse momento. Continuava a ter à mão Jorge Perestrelo, o jovem antiquário, a quem se habituara e que era o seu moço de cego. Foi ele que no final do ano lhe deu a informação que Cruzeiro Seixas e Raul Perez faziam uma exposição na galeria S. Mamede, “As mãos são a paisagem que nos olha: pintura e desenho de Cruzeiro Seixas e Raul Perez”; foi ele ainda que o desafiou a comparecer, dizendo-lhe que tinha 80 anos – acabara de os fazer no Verão com o triste presente de lhe tirarem o recheio de casa – e Seixas 83. Há um quarto de século que a bem dizer não se viam – o despique do Jornal Novo fora em Agosto de 1978 – e pelo caminho que o fim tomava nunca mais se veriam. Era agora ou nunca o tempo de se voltarem a abraçar. Ele ficou a magicar no assunto. Veio-lhe à memória a paixão da adolescência – paixão não carnal, paixão de afecto e exaltação – e a negrura africana com o capim da selva ao fundo em que o amigo como bicho de exótica estrela tantos anos se escondera. Ainda tinha no ouvido a frase três vezes escrita na juventude e tantas vezes então repetida dentro de si – “Amigo Seixas / Não podes imaginar quanto te estimo”. Isto dito assim parece amor apaixonado mas era uma inabalável amizade por um ser forte e admirável, um centauro de seta prateada apontada ao céu que estava destinado a tocar um século de vida.
Numa tarde escura de Dezembro foi com Jorge Perestrelo e os pais, o casal de antiquários, à velha galeria da Rua da Escola Politécnica. Ia como sempre andava: roupas velhas, barba por fazer, bengala na mão e um quico marroquino na cabeça, de vidrilhos faiscantes e diabólicos. Quando passou as portas de vidro da galeria, o anjo demónico que havia nele acordou e deu sinal. Um brilho de febre subiu-lhe aos olhos. Todos olharam para ele e exclamaram: “Olha, o Cesariny!” Foi a loucura e a explosão. De chapéu folião e carnavalesco, tornou-se no diabrete da festa e todas as atenções passaram a estar dirigidas para ele. Seixas quando viu quatro pessoas a entraram pela galeria dentro e serem de imediato alvo das atenções teve um jeito de desagrado. Havia rádios, televisões, jornais. Todos se viraram e moveram para porta, deixando-o sozinho. Só depois se deu conta que o amigo, feito hipogrifo, estava no meio e era ele o Sol que orquestrava a corola daquelas hipnotizadas flores. Contava ter as atenções da pequena multidão e desgostou-se de se ver esquecido, remetido para segundo plano. O próprio Perez se deixou tomar pelo fogo que ali surgira e entrou no jogo – o que ainda mais o entristeceu. O meu biografado nem se deu conta do desastre e quando lhe pediram uma fotografia ao lado de Seixas, a primeira desde há um quarto de século, pôs carinhosamente a cabeça no ombro do amigo. Naquele instante a “sacaníssima visão” nunca existira. O que vivia era o rapazinho doce que o pai Lutero Seixas levava pela mão à escola da Rua Almirante Barroso, o amante apaixonado de António Paulo Tomaz, o companheiro da Operação do Sol, o correio secreto das suas aflições de Fresnes, o sólido e dedicado amigo que ficou em Lisboa a tratar-lhe dos livros no período londrino – esse que Mário Henrique Leiria numa carta de Novembro de 1949 chama o “forte e leal Seixas”. Pelo seu lado, Seixas quedou-se na foto hirto, distante, frio, amuado, com o travo acerbo duma exposição que estava para ele sem remédio estragada, e a fotografia passou assim ao futuro como mais um desencontro dos dois. Embora! Mais tarde, depois da morte do amigo, Seixas acarinhou esta imagem como um ícone da sua amizade solar com o Mário e ainda hoje a tem consigo, ao lado da cama. O seu rosto na fotografia sofreu uma lenta transformação e perdeu rigidez e desconfiança. Voltou-se para o amigo e olha para ele com grata admiração. É assim que ambos entrarão no outro mundo e é assim que ambos ficarão na história. Um ao lado do outro, ombro com ombro, mão na mão, fitando a mesma estrela deslumbrante de luz! Dois homens do tamanho de duas torres de menagem e com olhos tão grandes como janelas normandas! É assim que os quero neste livro e para sempre! Mais ninguém os roubará um ao outro!
Pouco depois, no final do Inverno de 2004, Henriette queixou-se com dores no peito. Há muito que lhe tinham detectado um quisto num pulmão mas que nunca lhe causara problemas. Dizia-se até que o fumo dos seus cigarros o imobilizara, tornando-o inofensivo. Levaram-na ao Instituto Português de Oncologia que ficava a dez passos da sua porta. O médico que costumava vê-la não estava – saíra uns dias para fora, talvez de férias – e foi visto por uma médica nova, que a não conhecia. Quando leu o seu historial e a sua idade, mandou-lhe de imediato fazer uma punção. Voltou a casa pelo seu pé, teve a impressão que se despedia das ruas que tão bem conhecia, sentiu-se mal, voltou para o Instituto e morreu três dias depois. Nascera a 10-3-1915 e partia a 17-3-2004. Acabara de completar 89 anos, o número do infinito!
Desta vez o irmão não acreditou no que se acabara de passar. Recusou-se a comparecer no velório que foi na Igreja de São Sebastião da Pedreira, do outro lado da Praça de Espanha, mas que ele mal conhecia. Ficou em casa, a passear no corredor, a entrar no quarto da mana, a contemplar a sua cama de madeira, a sentar-se nas cadeiras da casa de jantar, a respirar o ar onde ainda ondulavam os eflúvios do seu perfume. Nessa noite os amigos foram fazer-lhe companhia. Ele parecia um menino que depois de roubado em todos os castelos acabava de perder o último refúgio, o único colo que ainda o adormecia e apaziguava. Estava rombo e impotente mas colérico e assombrado. Não chorava água mas fogo. Era o seu demónio interior que vinha ao de cima, visitá-lo, segredar-lhe palavras blasfemas que ele atirava irado contra o céu. Cuspia lume e ferro. Era um titã em luta com as forças celestes, uma figura trágica e mítica, um gigante de juba solar que falava cara a cara com os deuses antigos, num diálogo só seu, intraduzível em língua vulgar e humana – a língua sensata que diz com resignação “é assim a vida”, “não há nada a fazer”. É por isso que alguns dos seus poemas, dos seus livros, das suas pinturas, dos seus desenhos e dos seus objectos são inexplicáveis; têm uma presença fechada e inacessível, tão incómoda como enigmática. Fazem parte dessa linguagem selvagem e primordial, que sabe falar com o outro mundo e não pode ser explicada e traduzida mas apenas experienciada e com a ressalva de que a consciência da experiência já está do lado de fora. O fundamento de toda a experiência deve estar fora da experiência – afirmou ele numa carta para Manuel S. Lourenço (6-12-1977; inédita; espólios da B.N.P.).
No dia seguinte voltou a recusar-se a sair de casa, para ir à cremação do corpo no cemitério do Alto de São João. Preferiu de novo ficar no meio dos fetiches da Rua Basílio Teles – as cadeiras, o sofá, a cama, os fatos, as saias, as fotos, os perfumes, os cremes, os vernizes, os lenços, o rouge dos lábios. No cemitério cochichava-se com preocupação sobre a sua tristeza e a desolação infinita em que ficara com a partida inesperada da mana. Não era porém de angústia existencial que se tratava mas de magia. Se não se entender este momento assim – um dos mais solenes da sua vida, um dos mais decisivos da sua arte interior, aquele em que ele mais friamente falou cara a cara com as forças invisíveis – não se percebe nada da sua arte e da sua vida. Ele não se chamava Vergílio Ferreira nem Fernando Namora; não era mestre de gramática num liceu nem interno de hospital. Não tinha angústias nem depressões. Tinha sobressaltos negros na alma, interrupções na corrente do espírito, curto-circuitos interiores que o punham às escuras. Era um xamã tribal, um mago inspirado e um sacerdote dos mortos, que tinha um demónio que o punha fora de si e lhe dava poderes sobrenaturais. Escrevera um manual de prestidigitação e como a sua tão amada Titânia, esse fluido das moléculas primordiais, ia e vinha a voar ao reino das sombras. Sabia ter asas de fogo de vez em quando, não para escrever livros lindos e premiáveis mas para ir aos céus e aos infernos. Com Rimbaud e Pascoaes era um dos três senhores do reino infernal para onde peregrinam as almas mortas e um dos três taumaturgos da palavra que ressuscita. A sua tragédia no momento da morte da irmã foi também uma exaltação do espírito – essa que o levava a encolher os ombros e a fazer uma anedota quase alegre com a morte.
Demais a doença progredia – começava a sentir as dores das metástases nos ossos, agudas, lancinantes, rangentes, rasgando-lhe aos bocados, com força descomunal, o corpo de titã. Demais, ao fim de tantos anos com o cigarro infernal na boca, ganhara insuficiência respiratória. Estava quase paralisado e sem movimento. Mudou-se então para a cama da mana, agora vazia e que, dizia-se, ficava mais à mão de quem o tratava. Na verdade, quis chorar nela a sua perda e estar assim mais próximo dos fluidos de quem partira. O seu velho quarto na entrada da casa ficou para oficina. Era lá que tinha os quadros, as tintas, os papéis, as telas, as colas, os vernizes. Não dispensava já nem a botija de oxigénio nem a bengala, sinal forte da sua orfandade, do seu desamparo, do seu desmoronamento físico. Sempre pedira da vida um poder de encantamento que não era compatível com a pragmática utilitarista da existência social, na qual via uma água turva, pejada de crocodilos predadores à espreita – na finança, no trabalho, na política dos partidos, nas letras, nos jornais, nas escolas. No passado esse desajuste dera zanga e revolta – a de tantos e tantos poemas escritos nas décadas de 40 e de 50 e que parecem escritos a gritar, de dedo acusador em riste, no alto dum palanque. Agora dava um género de pânico infantil, de desamparo sagrado, de tremor doído e de loucura insólita e inofensiva, que era também fruto da degradação física. Quem lhe tirou as medidas nestes tempos finais que se seguiram à partida da mana, quem lhe viu a fralda satânica e a labareda arrancada aos infernos a fumegar na sua boca, quem percebeu a sua viuvez inconsolável e a sua mudez, quem lhe observou a roupa desleixadíssima e a bengala de pau escuro em que se apoiava, viu o último Hölderlin do Ocidente, o poeta puro e primordial, o hermafrodita dos perfumados jardins paradisíacos, o Titanin que a miséria absoluta da velocidade super-sónica e da cibernética degradara e metamorfoseara num desolado doido.
Para o serviço de casa passou a contar com o apoio permanente da empregada Maria de Lurdes Inácio, que ele tratava por “Lu” e que já vinha do tempo da mãe Mercedes e se tornara depois a escora da mana Henriette. Chegara à casa da Rua Basílio Teles gaiata novinha e adaptara-se à vida da casa com hábitos de família. Mudou-se quase por completo para a casa da Rua Basílio Teles com o marido. Era ela que lhe tratava das compras, da comida, das roupas, das limpezas, a que ele nada ligava já. O mesmo fazia Manuel Rosa, que ele fez seu testamentário, deixando-lhe os direitos da obra escrita. A casa editora da Rua Passos Manuel dera-lhe um tecto que o protegera durante mais de 25 anos e era a bem dizer toda a sua família – se é que alguma tinha e não partia apenas rodeado de fantasmas cada vez mais vagos e imprecisos.
A montagem do filme de Miguel Gonçalves Mendes chegara ao fim e teve uma primeira apresentação na Cinemateca em 3 de Maio. Ele estava tão sozinho e desolado, via-se no seu rosto um tal assombro de febre e uma tal saraivada de pedra, que no fim se voltou para a sala e exclamou: “ – O filme é lindo mas quando se fechar a porta vou ter de regressar sozinho a casa. Vocês nem fazem ideia como aquilo na Palhavã é feio e mau!” Não era o dito retraído dum angustiado mas o vitupério e o riso dum sarcástico sagrado, desses que eram capazes de insultar Deus para melhor o amar. A solidão era a sua grande preocupação. Uma parte do recheio da casa da Rua Basílio Teles estava já em Famalicão, o que lhe acentuava a sensação de perda e de orfandade. Era um órfão dos deuses e da magia do mundo. Foi uma crueldade que Famalicão lhe fez e que era escusada. Perdeu para sempre alguns dos seus instrumentos de Mago, que ficaram encaixotados numa cave fria e nua de cimento, à espera de serem avaliados e etiquetados – inofensivos brinquedos do mercado da arte! Sem alma e sem sentido! Ó senhores da finança, vós tirais a inocência do mundo, vós sugais o sangue ao espírito. Vampiros da riqueza, antropófagos dos vossos irmãos! O vosso diadema é secar tudo que vossas mãos tocam! Sois a raça mais infeliz da Terra, porque a menos generosa. Não há pior desventura nem maldição mais escura do que ser banqueiro!
Continuava a ir de vez em vez ao andar da Costa quando uma boa alma de passagem o levava. Durante a tarde a Lurdes tratava-lhe da comida e da limpeza. Nunca perdera o hábito de se levantar tarde, quase à hora de almoçar, costume que lhe vinha da adolescência e se prolongara com raras interrupções pela vida fora. De noite ficava sozinho com os seus espectros dantescos, as suas imagens de névoa e espuma, o seu triângulo mágico. Cada Naniôra era o alçapão por detrás do qual se escondia o outro mundo – ou o astrolábio que lhe dava as coordenadas necessárias para se movimentar na escuridão onde estavam os miasmas da luz do espírito. Era assistido por estes poderes nocturnos de evocação e de orientação, que eram a forma vital que a sua criação poética tomava no fim da vida. Os versos para ele não tinham horário de trabalho. “Nunca escrevi um poema em casa” – gabou-se ele repetidamente. Versos e vida na rua eram para ele o mesmo. Procurara sempre agarrar a poesia a nu, em si, sem necessidade de a meter à força, de a encaixar num poema escrito e medido. Agora o seu anjo demónico aparecia-lhe à noite, abrindo-lhe o postigo do outro mundo, pondo-o a falar com mortos e sombras. A luz fria da madrugada arrefecia-lhe porém o anjo, que se retraía e desaparecia nas dobras pálidas da cor; retomava então contacto com a superfície opaca das coisas e choramingava como um menino mimado à procura de gente forte que o amparasse na rasa planície da vida social.
No final do ano, a 2 de Dezembro, foi a estreia pública no Porto e em Lisboa do filme de Miguel Gonçalves Mendes. No mesmo dia abriu uma grande exposição de pintura sua no Pavilhão Preto, no Museu da Cidade, ao Campo Grande. Com mais de 250 trabalhos, muitos inéditos, outros apenas expostos uma vez, e com cerca de 30 peças da década de 40, foi a sua maior mostra de sempre. Fora-lhe atribuído em 2002 o Grande Prémio da EDP e uma das cláusulas era a organização duma retrospectiva e a publicação dum catálogo representativo que surgiu no momento da mostra e reproduziu as obras expostas. Choveram os pedidos de entrevistas. Foi nessa altura que ele disse aos jornalistas do jornal Expresso que começava a ficar irritado com tanta adesão à sua pintura e à sua literatura. O que lhe interessava era a revolução, não a arte. As críticas à sua obra tinham muita pilhéria. Estava tudo a seu favor. Percebia-se que ninguém queria estragar o consenso. Consoante o ponto de vista do crítico, todos se esforçavam por alçapremá-lo. Já que o surrealismo não estava na moda, houve até quem o valorizasse pelo facto de ter lido autores não surrealistas. Não levou a sério nada do que se dizia. Estava habituado desde há muitos anos ao cozinhado de frialdades que se servia nos jornais. Demais, nem as letras nem as tintas eram o seu heroísmo. Umas e outras eram apenas meios, nunca fins em si. Gozou pois com a situação. Copélio não precisa de palmas mas do fluido da paixão. Quando esta lhe falta, faz humor e ri. Na entrevista ao Expresso (20-11-2004) declarou: Se eu fosse espanhol, com a altura em que me querem pôr – eu acho que é um bocado exagerada mas deixa andar – já tinha um castelinho, automóvel e chofer. Sabia que o principal estava a ser ocultado – chamou a esse primordial “revolução” – e por isso teve a sua ponta forte de zanga contra todo aquele fumo que lhe deturpava o sentido da obra e da vida. Essa gente estava convencida, ou fazia de conta, que ele passara as décadas a trabalhar para obter um lugar na história da literatura e da pintura do país. Ora ele tinha visado algo distinto que era mudar de cabeça, de vida e de sociedade. Só conseguira mudar de cabeça, já que a sociedade continuava quase igual e em alguns aspectos até pior e da vida, se vida chamava ao seu actual desmoronar físico, era melhor nem falar. Só os espíritos que voavam quando queriam, riam e folgavam quando lhes apetecia, apareciam e desapareciam no mesmo momento, só esses viviam nas florestas eternas e conheciam a vida porque nunca haviam nascido e nunca haviam de morrer! Os que nasciam da carne e morriam com ela não conheciam a vida mas apenas a dor.
Na sequência do filme e da exposição, veio a inevitável novela da sua condecoração oficial. Não era sequer novidade. Já no tempo da presidência de Mário Soares o assunto estivera sobre a mesa. Soares todos os anos tinha de encontrar uns tantos peitos respeitáveis para colocar a placa de metal e lembrou-se dele. Desde o tempo de Lopes Graça que o tinha de baixo de olho. Soube das posições anti-estalinistas que ele tomou durante a revolução. Teve depois a surpresa de o ver na Comissão de Honra da sua candidatura. Aproximou-se dele com a estadia em Londres e nos anos da presidência frequentou-lhe as exposições, comprou-lhe pintura e chegou a jantar com ele em ambiente familiar, num restaurante da Avenida 24 de Julho – jantar mediado por José Manuel dos Santos que também esteve presente. Elegeu-o pois para uma ordem que lhe pusesse em destaque o mérito artístico e literário. Uma noite José Manuel dos Santos falou-lhe na vontade de Soares lhe dar uma ordem – um grau da Ordem Militar de Santiago da Espada. Ele estava ainda rebelde e activo. Foi sardónico e mordeu “ – Isso dá pensão?”. O amigo disse-lhe que não e ele replicou: “ – Não vale a pena!” Acabara assim a história do seu colar no tempo de Soares. Agora, a caminho do final do segundo mandato de Jorge Sampaio, José Manuel dos Santos, que transitara de Soares para Sampaio, voltou a insistir. Propunha desta vez a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. Sampaio cedeu. Ficou o assessor com a tarefa de o convencer. As conversas foram várias mas os argumentos sempre os mesmos: se alguém amara e vivera a liberdade fora ele, se alguém tinha em Portugal uma lição de liberdade a dar era ele. Logo a Ordem da Liberdade devia ser dele. Sem arredar pé daqui, José Manuel dos Santos foi removendo as resistências, até que ele se mostrou cordato, como só aquela criança final que nele havia sabia ser. “ – Vá, por que não? Se é isso, está bem”. Na manga tinha porém uma condição. Não saía de casa para receber fosse o que fosse. Se o davam assim por tão importante, que lhe fossem lá levar a insígnia. Teve assim o seu momento de riso e gozo. Não há génio que não transforme a mansidão colectiva e a sensatez em diabrura!
E no triste e frio final de tarde de 30 de Novembro, depois de passarem pelo velório de Manuel de Brito na Galeria 111, Jorge Sampaio e José Manuel dos Santos puseram-se a caminho da Rua Basílio Teles. Não havia maneira de avançarem no trânsito e por isso saltaram do carro e fizeram o resto do caminho a pé. Ele recebeu-os na sala sem qualquer cerimónia, enfiado num velho casaco de malha, calçado com pantufas de quarto, a fumar os seus intermináveis cigarros espetados na boquilha preta. Estava lá também a direcção da Associação Portuguesa de Escritores para lhe entregar nas mesmas condições o Prémio Vida Literária, anunciado dias antes. Mandou sentar o presidente na sala, num canapé, ao pé dos retratos de família. Sampaio estranhou ver um homem canceroso, incapaz de sair de casa, com 82 anos, fumar cigarro sobre cigarro. Espantou-se: “ – Fuma muito!” Ele, assistido pela musa, replicou: “ – Já agora, não vale a pena desistir.” Riu o presidente e impôs-lhe as insígnias do grau da Ordem – Banda e Placa. Recebeu-as com o ar infantil e despreocupado que tinha nestas ocasiões De seguida levou as mãos ao medalhão dourado e beijou-o gritando com voz roufenha, olhos semi-cerrados: “ – A Santa Liberdade!”
Estas três distinções finais – o Prémio EDP de 2002, o Prémio Vida Literária de 2005 e a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade –, as únicas que em toda a sua vida recebeu, merecem um parêntese nesta narrativa. Se tivesse vivido quatro anos menos não tinha recebido em vida uma única distinção. Quando se pensa que há gente que começa a receber prémios aos 20 anos e nunca mais pára, chegando a arrecadar quatro e cinco por ano e por livro, estas três distinções sabem a muito pouco. Mas quando se nota que André Breton, um dos maiores génios do século XX, nunca recebeu qualquer prémio ou condecoração, as distinções que o português recebeu no fim da vida podem fazer figura de excessivas. Mais excessivas parecem quando se assinala que a única tentativa de dar um prémio ao poeta francês – “Le prix de la Ville de Paris”, em 1950 – teve logo a sua oposição inflexível e nunca foi além da intenção. Aproveitou tão-só o momento para denunciar a lógica nociva e viciada dos prémios literários. O facto que assinala os últimos anos deste André não é qualquer distinção mas um processo aberto pelo Estado francês em 1953 contra ele, por “degradação de monumento histórico” e no qual foi condenado a pagar multa e tripla indemnização – ao Estado, ao Município e ao concessionário. Um ano antes, no decorrer duma visita, denunciara como trapaceiras as inscrições “pré-históricas” da gruta de Cabrerets, na região do Lot, onde acabara de comprar uma velha hospedaria cheia de verdete olímpico na comuna de Saint-Cirq-Lapopie, onde passou a receber os amigos.
O meu biografado ficou muito aquém deste invejável palmarés – ou do de Benjamin Péret, cujo entretenimento final era assustar padres nos Cafés em que entrava – e o facto de ter recebido das mãos dum chefe de Estado uma insígnia cujo centro distintivo era uma cruz grega de esmalte azul, quer dizer, um dos sinais que ele mais detestou em vida, pode ser, do ponto de vista dos valores dele, decepcionante. Uma cruz assim não tinha liberdade nenhuma, apenas o peso milenar da servidão! Mais ainda quando se vê o histórico da Ordem criada em 1976 por um militar e o rol dos agraciados – chefes de Estado, políticos, padres, militares, académicos, empresários. Em primeiro lugar a Ordem “destina-se a distinguir serviços relevantes em defesa dos valores da Civilização” – a mesma que ele, irmão de Rimbaud e de todos os diabretes do inferno que fumam as suas labaredas, tão raivosamente execrara. No estado em que se encontrava – a doença progredira, já não saía de casa, estava alheado dos livros e até de si próprio – nem se deu conta destas implicações. Para ele, a Ordem era só a sua amada liberdade. Ao recebê-la, exclamou “A Santa Liberdade!”, que foi o grito ingénuo e sincero que se ouviu num dos balcões do salão do edifício da Voz do Operário, no bairro da Graça, no primeiro comício anarquista depois da revolução do 25 de Abril, em 19 de Julho. Não é sem uma ponta forte de nostalgia que a propósito desta insígnia se recorda o irredutível descarado de outrora que dera por resposta ao Grémio Literário do Chiado: Venho informar que os senhores têm de ir engatar outro porque eu não aprecio a sociedade, nem a honorabilidade, que me é proposta. Tão certeiro e tão vivo! Sente-se nesta resposta o fluido eléctrico da liberdade a estrelejar! E tão bem que ela se teria ajustado a uma Grã-Cruz dada por um chefe de Estado! É dum gato que sempre se quis uno e ilegal, dum incorrigível do surrealismo que aqui se fala! O palhaço de Deus zomba de tudo, faz até o favor de não se levar a sério, ao passo que o académico, o banqueiro, o militar, o artista, o padre, o jornalista, o crítico e o escritor acreditam na máscara que todas as manhãs afivelam e por isso se a máscara funciona recebem prémios. Ele não tinha máscara. Andava nu. Era o saltimbanco da eternidade e por isso estas distinções estiveram a mais!
Retomemos a narrativa. No final do ano o agravamento da doença era já sério, com abatimento geral e previsão de que o físico não podia aguentar muito mais. Nas festas de fim de ano estava a menos dum ano da partida. As metástases espalhavam-se, roíam-no de dores. Uma tarde que o visitou, José Manuel dos Santos recorda-se de o ouvir dizer: “ – Chega! Já não me apetece viver mais!” Dizia-o com a mesma veemência de titã com que no momento da despedida da mana apostrofara potências celestes e infernais. O casal Vancrevel que o visitou no início da Primavera encontrou-o frágil, decrépito, a apagar-se, muito inquieto com o destino dos seus quadros que estavam na Holanda. E Sergio Lima que o visitou no final dessa mesma estação encontrou-o imerso numa atmosfera final, com ele sentado, sem se levantar e com a voz tão trémula e apagada, tão murmurada e leve que era preciso chegar-lhe o ouvido à cara para o ouvir.
As dores concentravam-se-lhe numa perna, a mesma que desde há anos o obrigava a usar bengala e o impedia agora de sair de casa. Mudara já de fácies. A imobilidade quase sem dar passo fora de casa e os medicamentos foram a causa da mudança de compleição. Ele, um palito enxuto, estava irreconhecível. Pesado, balofo, bochechas rechonchudas e luzidias, queixo ossudo e saído, um resto muito alvo de cabelo a esvoaçar como um nimbo nevado por cima das orelhas e os óculos de arame encavalitados na ponta do nariz, parecia um anão anafado e infantil que já ninguém arrancava do sofá. Fernando Orvalho, seu médico, dava-lhe analgésicos e chegou-o a ter no Instituto Português de Oncologia. Mas ele queria estar em casa. Era lá que tinha o resto das Naniôras e a panóplia das ferramentas mágicas que Famalicão não lhe levara. Tinha ainda os amigos e os visitantes de ocasião que lhe telefonavam e lhe batiam à porta atraídos pela fama que os filmes, as entrevistas, os prémios, a exposição do Museu da Cidade, as fotografias e as notícias de jornal lhe estavam a dar. Muitos o procuravam, alguns só por mera curiosidade dum momento, outros para voltar e ficar. Nesses instantes, era a criança frágil à procura dum ombro onde chorar a eterna desdita dum real tão horrível e tão sem resgate. Não aceitara a partida da mana e por isso se mostrara o viúvo inconsolável, o negro titã da revolta. Agora quando as dores do corpo o torturavam ele era o astro em queda, a estrela do ocaso a brilhar ao cair do Sol. Viera ao mundo numa hemoptise celeste, ao final da tarde, e assim se despedia. Dispensando-lhe atenção, perguntando-lhe pelo surrealismo, falando-lhe de poesia, de livros e de pintura, essa gente que lhe desfilava ao telefone e à porta de casa e do quarto, distraíam-no por um instante e intervalavam a sua dor. Sempre precisou de pessoas à volta, que o ouvissem e falassem com ele. Ouvir e falar tinham muito mais importância do que escrever. Filho dilecto do grito e das culturas orais, a escrita era para ele uma degradação dos poderes originais da palavra. Sublime, musical, electrizante só a palavra dita da boca ao ouvido. Era o vocábulo sem gramática, cheio de folhagem, o único capaz de conduzir a electricidade da poesia e revelar um segredo. Nunca se desprendeu da lembrança dos primeiros tempos, quando acompanhava com Fernando José Francisco e Cruzeiro Seixas, os seus dois pajens de juventude e se perdiam os três em infinitas e peripatéticas conversações de rua e campo. Ficou para sempre um acroamático das eras primevas!
Foi nesta época que a sua casa se tornou aquele “barco de piratas” a que alguém se me referiu. Galeão cheio de despojos e de tesouros, a idade do casco, a deterioração das madeiras e do pano das velas não lhe permitia mais avanço. Varara. Vivia naquela casa há 60 anos. Entesourara ali muita arca. Uma parte saíra já a caminho das caves de Famalicão mas o cofre-forte continuava. Sem o que lá brilhava não sabia viver. Agora ao fim de tantas décadas e tanto peso, o barco tinha as madeiras podres e metia água, naufragava! Desapareciam objectos, livros, manuscritos, quadros, cartas, fotografias. Algumas peças apareciam de imediato à venda em antiquários e alfarrabistas; outras só depois da sua morte vieram à superfície, nos mesmos ou noutros comércios – como um conjunto de postais de Luiz Pacheco do início da década de 60, comprado pela Biblioteca Nacional em leilão. Ele estava meio alheado destes roubos. O seu meio natural era o dos ilegais e sempre se dera com ladrões. A sua feira preferida era a da “ladra”, a sua feira de menino. Estudante de liceu andara pelo passadiço de Santa Clara, nas traseiras da igreja de São Vicente, a espreitar a mirabolante mostra que por lá se expunha e a fauna que lá se juntava. Durante décadas frequentara cafés como o Rei Mar na Rua do Telhal por causa desta gente que adorava e que vinha da sua infância. Muitos dos seus amantes foram aí colhidos e o cinemazinho de Paris onde foi preso era batido pela mesma estirpe, por idêntica zoologia parisina – os futuros “katangueses” de Maio de 68. Em entrevista ao jornal Público (12-11-94) fez-lhes uma demorada vénia – putas, chulos, gatunos e marinhagem. Uns príncipes! Lastimou o seu fim como se lamentasse o desaparecimento duma grande civilização. Faziam parte da heráldica da sua cidade; eram a sua parte nobre, aquela em que Eros e Titânia ditavam a lei. Até os “gatunos” agora lhe tiravam. Em seu lugar surgia uma nova classe – os toxicodependentes, um mero reflexo sovina daquilo que ele outrora amara nos subterrâneos da urbe. Ao Público disse: Os gatunos eram uma classe quase respeitada. Fartavam-se de trabalhar. Quase não dormiam com aquela preocupação de não fazer nada. Hoje qualquer menino da Avenida de Roma, se precisa de dinheiro para a picada, rouba. E não é gatuno! (…) Suponho que os gatunos propriamente ditos devem andar muito tristes.
Ele sabia – tinha seis décadas de subterrâneo! – que os primeiros que o roubaram o surripiaram por causa da seringa – como esse menino que o acompanhava e lhe levava de casa o que podia como ainda lhe falsificava a assinatura em quadros que ele não pintava. Não eram gatunos – palavra demasiado carregada de poesia, o “gato uno”, para ser desperdiçada com o mero desesperado. Não roubavam por arte ou por desprezo, como sempre admirara, mas por desespero. Eram os “meninos” da Avenida de Roma – que nem sequer existia no tempo em que frequentara o Café da Almirante Reis. Faziam parte dum grupo silencioso, que havia alienado o desejo e a poesia. A droga roubara-lhes a língua e o lume. Outros que viram estes roubar começaram também depois a meter mão. – “Se eles roubam porque não hei-de eu roubar” – perguntaram-se, julgando-se até com mais direito. Muitos destes actos deixaram-no frio e calado. Sobressaltou-o mais saber que estavam à venda linhas de água com a sua assinatura falsificada. Indignou-se. Achou miserável acabar no meio de impostores que até a assinatura lhe imitavam – esse nome escrito numa corrida, um “cê” que encaracolava, deslizava e caía no precipício do vício, como ele dissera num poema de juventude. O mais repugnante é que tudo só tinha uma finalidade: a seringa e a miserável prata do seu corisco! Como quer que seja, nada disso o sobressaltou. Tinha 60 anos de má vida e humor bastante para zombar de tanta pevide. Numa hipérbole magnífica, cheia de sainete, chegou a certificar o seu nome numa falsificação. Senhores da edição e da cultura, senhores da política e da religião, senhores das artes e das letras, senhores da finança, não queiram fazer de Mário Cesariny um homem sério! Uma diabrura tão malvada como esta é o selo do seu génio… e da sua guerrilha. O resto é o talento certinho dos neo-realistas de Coimbra e do Ribatejo a sofrerem pelos prémios e a fazerem muitos filhinhos que lhes perpetuem o nome na palha embalsamada dos museus e na pastilha soporífera dos colóquios!
Quis-se afastar. Planeou passar o Verão na Costa da Caparica. Nesta altura já não se levantava e transportavam-no ao colo. Passava os dias ou encostado na cama ou sentado no sofá. Quando se precisava de deslocar dentro de casa acontecia que alguém o punha ao colo. Tinha consigo a tempo inteiro a empregada Lurdes e Manuel Inácio. Ainda na Primavera, antes da saída para a Caparica, Sergio Lima, o organizador da exposição surrealista de S. Paulo de 1967, passou por Lisboa a caminho de Tenerife, Canárias, onde um encontro evocava o centenário de nascimento de Óscar Dominguez. Chegou a Lisboa no dia 18 de Junho, um domingo, e na tarde seguinte foi bater-lhe à porta na companhia de Célia Cymbalista, Fátima Roque e Miguel de Carvalho, um jovem português entusiasta do surrealismo. Era a terceira vez que se encontravam cara a cara. Trazia-lhe uma surpresa de grande porte – um exemplar de provas do número dois da revista A Phala, a mesma em que no primeiro número os portugueses haviam saído para fora de portas pela primeira vez, e cujo nome Manuel Hermínio Monteiro retomara em 1986 no boletim da editora da Rua Passos Manuel com algum desagrado de Lima. Aparecera esse primeiro número em 1967, antes pois da chegada do casal Vancrevel à vida do meu biografado. Mas o encontro cara a cara com Laurens e Frida dera-se logo em 1970, para se repetir depois muitas vezes, ao passo que com Sergio Lima o encontro só acontecera um quarto de século após, em 1994, e para só se repetir uma vez, dois anos depois. Agora era o terceiro e último, a despedida, com as provas do segundo número da revista, que tergiversaria ainda antes de surgir em 2013, 46 anos depois do primeiro, com um suculento recheio de 400 páginas, a abrir com a fotografia do mago da Rua Basílio Teles em Junho de 2006, óculos postos, recostado no sofá da sala, a folhear com a maior atenção e delícia as provas que o paulistano lhe acabara de levar e que no Inverno da vida, quando dizia adeus ao estrato terráqueo, faziam prova da vitalidade do surrealismo mais de 80 anos depois do seu nascimento. Daí também a adesão a Miguel de Carvalho, então com 36 anos e que viria a editar em 2015 as fotografias de Susana Paiva feitas com Miguel Gonçalves Mendes no momento das filmagens.
Ao tempo que isto assim sucedia, no final da Primavera, Carlos Cabral Nunes, fundador da galeria Perve em 2001 e que frequentava desde então a casa da Rua Basílio Teles, pensou juntar na galeria três dos sobreviventes do Café Herminius e da exposição de 1949 – Cruzeiro Seixas, Fernando José Francisco, Mário Cesariny. A ideia foi certeira, pois sem o segundo, muito acarinhado pelos outros na época da escola António Arroio, Seixas e Cesariny teriam com certeza recusado o convite. Haviam passado 30 anos de costas voltadas um ao outro, quase sem se verem – pelo meio com um episódio frio e inconsequente, o da exposição de Seixas e Perez na galeria S. Mamede, em Dezembro de 2003. Fernando José Francisco por sua vez desaparecera para sempre do convívio dos seus antigos amigos por volta de 1950 – nenhum deles o vira mais –, passando a viver retirado, dedicado ao funcionalismo num gabinete de apoio ao turismo e ao casamento com o seu amor de juventude. Fosse como fosse, fora ele o “neo-realista” de Lisboa a que o autor dos artigos do jornal portuense A Tarde se referira para indicar que o neo-realismo pictórico estava a entrar em Portugal na fase decisiva da sua afirmação. Cesariny e Seixas estavam pois muito curiosos desse desaparecido e velho companheiro.
Recebido o convite, o galerista tratou de arranjar um núcleo de trabalhos novos, fruto da colaboração dos três – chamou-lhes “cadáveres esquisitos” – mas sem que fosse necessário juntarem-se fisicamente. Andou de casa em casa – Cruzeiro Seixas vivia no Parque das Nações, Cesariny mudou-se no Verão para o andar da Caparica e José Francisco morava na Avenida de Roma – com papel, tinta-da-china, caneta, têmpera, pincéis e lápis de cor, até obter 12 trabalhos colectivos, que constituíram o miolo central da exposição. Nove deles foram postas à venda com preços compreendidos entre os 4250 euros e os 7250. Eram trabalhos de pequenas dimensões, em média 28×38 cm, com excepção dum único, maior esse, 20×70. Ao mesmo tempo preparou uma edição luxuosa dalgumas das pranchas de 2002 dedicadas ao autor do atentado bombista de Oklahoma de 1995. O livro de serigrafias Timothy McVeigh – o condenado à morte ficou pronto no dia da abertura da exposição, com uma edição de 300 exemplares, vendido cada um a 1250.
O meu biografado veio no início do Outono para Lisboa. Piorara. Estava mais só. Deixara já de ver Jorge Perestrelo. Era um pedaço de barro vulgar num invólucro de porcelana que deixou cair sem um ai. Arredara também Manuela Correia. Aí foi um dissabor que lhe custou muito mais. Conhecia-a há um quarto de século, desde 1978, e estava associada ao primeiro ciclo da editora da Rua Passos Manuel, às viagens que fizera, a objectos que criara, a fotografias que fizera, a folhas e a livros que editara. Uma das últimas folhas que deu ao mundo, a lembrar a partida de Manuel Hermínio, se não a última, foi com ela que a fez. Preferiu porém assim. Era mais uma estrela e esta de primeira grandeza que se apagava no céu da sua vida, cada vez mais negro e apagado. Agravava-se a sua insuficiência respiratória e já não passava sem se ligar à botija de oxigénio. Tinha seis décadas e meia de tabaco, a fumar quatro pacotes por dia, cerca de oitenta cigarros, uma pira de lenha vegetal capaz de pegar fogo ao mundo. Mesmo agora, aflito, sem fôlego, incapaz de expirar, com o ar parado dentro dele, não passava sem um cigarro. De quando em quando libertava-se do oxigénio para ir acender a lamparina num asterisco brilhante do inferno. Assim fez quase até ao fim, sempre com o lampião do inferno colado aos beiços. Foi uma questão de justiça para com Teixeira de Pascoaes, o seu modelo final, que definira o humano como o “animal que fuma”. Pisar o risco, passar além dos limites, forçar o bom senso, é uma forma de despreocupação, desafiando as regras, mas é ainda uma forma de inocência que ignora a culpa. Quem é mais maldoso, o que evita o mal porque o conhece e teme o seu castigo ou o que se lhe entrega porque o ignora na sua essência? O primeiro, já que só ele pode aproveitar o que sabe. Não há homem mais sensato do que o legislador que introduz no código penal a sentença de morte nem ser mais respeitador dos valores sociais colectivos do que o juiz que a aplica. Esse tipo de homens nunca comete uma infracção e no entanto é através deles que o crime se perpetua.
A exposição na galeria de Alfama ficou marcada para 2 de Novembro, ao fim da tarde. Passou a tarde com Miguel de Carvalho que o visitara com o grupo de Sergio Lima na Primavera e um seu amigo, André Escarameia. Leram poemas, falaram do surrealismo e dos grupos então vivos e quando chegou a hora da mostra não havia sinais de como o levar. Por fim veio um carro enviado pela galeria e foram os dois amigos que o levaram em peso, aos haustos, numa cadeira improvisada, até ao rés-do-chão, cerca de quatro ou cinco lances. Último a chegar à galeria, todos o esperavam – televisões, rádios, jornais e a pequena multidão que se apertava para ver o reencontro dos três mosqueteiros das serenatas das praias da Caparica. No palco havia três cadeiras com José Francisco a meio, a cumprir assim o papel de ponte entre os outros dois. Quando chegou, já Seixas, discreto, calado e modesto, com essa modéstia que alguém disse que chegava a ofender mais do que o orgulho, balizava a margem esquerda. Ocupou pois o lado direito e o homem do centro virou-se de imediato para ele: “ – A Emília manda-te um beijo!” A Emília era a mulher, que ele, Cesariny, conhecera em versão de menina, no momento do início do namoro e que não se atrevera a aparecer. Esteve meia hora na galeria, sempre de cigarro na mão, envolvido numa cortina de fumo. Fez acenos e momices, riu-se e comentou com gestos o catálogo da exposição. Falava já muito pouco, a voz a correr num fio seco e muito fininho e evitou as palavras. De quando em vez um diabrete vinha-lhe dar lume ao cigarro, que alumiava a festa e estrelejava com ruído. No final, quando o ajudaram a erguer, para regressar a casa, Seixas veio ter com ele. Sabia que ele estava a passar os últimos dias e não queria deixá-lo assim, quase sem palavra. Ele não o evitou mas estava exausto. Queria-se ver em casa, deitado na cama da irmã, de olhos fechados, a descansar do mundo onde se nasce e morre. Fizera um esforço desmedido desde que os dois rapazes o tiraram de casa. Seixas ainda o acompanhou à porta mas já nada mais pôde fazer. Perdeu-o na rua, entre a multidão que se apinhava para o ver partir. Encontrara-o pela primeira vez à luz do Sol no Outono de 1935 na velha escola da Rua Almirante Barroso e despedia-se dele 71 anos depois sem sequer lhe dar um abraço na noite suja e húmida da Lisboa antiga, essa que ambos tanto tinham amado e que fora já a enterrar com os dinheiros da Europa e as horríveis arquitecturas do pós-moderno. Nunca mais se viram. É aqui neste livro que se reencontram para não mais se separarem e Seixas lhe dá o abraço que então ficou por dar! Assim os junto e assim os deixo!
A 11 de Novembro ainda se levantou, para evocar a partida de António Maria Lisboa com castanhas e vinho na mesa. Foi o último banquete que deu e esse foi já para celebrar a morte. Escolhia partir no mesmo mês do amigo querido, o mês de Fresnes e da cidade queimada, o mês trágico da morte solitária de Lisboa no quartinho do último andar da Rua das Beatas. Depois disso, desinteressou-se de tudo, deixou de prestar atenção aos que o rodeavam e visitavam. Limitava-se a levantar um braço e a acenar uma negação, enterrado no sofá ou estendido na cama da mana, um pequeno e arredondado berço de boneca. A dele era um catre estreito, enfiado num ângulo da parede, com duas prateleiras de livros a toda a volta. Servia de buraco a um leão solitário e a um eremita, mas não a um moribundo. A sua estatura diminuíra e parecia agora uma criança. O seu rosto, que merecia só à sua conta um longo capítulo neste livro, estava ainda mais esplêndido, tocado pela terrível beleza da morte. Há gente que tem um rosto modelado em barro, um rosto sério, grave e ponderado de camponês, pesado como pedra ou como bronze. É um rosto predisposto à contabilidade e à ciência! O dele havia sido modelado numa labareda brilhante de Agosto roubada ao lume de Apolo e ao sopro de Mercúrio. Fora sempre um rosto leve como o dum anjo, irradiante como o duma criança eterna. Irradiava chispas de luz e de alegria. Era um clarão felino e mordaz, que tinha a imponderabilidade do ar necessário à sua combustão. Ria no silêncio como uma estrela arde e crepita no negrume do céu. Havia nele a maquilhagem do mago, a caraça do saltimbanco, a negra mascarilha do arlequim. Era um rosto predisposto ao riso e ao milagre. A sua obra está toda espelhada nesse rosto magnífico, requintadíssima peça de ourivesaria lavrada e polida em oiro fino, prata e diamante. Não há nele uma ponta só de argila, uma aresta grosseira de granito, um embutido duro de pau. É um semblante solar e escaldante – o contrário da carantonha séria, fria e racional, talhada a podão em madeira dura e seca! Etéreo e incandescente como o gás das estrelas, o seu rosto tem na fronte a aurora dos mundos incriados e nos lábios o grito inspirado e pecador do verbo primordial, origem de todos os gozos e de todas as dores. É o rosto dum arcanjo criador, dum demónio a arder numa espada de fogo, não dum humano! Nunca essa máscara foi tão expressiva, nunca encadeou e cegou tanto, nunca terá sido tão admirável, como nos dias que precederam o seu trespasse. Depois do amor, foi o horror da morte que lhe deu todo o seu sentido cómico-trágico e lhe emprestou toda a sua beleza lívida e fatal. A Parca é o último disfarce de Eros!
Dias depois, a 23 de Novembro, perdeu o resto das forças e deixou de se levantar. Entrava na agonia lúcido, com a consciência desperta, atento ao que lhe sucedia. O momento era apenas a ponta final dum processo que se iniciara há meses, se não há anos. A tentação de espreitar para fora, de regressar ao incriado, de deixar aqui apenas um depósito de cinza, sempre existira e dela deixara registo em tantos poemas do passado. Mas desde a morte da mana que perdera o pequeno resto da vontade de viver no mundo das casas, das ruas e dos humanos, que lhe permitira a custo atravessar as oito décadas da sua existência. Desde há muito que as Naniôras andavam à roda dele – algumas até lhe puxavam pelo braço para ele se decidir a ficar com elas. Uma parte nele resistira sempre. Acreditara que isso assim era para dizer de olhos abertos que a primeira causa da sua vida, a decisiva, aquela sem a qual o mais pequeno sinal escrito ou pintado perdia razão de ser, era a revolução – a revolução das mentes, dos corpos, dos valores, das sociedades. Agora as Naniôras saltavam dos quadros e vinham-lhe povoar a cama e o quarto, marcando contornos mais vivos, ganhando voz mais vibrante, corporizando uma presença mais sólida. Entre o mundo dos sinais, que fora a sua vara de vedor para aceder ao espírito, e aquele que estava dentro dele a diferença era cada vez menor e a fronteira cada vez mais apagada. O seu anjo demónico estava mais vivo, mais irrequieto e próximo. Sentia-lhe a presença como no tempo em que bastava dar um passo na rua para ele lhe segredar as palavras dum poema. Tão preso a si andava agora que era ele que lhe dava lume aos últimos cigarros.
Chegou enfim o braço-de-ferro final. Abria os olhos e reconhecia o real quotidiano, esse mesmo que na antiga juventude, ainda em tempo de neo-realismo, encarara sem qualquer reabilitação possível. Sem o saber, era já então um gnóstico para quem a luz só podia dar mais luz e as trevas mais trevas – dois mundos irredutíveis e sem cruzamento possível, matéria e espírito repelindo-se como dois pólos contrários. O drama especulativo do surrealismo fazia-se-lhe ali presente. Quando fechava os olhos avistava as praias do espírito, o préstito dos triângulos – formas elementares do mundo interior e pontos explosivos de luz. Da sua dança e do seu enlace nasciam as pirâmides, sólidos que sempre o haviam perseguido e de que deixara testemunho em poemas, no nome da revista feita às mesas do Café Gelo e na viagem a Teotihuacan, com o terror que o tomou ante os triângulos da pirâmide do Sol. Voltava a reabrir os olhos e a constatar o real quotidiano – a Lurdes que lhe dava a beber água, o Manuel Inácio que o espreitava dos pés da cama, os amigos que o visitavam, os móveis da casa, as paredes brancas. Voltava a fechá-los e lá estavam os miasmas interiores, as larvas astrais, a luz surreal do espírito povoada por uma supra-zoologia fantástica – Naniôras, Titânias, Oberons, centauros, nereides, duendes –, esse mundo maravilhoso e primordial, constituído por triângulos móveis, mundo vivo e tão real como o mundo da matéria mas que por um inexplicável acidente se tornara invisível aos olhos físicos e ficara para sempre ilaqueado num reduto inacessível, um Elsinor encoberto pelo nevoeiro, de que a maior parte dos humanos nem sequer tinha notícia vaga da existência.
Na madrugada de 26 de Novembro ficou sozinho com o casal que dele tratava. Haviam estado lá uns amigos para saber dele e que pouco depois da meia-noite saíram. Não dormia e entrou na madrugada com consciência do que se passava. Estava lúcido e atento. Distante e desprendido, andava entre lá e cá, de olhos fechados, vigilante e curioso. Assistia ao teatro do espírito, ao movimento dos triângulos, ao ponto explosivo do seu vértice. Sorria e voava por dentro. De quando em quando vinha à superfície, retomando contacto com o mundo material. Sussurrava então com os lábios: “ – horas…?”. Era como se soubesse o momento exacto em que partiria desta transitória pousada e vigiasse à espera – o que levou o seu amigo José Manuel dos Santos a comentar que estas horas finais fizeram lembrar “uma passagem do drama estático O marinheiro de Fernando Pessoa”. Sempre amara o cheiro salino, o recorte das roupas, as cores, a linha de água, a espuma dos rapazinhos da marinha e por isso este “marinheiro” não tem nada de despropositado no seu fim. É o ponto cómico de quem até na morte desdenhou os costumes. Mas quem lhe fez as honras finais, quem o veio buscar com farda e fanfarra de filarmónica, quem o levou foram as Naniôras, as donas marinhas que um dia saíram das ondas do oceano e lhe apareceram a sorrir nas dunas da Caparica em corpo triangular e azul, de vela a arder na mão e nimbo de luz doirada ao redor do ponto cimeiro. Saíram do mundo com ele aos ombros – elas a bailar ao som de pandeiro e ele resoluto e felino. Nem sequer olhou para trás. Tinha saudades do que lá vinha – por diante tinha um longo e heróico caminho – mas não do que deixava. O seu rosto captou e espelhou pela derradeira vez a beleza trágica do seu espírito e quando este se afastou quedou-se imóvel e silente numa máscara de gesso frio e de cinza, onde ficou impressa para sempre uma dedada terrível de luz. Quem o viu naquele instante percebeu todo a secreta vida que há na morte. Eram 5 horas e 30 minutos e a oriente no céu despontavam as primeiras nervuras da madrugada e na folhagem da terra sentia-se a primeira agitação, o rumor inicial que prenuncia o estalar da aurora. Ele despia-se do seu invólucro de carne no fundo mais negro da noite, no ponto final da escuridão para se fazer o arauto da luz que saudava o sol imortal do espírito.
A família não soube logo o destino a dar àquele corpo, pobre resto duma combustão cósmica de galácticas dimensões. Viva estava ainda uma irmã, Maria del Carmen, muito idosa e valetudinária, internada num lar, mas que fez questão de comparecer no funeral, onde esteve na companhia da neta, Teresa Caeiro. Havia ainda sobrinhos directos – descendência de Henriette e de Maria del Carmen, já que Maria Luísa, falecida antes da irmã mais velha, não deixara filhos do casamento com Valentim Moser. Chegou-se a alvitrar a ida dele para uma capela da Igreja do Santo Condestável, na freguesia de Campo de Ourique. Alfim atendeu-se ao que sempre dissera de padres e religião e achou-se melhor um velório laico, num lugar civil da cidade. Ainda se pensou na S.N.B.A. mas alguém lembrou que ainda não há muito, em 1979, ele escrevera um acerado folheto, Messieurs Dames, contra a associação. Acabou por se escolher a sala da biblioteca do Palácio Galveias, no Campo Pequeno, que a Câmara Municipal, por intercessão de João Soares, pôs à disposição. Poucas instruções deixara para o momento da sua morte mas ainda assim sabia-se que não desejava ser cremado nem apodrecer debaixo de terra. Manuel Rosa, seu editor, conhecia o seu desejo de ficar em jazigo pessoal. Não havia porém jazigo nem era previsível que viesse a haver em breve. Mais uma vez foi João Soares que resolveu a questão, arranjando um gavetão municipal, o n.º 29, no talhão dos artistas, no cemitério dos Prazeres, para onde o corpo foi na tarde do dia seguinte, depois do velório na sala da biblioteca. Aqui o mais memorável foi a salva de Fernando Grade, que atirou à queima-roupa, sem ninguém esperar, o poema “Pastelaria”. Balanceava na mão o livro como se fosse uma pistola e disparava as palavras como balas escaldantes. O morto teria com certeza batido palmas a este vendaval de relâmpagos que lhe assaltou o féretro de modo selvático. Digna de registo ainda a entrada de Maria Amélia de Pascoaes, que veio de Amarante a correr, para se despedir dele. Maria José, que estivera ainda na homenagem ao editor da Rua Passos Manuel no antigo cinema Roma, já não veio, pois falecera no ano anterior, dois meses antes de completar os 92 anos. Faltou apenas a armada portuguesa, que podia ter mandado um grumete fardado a preceito fazer guarda de honra a quem tanto lhe dera e tanto a amara.
No cemitério, no momento em que o ataúde deixou o carro, começou a cair água aos cântaros. O céu, esse camarada de todos os anjos que sabem voar, não o esquecia e dispensava-lhe mesmo as honras maiores. Quando a caixa foi colocada no gavetão, a chuva batia com tanta força no empedrado, chorava tanto e tão alto, que parecia que se estava a ouvir a última sinfonia de Tchaikovski.
De seguida foi o testamento e a surpresa. Na tarde da despedida, ainda Manuel Rosa, o testamenteiro, declarava aos jornais (D.N., 27-11-2006): Há uma irmã, sobrinhos e sobrinhos-netos. Há vários testamentos, não sabemos se contemplam a questão dos direitos. Faremos tudo para continuar a editar o Mário, um dos esteios da Assírio, mas não sabemos. Leu-se o testamento, o último, de Julho de 2004, e percebeu-se que os bens eram de vários herdeiros. Manuel Rosa ficava com os direitos da obra poética; o recheio artístico e literário das duas casas, a da Rua Basílio Teles e a da Rua Gil Eanes na Costa da Caparica, ia para Famalicão. Ao filho único da mana dilecta, Manuel de Vasconcelos Carvalho Mourão, deixava o andar da Costa, onde as lembranças dela ainda marcavam em tantos pormenores. O pasmo foi o dinheiro. Deixava todas as quantias das suas contas bancárias à Casa Pia de Lisboa sem condições de uso. Apuradas as contas chegou-se à quantia final de mais de um milhão de euros. Foi essa a novidade e já sabe o leitor porque assim foi. Passou 20 anos a vender a bem dizer tudo em que o seu pincel tocava e continuava a viver como um cenobita numa gruta com um dragão de fogo que se alimentava de traços e de palavras. Ante o montante do legado e sabendo da vontade dele em ficar em jazigo, comprometeu-se a Casa Pia a comprar-lhe um. O negócio não tardou mas a reabilitação do espaço e a resolução de questões legais – havia ossadas não reclamadas – demoraram muito mais do que o esperado.
Finalmente, 10 anos empós a sua partida, a 8-12-2016, os despojos deste vendaval cósmico que se chamou Mário Cesariny de Vasconcelos foram trasladados do gavetão municipal para o seu solitário jazigo, coroado por um frontão triangular de pedra. Até ali as Naniôras lhe faziam discreta mas contumaz companhia. A assistir ao piedoso acto estiveram o presidente da República, o presidente do município de Lisboa, o ministro da Cultura e outros ilustres convidados. Se em carne ainda estivesse, ele acharia graça a tão ilustre conciliábulo mas não deixaria de lastimar, apontando-a com sentida mágoa aos presentes, a falta imperdoável do senhor ministro da Defesa Nacional que tinha a seu cargo a Marinha.
EPÍLOGO
O crisol do cemitério dos Prazeres contém só as escórias dum grande incêndio. É crível que o núcleo desse lume não esteja ainda apagado. Ele percepcionava a vida do espírito como autónoma da do corpo. Tinha uma alma que aprendeu a libertar-se do físico e a fazer viagens por sua conta e risco a domínios vedados e invisíveis. Talvez o principal interesse da sua experiência, a chave que permite compreender os sucessivos passos da sua vida, da sua poesia e da sua criação em geral seja esse. A sua alma estava separada do seu corpo e ganhara uma autonomia própria e inconfundível. É esse o centro do seu drama.
Daí o anjo demónico que lhe inspirava a criação poética e que não se deixava dominar pela sua vontade nem obedecia às suas ordens. Tinha um destino próprio, uma vontade independente que se impunha ou se desviava da dele. Caprichava até, aproximando-se e afastando-se – talvez para lhe lembrar que punha e dispunha como bem entendia. Ele chegou a ver esse diálogo entre o seu corpo e o seu anjo como um casamento, com todos os fervores do noivado e os amuos da rotina. Por isso um dia disse que a Musa lhe passara os cornos e estivera sem lhe aparecer. Amavam-se porém demais para se deixarem de ver. Pertenciam um ao outro. Até ao fim o seu anjo nunca deixou de o visitar e de lhe dar a grande alegria das palavras, dos traços e dos sinais inspirados.
Embora lhe pertencesse, esse anjo não morreu com ele. Há seres cuja alma morre com o corpo. São mesmo a maioria. Nunca souberam dialogar com a sua alma e fazer dela um “daimon” e nunca a quiseram ouvir. Esses seres mantêm a alma presa ao corpo ao longo da vida. Nunca a soltam. Têm-na bem algemada com um cadeia de ferro. Arrastam-na atrás de si, sem sequer se darem conta dela. Nenhum diálogo, nenhuma troca! Uma tal prisão impede o seu normal crescimento e resulta numa atrofia, cujo fim é o definhamento. Essas almas são pássaros presos numa minúscula gaiola que nunca experimentaram as asas e perderam por isso a possibilidade de voar. Morrem de vez na terra, quando o corpo se desfaz e volta ao pó. São promessas por cumprir que ficam à espera de renascer. A alma de Cesariny era uma ave livre, saudável, luminosa, que desde muito cedo ele soltara em voo planado. Como técnica do espírito, não como ideia estética, o surrealismo ajudou-o a entranhar e a desenvolver esse trabalho interior que vinha de trás, da sua infância de alquimista, e permitiu-lhe entregar-se em consciência ao “automatismo psíquico” – outro nome para “libertação da alma”.
Por isso o seu anjo não morreu com o seu corpo. Sobreviveu ao drama que aconteceu na Rua Basílio Teles na madrugada de 26 de Novembro de 2006 e seguiu o seu caminho. Estava já exercitado o bastante – autónomo e desprendido – para não ficar encarcerado no corpo. No vaso do cemitério estão as cinzas, as escórias, mas o fogo do génio que o assistiu ficou vivo e nem sequer precisou de olhar para trás no momento em que o corpo caiu. Sabia que lá ficavam apenas as borras das suas pétalas de lume. Esse mirrado corpo, apagado de tanta luz que deu/ frio de tanto calor que derramou e que alguém tristemente cobriu com uma mortalha branca numa manhã húmida e fria de Outono, esse corpo não passava afinal dum resíduo da admirável operação alquímica que fora a sua vida. O fogo do seu incêndio continuou vivo e incriado.
Os Astecas, que herdaram Teotihuacan dos Toltecas que por sua vez já a haviam herdado de outros ancestrais, percepcionavam o reino dos mortos dividido em três domínios. O primeiro era a Casa do Sol; o segundo, Tlalocan ou o Paraíso terrestre; o terceiro Mictlan ou o Reino subterrâneo. Cada um tinha as suas regras próprias. A Casa do Sol destinava-se aos que morriam em combate, às vítimas de imolação sacrificial e às mulheres que não resistiam ao parto. Ao fim de quatro anos a alma destes mortos voltava à Terra transformada em pássaro de vistosa plumagem. O Tlalocan estava destinado aos que morriam afogados ou electrocutados por relâmpagos; por sua vez, o Mictlan a todos os outros, sem condições de casta ou classe social.
Este último, onde reinava um casal de demónios, Mictantecutli, também conhecido por Tzontemoc (o que baixa a cabeça) e Mictlancihuatl, era uma região subterrânea e muito longínqua. A alma do morto precisava de fazer uma difícil viagem para a qual tinha de se preparar em vida desde criança. Tinha de atravessar uma cadeia de montanhas e de percorrer um caminho guardado por uma serpente e por um lagarto lendário chamado Xochitonal. Vinham depois os oito desertos gelados, as oito colinas e um vento tão forte que era capaz de arrancar pedras do ventre da terra e das montanhas, o vento das facas, Itzehecayan. Os familiares do morto iam queimando os bens do defunto de modo a ajudá-lo a vencer as provas. Superado o vento, a alma chegava ante um curso de água, o Chiconahuapan, o grande rio do inferno, que só podia ser atravessado às costas dum animal. Por isso estes humanos criavam em vida pequenos cães de pêlo vermelho, intrépidos e bons nadadores, que depois sacrificavam, na esperança que mais tarde aguardassem na margem do rio o dono que reconheciam e ajudavam. Na outra margem, a alma do morto chegava ao Mictlan, os nove infernos, onde se fundia com os primeiros antepassados – os que haviam fundado Teotihuacan e se haviam tornado deuses como Quetzalcoatl.
O meu biografado foi um deslumbrado admirador da cultura do México pré-colombino e o momento chave da sua vida talvez seja a visita que fez às pirâmides de Teotihuacan em Maio de 1976. Ia fazer 53 anos e viveria ainda mais de três décadas. Sabe-se que teve aí aquilo que chamou “uma pequena aventura mística, mítica” e que só pode ter sido mais um episódio da sua prática de “automatismo psíquico”. No mais luminoso e no mais sangrento, no mais desmedido e no mais contido, amava e admirava na cultura dos índios do continente americano, a ordem psíquica a que ela se subordinava e a força da sua determinação mítica. Estava toda ela montada para que a alma se soltasse como um papagaio de papel xamânico. O índio sabia falar com o seu duplo.
Na depauperada tradição em que ele nascera, essa que olhava do Martim Moniz para Paris e tocava piano e falava francês, vivia-se para multiplicar a riqueza. “Enrichissez-vous!” – haviam proclamado em altissonante brado os iluminados guias da moderna sociedade europeia. Ninguém pensava pôr a voar a alma, ninguém se preocupava em preparar a grande viagem aos infernos do fim, ninguém sabia que tinha um duplo angélico que precisava de voar. Esta cultura da moeda era para ele tão repugnante e tão perigosa como uma epidemia de peste. Desprezou-a e massacrou-a – auri sacra fames! – nos poemas burlescos da fase inicial, que vistos hoje fazem a vez dum broquel micénico contra o veneno social do tempo.
Defendendo-se do que a ofendia, a poesia mantinha acesa no Ocidente a chama essencial duma sabedoria ancestral perdida. Por isso ele não foi só um infrangível poeta satírico na linha dum Tolentino e dum Junqueiro, sempre com o dedo no gatilho da graçola certeira. Ele contemplou em vida os arcanos que povoam o outro mundo, brincou com as fronteiras da vida e da morte, conheceu os segredos, contemplou os mistérios e cinzelou as chaves e os sinais que tinham o poder mágico de dar vida ao indizível. Foi um vate inspirado por um anjo, um mago, um íntimo de Guilgamesh, um afim do canto VI da Eneida, um mestre da catábase com bilhete de ida e volta para as viagens iniciáticas aos infernos de Dante e de Rimbaud e cuja arte foi traduzir magistralmente o que está oculto na alma.
Aquele que sabia que nada era tão anterior ao princípio como o fim, aquele que não precisou de voltar a nascer porque nunca morreu, ao libertar-se no termo da noite da comédia do seu corpo pôde assim tornar-se no clarim da luz e saudar o sol imortal que se levantava esplêndido nas regiões do espírito.
11 de Novembro de 2017
a 9 de Julho de 2018
ANEXOS
ANOTAÇÕES*
On peut finir un livre, on n’achève jamais une enquête.
ASSOULINE
1 NOTA INTRODUTÓRIA
A bárbara alusão ao surrealismo, que nem os Camarões gerariam, está em obra máxima de referência da língua portuguesa, História crítica da literatura portuguesa, vol. VIII, “Do neo-realismo ao pós-modernismo” (ed. Carlos Reis, 2005) e diz assim (p.136): Para além da estética e de práticas surrealistas continuarem a estar na origem de várias manifestações artísticas, o grupo de artistas que se reúne à volta de Louis Aragon (depois do seu regresso do exílio, nos Estados Unidos da América, em 1947), só caminha para a dissolução com a morte deste, em 1966. Nunca se viu tanto erro junto em tão poucas linhas. Louis Aragon não se exilou durante a guerra, não regressou do exílio dos Estados Unidos, não morreu em 1966, nenhum grupo caminhou para a dissolução depois da sua morte em 1982 e não deu qualquer contributo ao surrealismo depois da recuada data de 1930, ano em que aderira às teses da arte soviética. André Breton por sua vez esteve nos Estados Unidos exilado depois da ocupação nazi da França mas regressou em Maio de 1946 e não em 1947. Não se pode também dizer que tenha reunido à sua volta qualquer “grupo de artistas”, menos ainda que esse grupo caminhou para a dissolução – ainda hoje existe e com ele trabalhou de perto Mário Cesariny em 1992 – com a sua morte, que de feito aconteceu em 1966, o único ponto reconhecível em tantos e tão diversos disparates.
O estudo de conjunto para a obra de Mário Cesariny continua a ser o livro de Maria de Fátima Marinho, O surrealismo em Portugal… (1986; 1987), que nem sequer lhe é dedicado e tem hoje mais de 30 anos. Há no trabalho um acervo de informação sobre o poeta e a sua obra que continua válido – nele se estuda pela primeira vez a polémica com Eugénio de Andrade, a estadia em Estremoz e a colaboração dada ao jornal portuense A Tarde e nele se aponta também pela primeira vez a importância de Isabel Meyrelles na Lisboa do final da década de 40 – mas mostra limitações de abordagem, que de resto foram há muito apontadas pelos participantes do movimento. Mário Cesariny arrasou o livro numa carta a Ana Maria Pereirinha (14-12-1989; Delphica, n.º 2, 2014): O trabalho da Maria de Fátima Marinho é duma nulidade absoluta. Isabel Meyrelles em carta para Seixas mostra-se muito crítica (4-5-1987; inédita; espólio de Cruzeiro Seixas B.N.P.): Achei o livro da Fátima Marinho cheio de lacunas e sobretudo o não falar sobre os plásticos, que foi a ponta (talvez) mais importante do surrealismo em Portugal. José Pierre, ligado ao grupo surrealista de Paris desde 1952, deu-o por superficial e desproporcionado [transcrevo de carta de Cruzeiro Seixas a Bernardo Pinto de Almeida, s/d ( ?-12-2000); inédita; arquivo U.É.)]: Cet ouvrage imposant a au moins un grave inconvénient – ou alors il aurait fallu l’intituler autrement – celui de réserver au seul Cesariny, dont l’importance en tant que poète ou qu’animateur du surréalisme n’est pas en cause, 260 pages sur 560, pour ne pas parler de l’étude proprement dit, ce que conduit l’auteur à ne consacrer que trois ou quatre pages par exemple à Cruzeiro Seixas, ce qui est d’une disproportion flagrante et d’une injustice criante. Quant à l’exposé historique, il paraît bien superficiel. Finalement, l’apport le plus précieux de cette entreprise, ce sont les 131 pages d’inédits sur lesquelles s’achève le volume.
2 A CRIANÇA E A NOIVA ALQUÍMICA
A Vila Edith consta do Registo de Nascimento de “Mário Cesariny de Vasconcelos”: (…) nasceu na estrada da Damaia, vila Edith, da freguesia de Benfica (…).
Nome, origem e idade da mãe de Mário Cesariny têm versões diferentes em documentos oficiais. Nos documentos relativos ao filho – Registo de Nascimento e Assento de Óbito – surge sempre como Mercedes Cesariny Vasconcelos. A origem é o Registo de Nascimento do filho de 8-9-1923 em que aparece com esse nome e como tendo nascido em “Paris, França”. Os dados do Registo foram fornecidos pelo pai, Viriato de Vasconcelos, que aí aparece dado como “comerciante”. Na Fundação Cupertino de Miranda existe um Bilhete de Identidade seu, datado de 13-3-1931, em que o seu nome surge como Maria Mercedes Cesariny Escalona Vasconcelos (assina Mercedes Cesariny Vasconcelos) e como tendo nascido em Hervàs, Cáceres, Espanha. Na certidão do nascimento do filho, de Setembro de 1923, é dada como tendo 30 anos e no Bilhete de Identidade como tendo nascido em16-10-1891, o que faz que estava quase a completar 32 anos em Setembro de 1923. Por sua vez Mário Cesariny na dedicatória que fez a sua mãe na primeira edição de Pena capital (1957) usa ainda um terceiro nome, que não corresponde nem ao da sua Certidão de Nascimento nem ao do documento de identificação da mãe: “Mercedes Cesariny Rossi Escalona de Vasconcelos”. No pedido que dirigiu ao “Director da Escola de Artes Decorativas António Arroio” em 23-8-1973 pedindo uma certidão comprovativa do seu aproveitamento nos cursos de cinzelagem e de habilitação às Belas-Artes refere o nome da mãe como “Mercedes Cesariny de Vasconcelos”.
Há registo da família Cesariny em Portugal pelo menos desde o século XVIII. A grafia varia: Cezarini, Cesarini, Cesariny Cesarino ou Cezarino. O ramo mais antigo parece ter vindo de Roma e da Itália continental e o mais recente, o Cesariny Rossi, da Córsega, com paragens por Paris e por Cáceres. Pelo casamento das duas filhas de Pierre Cesariny Rossi e Carmen Filipe Escalona, desdobrou-se o mais recente por duas estirpes: os Cesariny Calafate, na Póvoa do Varzim, e os Cesariny Vasconcelos, em Lisboa, que se mantiveram em contacto durante décadas.
Sobre o casamento dos pais há o seguinte passo numa entrevista já final (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): A certa altura, [as duas irmãs] tinham o projecto absolutamente maluco, de ir para a América do Norte ensinar francês. Imagina a minha mãe, que era castelhana, e a minha tia Henriette, que era castelhana, nos Estados Unidos, a ensinar francês. Isto já é uma loucura. Bom… então passaram por Portugal, não sei porquê fixaram-se mais, e a minha mãe e a minha tia, davam aulas de francês. (…) Foi aí, nessa escola, que a minha mãe conheceu o meu pai. Que nessa altura era um guapo homem e lhe propôs casamento. Mas ela como infanta castelhana que era, exigiu uma cláusula: casavam e iam para Paris, onde havia família. A tia Guidite, o coronel Grazziani – que não sei se é o sacana do Grazianni que depois aparece com o Mussolini, mas devia ser da família. E assim foi. Casaram e foram para Paris. Mas foram para Paris, e nessa mesma altura rebentou a guerra de 1914. Resultado: voltaram. A menina Henriette foi feita em Paris, mas veio ser parida a Portugal.
O retrato que ele fez ou fazia dos tios poveiros a partir das recordações que ia buscar à infância foi restituído por José Manuel dos Santos no texto que veio a lume logo depois da morte dele (Público, 8-12-2006) e serviu de seguida de prefácio à antologia Uma grande razão – os poemas maiores (2008: 7-14): (…) na Póvoa do Varzim havia um tio, homem “importante dos regimes”, que não tinha aceitado (…) um lugar no governo de Salazar. A mulher dele, espanhola efusiva e ambiciosa, insultava-o por isso, enquanto ele permanecia silencioso (…). Toda a manhã, ela andava pela casa, atirando-lhe à cara um nome: estúpido! E, ao mesmo tempo, dizia baixinho, contentíssima, para o jovem Mário: “Niño, já viste o que é chamar estúpido a um homem desta posição!” Beata, esperta e má, quando regressava da missa, inspeccionava minuciosamente a limpeza da cozinha e apertava o pescoço das criadas, gritando: “Este tacho não tem o brilho que devia ter. Há aqui uma mancha. Isto é um pecado. Deus está nos pormenores.
A morada da casa da Rua da Palma ficou registada numa entrevista, em que falou do casamento burguês de Henriette no meio joalheiro dessa mesma rua (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): Nós vivíamos no n.º 24 da Rua da Palma, exactamente naquele quarteirão que o Salazar por desprezo profundo pela má gentinha – porque havia a Rua da Palma, não é?, que tapava a rua que estava por trás, que era a Mouraria e que era a rua das putas e dos chulos e dos ladrões, quer dizer, a melhor gente, não é? (ri) – e por ódio àquela gente, arrasou. E isto é tão verdade, que durante – não havia nenhum plano, o plano era expulsar aquela gente toda – durante 30 anos ou mais, aquilo esteve em campo raso, não havia nenhum projecto para aquilo. Mas na Rua da Palma havia muito comércio, e comércio respeitável, sobretudo joalharias, que não tinham a qualidade das joalharias do Chiado, mas mesmo assim havia joalharias muito boas, como a do Carvalho Mourão, que tinha um filho, o Nuno … (futuro marido de Henriette Cesariny). O casamento de Henriette Cesariny com Nuno da Silva Carvalho Mourão, também filho de joalheiro, aconteceu cedo, pois o filho de ambos, Manuel de Vasconcelos Carvalho Mourão nasceu em 1938. Em 1965 o casal já estava legalmente divorciado como se vê em passaporte então tirado por Henriette e hoje depositado no arquivo da Fundação Cupertino de Miranda [foi reproduzido por Marlene Oliveira no seu trabalho de mestrado em 2010 (v. bibliografia)].
A casa da Rua da Palma foi reconstruída por Cesariny em entrevista (Público, 30-11-2004): Na loja da Rua da Palma, o meu pai tinha um andar para o escritório, outro para morar e um outro que funcionava como oficina de ourives. Eu vinha do liceu e tinha de passar pelo patamar do escritório para chegar a casa. Passava e em bicos dos pés, para ele não saber que eu já tinha chegado. Isso diz tudo. Eu queria ser pianista a sério. As minhas irmãs tinham aprendido a tocar; nós tínhamos um piano em casa – toda a gente tinha um naquela época – e fiquei apegado àquilo. Na mesma informa que o prédio estava instalado na zona depois destruída e noutra volta a confirmá-lo (Semanário, 4-6-1988): O meu pai era ourives joalheiro, com casa, escritório, oficina e loja na Rua da palma, no lado que foi deitado abaixo juntamente com o único bairro mouro que ainda existia em Lisboa, com vestígios sérios da cidade medieval e de quinhentos. Desaparecido, como o Teatro Apolo e a igreja que lhe era fronteiriça e as célebres cinco esquinas passaram a quatro. O doutor Salazar não gostava de teatro nem de esquinas nem de mouros e, quanto a igrejas, tinha outra mais abaixo, a de S. Domingos, onde era chique ir à confissão e à missa, aos domingos, com a chiqueza dos indo-europeus. Um pavor!
Há cerca de 20 anos tive um sonho com a casa de Cesariny que aqui registo (29-6-1999): “Um muito idoso Cesariny vive numa casa vazia e arruinada, sem tecto, numa rua estreita e labiríntica da Lisboa medieval. A casa é um misto de capela, palácio, bordel e ruína. A única coisa que salta aos olhos é uma trave de madeira antiga e polidíssima. Ele vai viajar e encarrega-me de tomar conta da casa, dando-me a chave e pedindo-me para lá ficar a viver. Assim faço. Os dias e as semanas passam e por mais que eu tente encontrar o fim da casa nunca consigo. O espaço elastifica e cresce sempre, dando origem a descampados, a pastagens, a desertos e a florestas habitadas por malaios, chineses e esquimós. Por cima de mim há planos sobrepostos, astrais, pelos quais a casa continua. Ao fim de muitos meses Cesariny regressa da sua viagem e eu vou recebê-lo à porta de um deserto árido. É noite e ele mostra-se surpreso. – A casa transformou-se na minha ausência – diz ele. Tenho a impressão que ele brinca e finge não reconhecer a casa mas também eu noto que ele se transformou. Está mais velho e ágil, com o cabelo ainda mais branco – alvinitente – e comprido. Olho depois a trave de madeira e noto que ela se transformou em osso e está muito mais polida.”
A Póvoa do Varzim ficou até ao fim da vida, pelo menos até à partida da irmã Henriette em 2003, um espaço físico a que sempre regressou. Numa carta de Manolo Rodriguez Mateos a Cruzeiro Seixas diz-se o seguinte (9-8-2001; inédita; arquivo U.É.): Me digo [Cesariny] que se marchaban a Póvoa de Varzim, por lo menos hasta el 15 de este mes de agosto. Também a prima Maria Helena Cesariny Calafate nunca deixou de ocupar um lugar de destaque no seu imaginário. Em 1958, há a carta a Vieira da Silva (Março de 1958) em que dela longamente discorre. Mais tarde há os testemunhos finais em que amiúde a ela regressa. Falecida muito antes dele, em 1986, tornou-se por isso uma presença recorrente das suas lembranças. Quando enumerou a lista dos seus mortos, leia-se o que ele disse desta sua prima (Verso de autografia, 2004, s/nº p.): E morreu a que eu posso considerar a minha noiva alquímica, porque nós – todos os anos… o nosso pai era um grande traste, mas levava-nos para a Póvoa do Varzim, onde tínhamos tios, a tia Henriette Calafate – e eu e a Maria Helena, desde miúdos, em vez de irmos para a praia do turismo, fugíamos para as bandas de Vila do Conde, desaparecíamos e andávamos o dia inteiro. Quando chegávamos a casa apanhávamos coças tremendas: “onde é que vocês andaram?!” Isso acabou quando eu teria talvez 14 anos ou 15, não sei. Mas o que é extraordinário, e não digo isto por vaidade, é que ela depois fez a sua vida, foi hospedeira de bordo dos aviões, quase sem saber inglês, depois casou com um homem rico alentejano, mas o que aconteceu, isto contou-me a minha prima Maria Clara, que também já morreu infelizmente, é que à hora da morte, ela falava em mim, dizia: “Era um amor puro.”
Para entrar no liceu Gil Vicente ele entregou documento comprovativo do exame da quarta classe, que apenas indica a data do exame do 2.º grau do Ensino Primário Elementar (18-7-1934) e não a escola que frequentou. O registo do exame ficou no livro de termos da Escola n.º 12/21. Tudo indica que frequentou escola primária oficial, ao menos nos últimos anos. Conheço uma única alusão à sua escola primária (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): Pois, pois, pois, com a cruz e o retrato do Salazar e do Carmona. [A minha escola primária] Era diante da Praça da Figueira. O processo individual de Cesariny no liceu Gil Vicente (n.º 22024) é constituído pelo comprovativo do exame da quarta classe (20-8-1934), uma certidão de nascimento (4-8-1934), uma fotografia (tinha 11 anos) e o registo das notas nas disciplinas frequentadas!
A correspondência postal de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas foi publicada em 2014 (v. bibliografia) e diz respeito às cartas depositadas na B.N.P. no espólio de Seixas. Não houve porém publicação completa. Ficaram de lado três telegramas (27-3-1947; 4-10-1965; 21-1-1966), todos com dados biográficos significativos, e três cartas (26-6-1972; 3-10-1972; 6-11-1977) – a primeira com provas tipográficas do caderno dos aforismos de Pascoaes e documento de pagamento do livro; a segunda com contas deste livro (3-10-1972) e a terceira por portador, Raul Perez, sobre as mostras de 1977 na Galeria Bouma de Amesterdão e na Galeria da Junta do Turismo do Estoril. Há ainda uma carta de monta (13-3-1970) que está entre as de Isabel Meyrelles e que por isso escapou à publicação. Nela se fala da instalação de Cesariny em casa dos Margaridos em Paris nesse Inverno – o do julgamento do tribunal plenário de Lisboa dos arguidos no caso da antologia de Natália Correia e onde ele se fez representar por Luso Soares, seu causídico. A observação dos originais das primeiras cartas é importante pois quase todas foram escritas a lápis. A transcrição feita é em geral excelente (mas a carta de 8-9-1946 está mal datada; o dia 8 foi um domingo e a carta diz “amanhã, quinta-feira”; o carimbo aponta para a expedição a 18 de Setembro, que calhou nesse ano uma quarta-feira). Uma curiosidade está na carta de 26-11-1965, enviada de Londres mas escrita num envelope com os seguintes dizeres (não reproduzidos no livro): “Café Restaurante Royal / Ramon Rodriguez Perez (herdeiros) / 14 Praça Duque da Terceira, 17, / Lisboa/ telefone: 23712-29709”. O Café Royal fechara no final de 1959.
Francine Benoit, que chegou a colaborar no jornal A Batalha, e Maria da Graça Amado da Cunha têm ambas o espólio na B.N.P. mas não há neles qualquer documento de Mário Cesariny. Sobre Lopes Graça, o piano, a sua vontade em ser músico e a oposição do pai falou em muitas entrevistas do final da vida. Veja-se esta ao D.N. (1-7-2002), na versão completa que apareceu já depois da sua morte (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Quanto à música, a família tinha o piano em casa, ali na Rua da Palma, na parte que foi destruída, e as minhas três irmãs também estudaram música. Eu é que me peguei mais ao piano, mas, quando o meu pai chegava, já não podia. O Lopes Graça dava-me lições de graça, espantava-se por eu tocar coisas muito difíceis e não ligar às fáceis, mas, às tantas, desisti.
Sobre os primeiros textos poéticos de Mário Cesariny há ainda um curioso depoimento de Cruzeiro Seixas e que se deve referir aos anos de 1941 e 1942, ou mesmo antes (A liberdade livre – diálogo com José Jorge Letria, 2014: 37): Depois foi o tal encontro espantoso com o Cesariny. Ao meu lado, pelas ruas de Lisboa (nessa altura nós andávamos quilómetros pelas ruas de Lisboa) o ir da Baixa ao Campo Grande a pé não era nada. Conversávamos muito, o Mário ia fazendo poemas na contracapa dos livros que andávamos a ler, sentávamo-nos num banco e o Mário dizia: “Olha, fiz mais este poema. Que tal achas?” e depois eu dizia: “esta palavra aqui não punha.” Sabe que eu tinha alguns desses livros e emprestei-os a não sei quem e depois nunca mais os vi. O pior é que não sei a quem (…). Foram os primeiros poemas do Mário.
Não consegui encontrar rasto de Mário Cesariny no Partido Comunista. Ele contou a história ao D.N. (1-7-2002) da sua entrada, da sua saída (ou adormecimento), do tempo que por lá ficou e do que por lá fez enquanto esteve activo. Cito na versão mais completa da entrevista que apareceu já depois da sua morte (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): No princípio do fim da II Guerra, estive aí um ano no Partido Comunista. Só fiz uma conferência nos Penicheiros, uma sociedade comunista, na margem sul. Não era nada para a cultura, era para aquela malta ficar a conhecer-me. A certa altura disseram-me: “Eh, pá! É uma chatice mas houve uma interrupção de ligações; deixa-te estar, vai à tua vida até te chamarem outra vez.” Nunca mais me chamaram, cortaram e ainda foi bom, porque às vezes, na história das saídas havia sarrabulhos, escreviam coisas horríveis no Avante! Saí silenciosamente. Ok! Também não estava a gostar. A minha conferência foi quase toda ditada pelo controleiro. Aquilo não tinha nada a ver com o que eu procurava; era caso de fé, de igreja. A sua ligação ao M.U.D., que só nasceu depois do fim da guerra, no Verão de 1945, parece assim ulterior à sua passagem activa no Partido Comunista.
Sobre o dissídio com o pai veja-se esta declaração (Público, 30-11-2004): Tive uma luta muito grande contra o meu pai. Eu não sabia o que queria mas o que não queria sabia perfeitamente. Não queria seguir a carreira dele. (…) Eu ia dar um belo ourives, dizia ele. Mas eu não queria… E andei muito ano a enganá-lo. O mais possível. Para o trabalho na oficina do pai há boas informações numa entrevista final (Diário de Notícias, 1-7-2002) – depoimento que na versão posterior cresceu e ficou mais completo (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): [o meu pai] queria que eu seguisse o negócio dele, de ourives joalheiro: estive bastante tempo na oficina, o meu pai tinha muitos oficiais a trabalhar para ele, fiz anéis e brincos, fiz muitos broches. Ainda tenho um anel que fiz! Mas aquilo não me dizia nada.
Da adesão à música, que se tornou o primeiro nó da discórdia entre pai e filho, e das aulas que frequentou desde muito cedo na Antiga Academia de Amadores de Música ficou este registo (Semanário, 4-6-1988): Toda a gente achava muito curiosa aquela afeição do menino ao teclado e às classes de rudimentos na antiga Academia de Amadores de Música, com o padre Borba e a dona Ilda Carneiro, no edifício que depois foi, durante muitos anos, o quartel mestre da PIDE. Aquele donde lançavam pessoas pelas janelas.
3 O GATO ILEGAL
Para o piano de Cesariny nas noites de Verão a fonte é Seixas no texto de Dezembro de 2006 (“Mil Folhas”, Público, 8-12-2006): Era lindo chegar a casa dos pais, na Basílio Teles [em Lisboa], e no Verão aquela janela aberta e o Mário agarrado ao piano. Batia com muita força nas teclas.
Irene Lisboa tem o espólio na B.N.P. mas não há nele qualquer documento de Mário Cesariny. No comunicado que Mário Cesariny leu na galeria S. Mamede em Fevereiro e distribuiu em cópia à imprensa que o reproduziu [O Século (14-2-1973), D.L. (15-2-1973), República (15-2-1973), D.P. (22-2-1973)] dá Irene Lisboa como surrealista. Não a cita porém em “Para uma cronologia do surrealismo em português” publicado no final desse ano na revista Phases (e recolhido depois em As mãos na água…) – nem mesmo nos “prolegómenos”.
Sobre o Café da Almirante Reis e a sua fauna tão singular há o texto que Mário Cesariny escreveu para o catálogo da exposição de Cruzeiro Seixas na galeria S. Mamede, “20 bules e 16 quadros de Cruzeiro Seixas” (1970) e que foi dos raros sobre o amigo que ele continuou a recolher em livro (As mãos na água…) depois da zanga com ele. Muitos anos depois contou ao sabor da conversa o principal do texto na entrevista ao D.N. (1-7-2002). Ficou assim na versão mais completa que apareceu já depois da sua morte (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Não éramos só nós os malucos ali dentro; era toda uma população daquele bairro junto à [Rua] Morais Soares [zona da Praça do Chile]. Parecia gente de Moscovo ou de são Petersburgo em 1890, muito esquisita. Um, a quem chamávamos o Caveira, sentava-se a um canto, com um lápis, papel e borracha, escrevia dum lado e doutro da folha e depois, com a borracha, apagava tudo e continuava o seu romance. Essa era só uma das figuras. Outra era a duma velha absurda, um bocado trapuda, que levava uma ventoinha de madeira, punha-a em cima da mesa e o vento, se vinha algum, ia todo para outro lado, não para ela. Depois havia os miúdos, farraposos, coitadinhos, a quem o Vespeira arranjou nome, os Ursinhos, que colavam o nariz aos vidros da rua, a sonhar com o paraíso que devia ser o quentinhos lá dentro. Também havia uma velhinha lá fora, todos os dias, com uma cafeteira sem fundo… Fazíamos maluquices, claro. Saltávamos por cima das mesas, sei lá. O grande número era a chegada dos caçadores com os cães, numa algazarra, a caminho do quintal do fundo. Nós ainda lá fizemos uma exposição de bonecos, como o General de Gaulle do Seixas e outros, que colámos na parede com cuspo e o açúcar molhado das chávenas. De certa maneira, tudo o que fazíamos era uma sátira e uma recusa violenta da ditadura. Mas tudo tão estranho que a polícia não alcançava. O irmão do João Rodrigues [José Leonel Rodrigues] arranjou uma máquina e tinha o projecto de filmar, horas inteiras, o galo que havia na capoeira ao fundo do pátio, sempre apoiado só numa pata… O dono do café era também louco como se pode imaginar.
Sobre o roubo dos livros na livraria Portugal e a situação de Júlio Pomar a fonte é Cruzeiro Seixas (depoimento oral). Mário Cesariny na cronologia inicial d’ A intervenção surrealista confirma o caso numa nota relativa ao ano de 1943 (1997: 50): Às tardes: descida às livrarias da Baixa para recolha de material cultural.
Para a exposição no quarto da Rua das Flores há numa carta de Pedro Oom para Mário Cesariny (22-10-1965) os seguintes elementos para o ano de 1942 (Poesia de António Maria Lisboa, 1977: 386): Foi nesta altura, suponho, que se veio a fazer a exposição na R. das Flores (ou em 1943?). Mas se queres saber com mais certeza procura o catálogo da exposição do Vespeira e do Azevedo na Jalco que menciona a data exacta da exposição da R. das Flores. Nesta exposição colaboraram Vespeira, Azevedo, Pomar, José Maria da Mota Gomes Pereira e eu. Na cronologia inicial d’ A intervenção surrealista há também um apontamento sobre a exposição, rectificada agora para 1943, em que Oom completou 17 anos (1997: 50): Vespeira, Pomar, Fernando Azevedo, José Maria Gomes Pereira expõem num quarto da Rua das Flores. Almada compra um Saltimbanco a Pomar (cinquenta escudos).
O vínculo de Cesariny à escola de artes decorativas António Arroio é atestado pelo seu cadastro na escola que sobreviveu à grande mudança das instalações da Rua Almirante Barroso para as Olaias, nas traseiras da Alameda D. Afonso Henriques. O registo confirma a sua entrada na escola no ano lectivo de 1935-36, o mesmo em que Seixas entrou, e confirma a sua permanência na escola até ao ano lectivo de 1942-43, altura em que completou os 20 anos. Entrou para o Curso de Cinzelador que concluiu em 1937-38, transitando então para o Curso de Habilitação à Escola de Belas Artes, que frequentou até 1943, tendo perdido por faltas os últimos dois anos. O período final da escola António Arroio, em que ele perdeu por faltas dois anos, coincidiu assim com as reuniões no Café Herminius e a primeira criação poética de Mário Cesariny (1942-1944), que prepara a sua adesão ao neo-realismo e a entrada no P.C.P. em 1944.
A experiência com a prostituta é recordada por Seixas deste modo (“Mil Folhas”, Público, 8-12-2006): O pai queria que ele fosse ourives, que ganhasse a vida, que casasse. Desconfiaria que ele não actuaria muito heterossexualmente e um dia meteu-o num quarto com uma prostituta. Interesse pelas raparigas nunca houve. Nessa mesma entrevista recorda assim o momento em que conheceu o amigo (idem): Conheci o Mário Cesariny na escola António Arroio. Era um rapazinho lindo. Engatei-o. Nem tínhamos bem consciência do que era a homossexualidade, [que] nessa altura era tida como uma doença. A mim interessava-me fazer amor, não vício, isso nunca fiz. Namorados, eu e o Mário, não; era coisa de garotos que passou.
A mesma experiência – relações que teve com uma prostituta – foi assim recordada pelo próprio (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): O meu pai um dia mandou-me às putas com o filho do guarda-livro dele, que era amigo, e ele também era amigo da célebre dama vermelha (ri), que era dona da casa de pegas, e que saía para a rua toda vestida de odalisca, a distribuir panfletos. Bom… então mandaram-me a mim, e foi um desastre. (…) Muito mais tarde, repetiu-se a gracinha, porque a minha mãe apanhou uma carta minha, ficou muito assustada, e então um cunhado meu, o José Moser, o marido da Maria Luísa, que morreu o ano passado, levou-me a uma pega chique, ali na Rua da Misericórdia. Não gostei. Não gostei mas desempenhei, até um bocado demais, porque… para confirmar se eu era capaz, dei duas de seguida – sem prazer nenhum. Esta passagem tem o interesse de indicar o ano da morte da irmã Maria Luísa, a mais distante de Mário e Henriette. Tudo aponta para que este passo da entrevista pertença ao ano de 2002. Este cunhado, Valentim José Rodolfo Hofacker de Moser, chegou a proibir a entrada de Seixas na casa da Rua da Basílio Teles, tentando desviá-lo da homossexualidade, que atribuía à influência de Seixas. Contou assim a história (Catálogo das exposições de João Rodrigues, António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria, António Paulo Tomaz, Fundação Cupertino de Miranda, 2010: 68): O Cesariny tinha três irmãs mas com a mais nova, a Luísa, o relacionamento não era fácil. (…) namorava ela um falso conde de Moser, com quem veio a casar. Mas naquela família havia por aquele tempo a suspeita da homossexualidade do Cesariny, e uma das vezes que o procurei em casa, como era habitual, apareceu a Luísa a abrir a porta com o seu conde, que com voz autoritária, me proibiu voltar ali. Espanto meu, alguma confusão, que o tempo logo tornou risível pois daí a umas horas, estava o Cesariny a bater à minha porta. Nunca se falou desse assunto, e tudo continuou como dantes.
As relações de Cesariny com António Pedro, tão complexas no futuro, começaram no ano de 1943 de forma promissora. Estão documentadas em carta a Cruzeiro Seixas de 1-12-1943. Cesariny tinha 20 anos e Pedro com 34. Tudo leva a crer que se conheceram nesse ano na praia de Moledo do Minho, frequentada amiúde pelo antigo admirador de Rolão Preto e por onde Cesariny também passava por mor de sua irmã Henriette, que lá tinha casa com o marido. Uma parte do Verão de 1943 passou-o ele em Moledo do Minho em “Casa do Senhor Mourão”, como atesta o remetente da carta que então escreveu para Seixas (7-9-1943). Na carta de Dezembro, expedida de Viseu, é assim a referência a António Pedro, com alusão ao Moledo (Cartas de M.C. a C.S., 2014: 48): Diz-me o António Pedro – por três noites ocupado a estragar, com o peso do corpo e ideias afins, as cadeiras dum magro circo: Miss Ofélia! (…) Justifico (?) agora certo quadro seu: foi o Monte de S. Tecla que lhe estourou das mãos… e com que desgrenhado – soturno – tremeluzir! De resto, um conversador de truz, puxa a sardinha que é um consolo. Como ele – poucos.
A viver na juventude na Costa da Caparica, onde Seixas e Cesariny o encontravam, Fernando José Francisco foi sempre declarado pelos dois o pintor que mais prometia na geração da escola António Arroio da década de 40. Leia-se Seixas (Público, 3-11-2006): Com o Fernando aprendi a ser pintor. Ele, que desistiu, era o melhor, estava fadado para ser “o” grande pintor de Portugal, mas deu-se o milagre da Emília e desapareceu. Numa carta do mesmo ano para o amigo afirmou-lhe (2-5-2006; inédita; arquivo U.É.): Dá-me a maior satisfação que continues a desenhar e a pintar; os teus trabalhos e a poesia do Mário foram os acontecimentos mais exaltantes daqueles nossos anos 40. Sem ti tudo seria mais aleatório e triste. E noutra carta perguntou-lhe [s/d (2006?); inédita; arquivo U.É.): A enormidade da pergunta sem resposta é: como é que pudeste calar todo o teu imenso talento, seu não consigo calar o meu por mais insignificante que ele seja, e por mais que o deseje? A mesma admiração manifestou Cesariny (Verso de autografia, 2004, s/nº p.): O Fernando José Francisco era de todos nós o que tinha mais talento, mais força como pintor. Mas aconteceu o seguinte: apaixonou-se por uma linda infanta e teve de deixar de pintar (…). Já antes dissera o seguinte (Semanário, 4-6-1988): Nunca esquecerei que o Fernando José Francisco, o mais excepcionalmente dotado entre os amigos e companheiros que encontrei na António Arroio – entre eles havia o Cruzeiro Seixas, o Pedro Oom, o Vespeira, o Fernando Azevedo, o António Domingues e tantos outros –, abandonou a pintura para resolver casar.
A construção do “mito” de Fernando José Francisco vem pelo menos d’ A intervenção surrealista (1997: 50), o que levou Luiz Pacheco a dizer (carta a Vitor Silva Tavares, 14-8-1966, Pacheco versus Cesariny, 1974: 289): Mesmo assim, o Pedro, o França, cá, lá fora, ainda serão uns anões com quem se aprende alguma coisa, com alguma obra. (…) Agora o Zé Chico da Caparica! V. já pensou vir um dia um maníaco (…) da estranja a querer saber quem era esse tal da Caparica que merece linhas de composição, revisão, papel, uma pequena imortalidadezinha impressa? O Vaché matou-se mas o Breton diz que ele Vaché o influenciou a ele Breton. Interessa: um suicida assim já interessa. Um quadro do Xico suicidado pelo Xico é caca. (…) Digo-lhe já, se fosse eu: mandava essa intervenção zéxicalcaparical à caca.
Álvaro Ribeiro, compilador do opúsculo A Nova poesia portuguesa, e Mário Cesariny cruzaram-se. Prova-o uma carta a Ana Hatherly (12-1-1969; inédita; espólio A. Hatherly B.N.P.) em que confessa ter estado com o filósofo em casa de Natália Correia a debater o Amor – isto em 1950 ou 1960. Nenhuma alusão porém à leitura do opúsculo de 1942.
Sobre a mudança de título do livro “Burlescas, teóricas e sentimentais”. Pedro Oom diz o seguinte (carta a Cesariny de 22-5-1965): 1943 – parece-me que foi nesta data que deste a ler ao Gaspar Simões as tuas “Líricas, bucólicas e sentimentais” que ele achou incipientes, sem tampouco sonhar que alguns anos depois viria a deleitar-se intensamente com alguns daqueles poemas. Cesariny rectificou porém esta nota, dizendo que o livro se chamou desde o início, “Burlescas, teóricas e sentimentais” (Poesia de António Maria Lisboa, 1977: 387). Numa cronologia inédita do início de 1974, que em parte foi aproveitada para o álbum Mário Cesariny (1977), ele diz sobre o mesmo assunto (arquivo da galeria de S. Mamede): Quando João Gaspar Simões é conservador da biblioteca da Imprensa Nacional leva-lhe o manuscrito das “Burlescas”, perguntando se acha que vale a pena publicar. Gaspar Simões diz-lhe que sim. Este passo relativo aos primeiros anos desapareceu depois na cronologia dada a lume no álbum de 1977, edição da Secretaria de Estado da Cultura. Luiz Pacheco faz também alusão à leitura dos primeiros poemas de Cesariny por Gaspar Simões (O crocodilo que voa, 2008: 115).
O encontro de Luiz Pacheco e Mário Cesariny na segunda metade do ano de 1946, no Grupo Dramático Lisbonense, na Rua Marcos Portugal tem por fonte a reconstituição que dele faz o organizador de Bloco no texto “O Cesariny: um abismo” (Diário Económico, 2-8-1995; rep. Figuras, figurantes e figurões, 2004: 93): Organizou-se um espectáculo, se bem me lembro, no Grupo Dramático Lisbonense, ali na Rua Marcos Portugal (cito com receio: seria assim? não tenho aqui e agora possibilidade de confirmar corrijam s.f.f.). (…) Aquilo acabado, à saída, surge-me um sujeito, com aspecto de grande seriedade, que me diz: – Li o seu conto do Menino Jesus. Não é nenhuma obra-prima, mas gostei. Olhe, e por raiva de terem apreendido o Bloco, estou a escrever uma peça tirada do conto. E foi assim que conheci o Cesariny. Uma carta para Cruzeiro Seixas (18-9-1946, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 60) confirma o nome do grupo e a rua: Segundo todas as previsões é amanhã, quinta-feira, às 22 horas, que se realiza na R. Marcos Portugal (próximo da Escola Politécnica), no Grupo Dramático Lisbonense, o nosso ‘sarau’.”
O encontro entre O’Neill e Cesariny tem versões distintas. O’Neill remeteu o encontro para o quadro das actividades que Lopes Graça desenvolvia como o seu coro (na sede do Grupo Dramático Lisbonense, na Rua Marcos Portugal). Isso diz numa das últimas entrevistas (Expresso, 21-9-1985): Conheci-o através do Lopes Graça que tinha um grupo coral chamado “Amizade”, ligado aos movimentos juvenis da política. O Cesariny era membro do desdobramento juvenil desse coral. Nós andávamos pelo Barreiro, pelas colectividades, a cantar em grupo. Presume-se que o encontro se deu em 1946, momento alto das acções do grupo coral ou pelo menos da participação de Cesariny. A “cronologia” publicada n’ A Phala (boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 88, Setembro, 2001) confirma o ano e adianta o seguinte: Conhece Mário Cesariny durante as festas do Festival Mundial da Juventude, cuja componente portuguesa era organizada pelo M.U.D. – Juvenil. Por sua vez Cesariny recuou o encontro para 1945 e para o Café A Cubana na Avenida da República. Assim afirma na cronologia d’ A intervenção surrealista (1997: 52): 1945 – No Café A Cubana da Avenida da República Mário Cesariny trava conhecimento com Alexandre O’Neill. Confirmou a data na cronologia do álbum Mário Cesariny (1977: 45). O episódio do livro The emperor Jones, de Eugene O’Neill está n’ A Phala (boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 2, 1986): No dia em que nos conhecemos foi directo a uma livraria da Baixa e ofereceu-me um livro do O’Neill, do Eugénio…, O imperador Jonas, com a dedicatória sabiamente armadilhada.
Sobre os versos perdidos de Louvor e Simplificação… há testemunho do autor numa entrevista (J.L., 3-8-1982): Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos é a despedida duma zona, duma escrita. (…) O que está publicado é apenas um extracto, cerca dum terço falta, foi cortado por falar de Salazar e depois perdido. (…) era um teorema – o que não é coisa que se deva fazer em poesia. De qualquer modo, faltam-lhe as conclusões.
O trabalho de Mário Cesariny em Estremoz no Colégio Estremocense está documentado em duas cartas que ele escreveu a Cruzeiro Seixas (8-11-1949; 16-11-1949), ambas recolhidas no livro Cartas de M.C. a C.S. (2017: 62-65), em quatro de Mário Henrique Leiria a Mário Cesariny e numa de ambos a António Maria Lisboa e Fernando Alves dos Santos (espólio M. Cesariny B.N.P.) e que Maria de Fátima Marinho transcreveu no anexo final do seu trabalho, O surrealismo em Portugal. O Colégio Estremocense pertencia ao Dr. João Falcato, estava localizado dentro das muralhas, na Rua de S. Pedro, e desapareceu em 1959, perdendo-se o rasto dos seus arquivos. A presença de Cesariny na cidade não tem pois documentação oficiosa a apoiá-la e a história da sua passagem só pode ser reconstituída pela correspondência existente e por testemunhos presenciais (em geral contraditórios). O conjunto das cartas de Mário-Henrique Leiria mostra que o primeiro a chegar ao Colégio foi o autor de Contos gin-tonic, tal como foi ele o último a deixá-lo. A primeira carta é de 20-10-1949, quer dizer, pouco depois do início do ano lectivo, que nessa época tinha lugar depois do feriado do 5 de Outubro. Nessa carta diz (O surrealismo em Portugal…, 1986: 665): (…) tu, no Café Chiado, escrevendo uns vagos poemas e eu, aqui, tentando anarquizar meia dúzia de bestas alentejanas (…). A carta imediatamente posterior é de 6 de Novembro, que nesse ano calhou num domingo. Trata-se da carta que ambos escrevem para Lisboa, ao cuidado de António Maria e Alves dos Santos. Pela seguinte passagem se tira que Cesariny está já ao serviço do Colégio (idem, 1986: 667): (…) parece-me que o Cesariny não tem um tostão (o Falcato anda à rasca connosco e por isso não dá dinheiro). Leiria e Cesariny não tinham obrigações lectivas mas sim vigiar e acompanhar os alunos internos. Eram prefeitos de Colégio – dormiam e comiam no internato –, não professores. O tempo da sua permanência em Estremoz foi muito curto, sobretudo o de Cesariny. Só chegou depois de 20 de Outubro e um mês depois deixava Estremoz. Na segunda carta para Seixas ele despede-se até ao fim do mês mas a 21 de Novembro já não estava em Estremoz. Leiria escreve-lhe nesse dia para Lisboa, perguntando-lhe como correu a viagem de regresso e encarregando-o dum conjunto de tarefas demoradas – preparação da segunda exposição de “Os Surrealistas” que devia ocorrer em Dezembro e só aconteceu em Junho de 1950 – que chegam para provar que Cesariny já não voltou à cidade do Alto Alentejo (em Fevereiro ou Março de 1950 foi para o Porto e para Barca do Lago, onde preparou a intervenção de Lisboa no Clube dos Fenianos, teve o caso amoroso com Carlos Eurico e subiu a Amarante para conhecer e ouvir Teixeira de Pascoaes). A estadia de Mário Henrique prolongou-se por mais um mês, até 20 de Dezembro. Na carta que escreveu ao amigo, de 29-11-1949, diz-lhe (idem, 1986: 669): (…) irei definitivamente para aí no dia 20 (…). Alguns dias antes, 25-11-1949, mostrara já muito cansaço (idem, 1986: 668): Cá tudo igual, a não ser a minha tenebrosa falta de dinheiro e um estado nevrótico que faz com que o Barato diga que ando com cara de desterrado (no que, sem querer, ele acerta plenamente). Conto dias, horas, minutos, e segundos… Será muito difícil a minha ida, mas descansa que vou com certeza. O Barato quase me pede de joelhos para ficar, a minha notícia dada de repente de que me punha a andar deixou-o à rasca, mas eu é que já não posso mais. Ando completamente neurastenizado, nevrótico, irritado, tudo me falta. Não sei como aguentarei ainda mais uns dias nesta solidão cheia de caras alucinantes sempre à minha frente. A ter em conta a segunda carta de Cesariny para Seixas, escrita na quarta-feira anterior ao seu regresso a Lisboa, percebe-se que o seu trabalho de prefeito colegial tenha durado, se tanto, um mês. Nessa carta dá a entender que tinha planos de aguentar até ao final do mês, o que não chegou a suceder. A partir do seguinte passo percebe-se porquê (16-11-1949; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 64): Tempos depois fomos a um “monte”, a convite de um dos rapazes do 5.º ano, convenientemente guitarrista e doido, e algo contagiado pela nossa actuação, que tem sido eficiente no sentido da anarquização, em bloco e individual, no colégio e no internato, que se transformou num autêntico caldeirão de revolta contra a autoridade (…). Por contradição lógica, foi o Mário Henrique que leu aos rapazes uns trechos do magnífico Sade. Compreendes, decerto, a minha posição… barris de pólvora nos pés, na cabeça, à direita e à esquerda, e como quero ficar aqui até ao fim deste mês, guardo para mais tarde a solene escandaleira. Os rapazes gramam-na à parva porque ouvimos sempre o deles natural instinto de revolta e já perceberam que, no capítulo do banzé, do faz-barulho e da maluqueira, excedemos de longe as possibilidades deles. Sirva de exemplo o concerto de pífaro dado na manhã (7 horas da manhã; 2 pífaros) do meu primeiro dia aqui, concerto que os deixou transtornados (o Falcato e a Directora não ficaram menos assustados). “A solene escandaleira” pode ter sido a pintura duma sala do Colégio de que ficou memória na cidade até hoje. O texto “Mário Cesariny em Estremoz”, apresentado em sessão evocativa promovida pela Câmara Municipal de Estremoz depois do seu falecimento, em Março de 2007, desconhece as cartas então trocadas com Seixas e com Leiria, única base segura para reconstituir o tempo que permaneceu na cidade e que não pode ser de modo nenhum dois anos lectivos, 1949-1951, como nesse texto o testemunho da Professora Angelina Vasques Martins, sócia de João Falcato no Colégio, adianta.
Há notícia dum outro trabalho assalariado de Mário Cesariny, no Verão de 1948, desta vez numa Caixa de Previdência. A informação está numa carta para Seixas (28-8-1948; Cartas de M.C. para C.S.): Acresce que estou – finalmente! (entende este finalmente de todas as maneiras especiosas, se fazes favor) empregado numa Caixa de Previdência onde há SEMPRE serões e portanto as minhas noites, excepto sábado e uma ou outra noite em que me esquivo o Sr. compreende tenho um cunhado à morte, etc. etc. e tal – são de fogo fresco. Este trabalho durou muito pouco tempo – uns meros dias. Deve ser a ele que se refere na entrevista que deu ao D.N. (1-7-2002; versão completa: 6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006) em que fala das suas actividades nas organizações da oposição (P.C.P. e M.U.D.) e que diz terem estado na origem do impedimento de poder prosseguir com um primeiro trabalho que teve. Diz ele (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Essas coisas livraram-me de trabalhar num Banco; tinham informação da minha conferência nos Penicheiros, fiquei contentíssimo. Esta entrevista foi dada pouco antes de fazer 79 anos de idade, quer dizer, 54 anos depois de ter sido escrita a carta a Seixas e ter passado pela Caixa de Previdência. Aceita-se que a tenha confundido com “um Banco”. Alexandre O’Neill por sua vez trabalhou entre 1946 e 1952 como escriturário de 3.ª classe na Caixa de Previdência dos Profissionais do Comércio de Lisboa (A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 88, Setembro, 2001).
Seixas deu o seguinte testemunho sobre o suicídio do Mário (“Mil Folhas”, Público, 8-12-2006): Um dia o Mário escreveu-me a dizer que se ia suicidar. Foi um dos dias mais trágicos da minha vida. Procurei o Fernando José Francisco – éramos os três grandes amigos, com grandes caminhadas por Lisboa à noite – e percorremos os sítios onde achávamos que ele se podia suicidar – até uma falésia na Caparica. E ao fim do dia fomos bater ao Lopes Graça a perguntar se sabia do Mário. Ele lá nos disse que o Mário nesse dia não tinha ido à lição. Em desespero fomos à Basílio Teles. E quem nos aparece? O Mário a comer bombons! O original da carta do suicídio não tem data [apesar de aparecer datada (3-4-1942) no livro em que foi recolhida, Cartas de M.C. para C.S.]. O carimbo é porém de 2-4-1942 e terá sido recebida no dia seguinte, uma sexta-feira. Está escrita a lápis azul, em letra trémula, num pedaço improvisado de papel, e não parece encenação. Nessa carta afirma ter escrito uma outra a “Z.F.” (Fernando José Francisco), hoje desconhecida e que pode ser uma peça chave para se esclarecer esta tentativa de suicídio de Cesariny aos 18 anos. O espólio de “Z.F.” está por ora perdido.
4 O GRUPO SURREALISTA DE LISBOA
O’Neill contou a história do livro do Maurice Nadeau do seguinte modo (Expresso, 21-9-1985): Fui eu que comprei a História do Surrealismo do Maurice Nadeau e disse que tínhamos de fazer uma coisa daquelas. Foi uma descoberta de 1948 [sic], através do livro e da antologia que ele publicou. Foi um alvoroço, o surrealismo surgia-nos exaltante e libertador. O Cesariny fez a descoberta na altura, embora já escrevesse umas coisas com muito humor, que eram uma “charge” ao neo-realismo. O nosso surrealismo era, aliás, uma charge ao neo-realismo da época. Seixas por sua vez contou a mesma história assim (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Um dia, o O’Neill foi a Paris e trouxe escondido um livro de referência surrealista, sobretudo para o Mário, que depois o foi passando para nós. E atrás desse outros vieram. Tivemos conhecimento do surrealismo francês, do que defendia Breton e o seu grupo desse modo. O livro é a Histoire du surréalisme, aparecido em Paris na segunda metade do ano de 1945 (éditions du Seuil). Nenhum registo biográfico de O’Neill aponta para uma viagem a Paris ou em 1946 ou no início de 1947, momento em que ele apareceu com o livro e o passou a Cesariny. Maria António Oliveira limita-se a registar (Alexandre O’Neill, uma biografia literária, 2007: 58): Sabe-se que no ano de 47 Alexandre O’Neill possuía o livro na sua biblioteca.
A sobreposição do surrealismo e da poesia mereceu de Cesariny a seguinte achega (J.L., 3-8-1982): Não vamos dizer surrealismo. Vamos dizer poesia. Porque surrealismo é o que existe de mais parecido com a poesia. Não se ensina, não é possível. Uma tal identificação foi uma forma de fugir à sua historicidade, encarando-o como eterno e não como escola literária e artística ou acidente situado.
Sobre as acções que o meu biografado fez no M.U.D. as informações são escassas mas há valiosa alusão na entrevista ao D.N. (1-7-2002). Na versão aparecida depois da sua morte (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006) diz assim: Fui eu que lhe regi [a Fernando Lopes Graça] o coro na primeira audição do hino do M.U.D., porque não convinha ser ele, num teatro ali à Graça, talvez o Taborda [mima os gestos de maestro e canta: Esta hora indecisa, pá, pá, pá…]. Outra acção no seio do M.U.D. foi contada numa entrevista (revista Actual, Expresso, 20-11-2004): Uma coisa que fizemos: foi atirar prospectos (estavam presos o Mário Soares, o Pomar…) no Politeama, do balcão. Ficou a plateia cheia de prospectos. Tínhamos um plano que não resultou e fomos parar à PIDE, claro. Cometemos a estupidez de não termos comprado dois ou três lugares ao lado dos que ocupávamos, para dizermos que os papéis tinham sido lançados por uns tipos que se tinham ido embora. Só tínhamos comprado mais um lugar e aquilo não pegou. Era o Cardoso Pires, o O’Neill, eu, não sei quem mais. Quando começou o momento de começarmos a levar na cabeça apareceu um agente que se volta para o Cardoso Pires e pergunta: “O que é que você faz aqui?” Esse agente morava num prédio que era propriedade do pai do Cardoso Pires. E mandaram-nos embora.
No arquivo de Mário Soares existe documento proposto e assinado por Cesariny no âmbito do M.U.D., intitulado “sugestão”, e com os seguintes dizeres (arquivo da Fundação Mário Soares): Lisboa, 5 – A sugestão que posso apresentar-vos é a de uma reunião conjunta de todos os indivíduos (escritores, músicos, pintores, etc.) por nós convidados – para que se assente num programa de trabalhos a efectuar. Caso esse programa esteja, desde já, elaborado – seja posto à opinião crítica de todos nós. Sem mais cordiais saudações do vosso Mário Cesariny Vasconcelos. Tudo indica tratar-se de texto do final de 1945, ou do início de 1946, quando o M.U.D. começou a ganhar projecção. A letra é inconfundível, bem como a assinatura. Mário Soares acrescentou por certo na época, a lápis, a morada de “Mário Vasconcelos” (assim o trata então e assim assinou ele os textos que então publicou na revista Aqui e Além, “Notas sobre o neo-realismo português”).
Para o despertar da homossexualidade de Cesariny o melhor testemunho é o de Seixas (“Mil Folhas”, Público, 8-12-2006). Diz aí que o engatou – “era um rapazinho lindo. Engatei-o” – mas acrescenta que “nem tínhamos bem consciência do que era a homossexualidade”, juntando ainda que as mulheres, salvando o caso das prostitutas com quem esteve, não tiveram qualquer importância na sua vida mesmo na sua juventude. Seixas sempre me afirmou que a relação entre os dois nada teve de sexual; limitaram-se na primeira adolescência quando se conheceram – Cesariny tinha 12 anos – a masturbarem-se juntos. Além das declarações que ficaram registadas em Autografia (2004), ficou ainda este testemunho sobre a forma como a sua homossexualidade foi recebida no meio familiar (revista Tabu, Sol, 7-10-2006): A minha mãe protegeu-me sempre; nunca se falou nisso com o meu pai. Mas acho que sabia. Uma vez mandou-me às putas e eu não fiz nada. Muitos anos depois, o meu cunhado mandou-me a uma menina e eu portei-me bem, mas vim de lá com uma dúvida horrível. Dei duas de seguida, sem prazer nenhum, e pensei que talvez acontecesse o mesmo às pessoas que iam comigo.
A noção dum “homem mãe” surge no poema que fecha Alguns mitos maiores… chamado “o homem-mãe”. O poema, com cinco versos, vem da primeira edição do livro (1958), sofrendo um acrescento de seis versos na segunda edição (1961). Na base da sua construção está uma aproximação ou similitude fonética entre a última sílaba da palavra “homem” (mem) e “mãe”. É como homem-mãe que Cesariny sempre se viu. O poema pode ser ligado a um outro posterior, “Regresso de Ulisses”, em que o homem-homem surge como “arquimulher”. Nas instâncias primordiais, Titânia não se distingue de Titanin. A posição de Cesariny como homessexual era a de quem engatava, nunca do engatado. Eduardo de Oliveira, o dono da Casa da Barca do Lago e da Casa das Acácias em Matosinhos, onde Cesariny esteve em Março/Abril de 1950, apaixonou-se por ele, declarou-se e foi recusado. O relato feito a Seixas é sintomático da sua virilidade no amor (22-3-1950, Cartas de M.C. a C.S., 2014: 69): Ainda não te disse, nem to direi agora largamente: mas houve cenas cruciais entre a minha pessoa e a pessoa do meu anfitrião. Confesso generosamente que, quando vim, estava um pouco disposto – a pagar um pouco com a minha carne (oh) o desenrascanço que se me oferecia. Mas, desde a minha chegada, na quinta, 15 [16], até domingo à noite, desenrolou-se em mim um processo pelo qual ficou completamente claro que era absolutamente impossível qualquer contacto mais coiso com ele. A grande crucialidade atingiu-me quando o senhor basto excitado por cima e por baixo se abraçou a um bloco de gelo que dava pelo nome de Cesariny. No dia seguinte eu propus a minha pura e simples volta a Lisboa, compreendendo eu que era um pouco culpado da coisa e não querendo ir para a Barca na situação que se me propunha. (…) Foi aqui que o senhor se revelou inteligente e encantador, parando a manobra e, ó delícia das delícias, deixando-me completamente só na Barca, onde me encontro; creio que ele se esforça por ficar apenas meu amigo e creio que o conseguirá.
Há ainda o testemunho de Luiz Pacheco sobre a vida sexual de Cesariny no tempo do Café Gelo, mas que é de resto comum a quase todas as épocas da sua vida adulta (O crocodilo que voa, 2008: 243): Lembro-me que no Café Gelo o Cesariny costumava chegar por volta das cinco e meia, seis horas, e coma mão no peito dizia assim: “O meu broche das cinco já cá canta.” O que é que era? Eu depois sabia o que é que era… Ele dizia aquilo com um ar consolado, enquanto os outros estavam ali a beber bicas a disparatar (…) Porque, por volta das cinco, costumava chegar ao Terreiro do Paço o barco com os marujos que vinham do Alfeite. Os marujos eram aguardados ali perto dos urinóis – que acho que já não há –, todos os dias, pelos fiéis paneleiros que lá iam aos engates.
Depois de embaraçosa cirurgia em Dezembro de 2012, tive o seguinte sonho (15-2-2013): “Cesariny é um lindíssimo rapaz de 18 anos, um efebo escultural, com um rosto solar e irradiante, duma beleza absolutamente invulgar. Reparo atentamente na natureza divina da linha ondulante do seu lábio superior e apaixono-me com uma intensidade nunca experimentada. Julgo assim poder recuperar toda a minha potência sexual.”
Foi António Pedro o primeiro a ter notícia em Portugal da intenção de André Breton realizar em Paris no final da Primavera e no início do Verão de 1947 uma exposição internacional do surrealismo, que o ajudasse a relançar na Europa depois do interregno dos anos da guerra. O projecto foi ainda pensado no ano do regresso de Breton a França, 1946, mas a carta de convite para a exposição tem a data de 12-1-1947. A confirmação de que foi Pedro o primeiro a ter notícia da exposição está na carta que Cândido Costa Pinto escreveu a André Breton (24-3-1947; Três cartas inéditas para André Breton, 2015: 67): Cher Monsieur André Breton: Je viens de savoir, par mon ami António Pedro, de votre projetée «Exposition Internationale du Surréalisme » pour le mois de mai ou juin. Je regrette de ne pas avoir eu connaissance plutôt. J’espère être à Paris à ce moment-là et je voudrais bien y participer. O surrealista respondeu quase de imediato (12-5-1947; Le surréalisme portugais, ed. Luís de Moura Sobral, 1984: 118): Cher Monsieur Cândido: J’ai beaucoup aimé les photographies de tableaux que vous m’avez adressés. L’une d’elles paraîtra au catalogue de l’Exposition surréaliste (ouverture le 24 ou 27 juin). (…) Merci à M. António Pedro de vous avoir prévenu. No seguimento destes contactos Costa Pinto seguiu no final da Primavera para Paris, onde se reuniu com Breton, assinando o manifesto “Rupture inaugurale” e colhendo copiosos elementos sobre o meio surrealista parisino que depois transmitiu ao jovem Cesariny e foram o principal incentivo à sua partida em Agosto para Paris.
“Rupture inaugurale” teve na base uma proposta de Henri Pastoreau, que circulou depois pelos membros do grupo de Paris e outros que viviam fora e foi adoptada em 21-6-1947 como “declaração adoptada pelo grupo em França para definir a atitude prejudicial diante de qualquer política partidária”. Tudo aponta para que na reunião plenária onde o manifesto foi adoptado, que decorreu no Café da Place Blanche, Cândido Costa Pinto e António Dacosta tenham estado presentes. Daí o nome de ambos constar do documento. Adoptado numa assembleia pública, o texto foi depois editado em folheto (20 pp.; 24 x 16 cm), pelo grupo Cause. Acusado pelos “Surrealistas Revolucionários”, onde se agrupava então Édouard Jaguer, mais tarde fundador do grupo Phases e o principal interlocutor de Cesariny em França depois de 1970, de abandonar o “materialismo dialéctico”, o texto é sobretudo uma crítica dos compromissos e da ineficácia da política partidária. Daí a aproximação às organizações libertárias e a afirmação dum destino próprio e por cumprir para o surrealismo. Eis alguns dos seus passos: Qualquer que seja a doutrina que deva suceder ao cristianismo, Sade e Freud são os precursores indicados da sua ética. (…) O surrealismo, cujo destino específico é reivindicar numerosas reformas no domínio do espírito e em particular da ética, recusará a sua participação em toda a acção política que seja imoral para poder ser eficaz. É a hora de promover um mito novo capaz de levar o humano para a etapa futura do seu destino final. O texto nunca foi traduzido em português e Mário Cesariny, com alguma surpresa, atendendo ao lugar que o texto teve na sua formação, deixou-o de fora da colectânea de 1977, Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial. Está hoje recolhido e comentado no livro Tracts surréalistes et déclarations collectives (1922-1969) (1982: 30-36).
Sobre o número de encontros em Paris, em 1947, com André Breton os testemunhos de Cesariny variam. Numa carta ao casal Vancrevel fala de três encontros (?-8-1976; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 175): Os meus encontros com Breton (três) foram de alegria, mas também de formalidade. Numa entrevista posterior fala apenas em dois (Público, 24-5-1991): Encontrei-me com Breton em 1947, em Paris, duas vezes. Uma no Café da Place Blanche, outra em casa dele, onde passei uma tarde inteira. Era um homem ainda na força da juventude prolongada, com a sua cabeça leonina. (…) Há um poder magnético que emana de certas pessoas e que muito visivelmente emanava de Breton. Uma figura leonina, mas pelo menos para mim foi de uma pata dulcíssima, amabilíssima, cortês. Combinámos uma ou duas coisas a fazer em Portugal que acabaram em nada. (…) Depois encontrei-o numa reunião do Café da Place Blanche, onde leu o texto destinado à exposição surrealista na Checoslováquia, em 1947 e onde ele declarava “carrément” que em arte não havia lugar para um princípio director. (…) Os planos que eu fazia para o Grupo Surrealista de Lisboa – que eram modestos – não se concretizaram e a comunicação ficou cortada. Nunca mais o vi.
A principal combinação que saiu dos dois ou três encontros entre Cesariny e Breton foi o boletim surrealista a publicar em Lisboa e que nunca apareceu por interferência ulterior de António Pedro, que tudo leva a crer que foi a Paris nesse final de Outono para se encontrar com Breton. Ele contou o caso assim em entrevista ao D.N. (1-7-2002), que cito na versão mais completa (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Em 1947, fui bater-lhe à porta e deixei um papelinho. Ele recebeu-me, levei-lhe uma colagem minha, foi amabilíssimo e pediu-me para ver mais. Combinámos fazer-se aqui um boletim pequenino, sem grandes pretensões, porque havia a Censura. Mas o António Pedro ficou muito incomodado com esse encontro, foi lá e inventou o projecto de ressuscitar a Variante, a revista dele. Foi horrível porque contactámos com surrealistas do mundo inteiro – através do Victor Brauner com quem eu me dava –, mandaram-nos coisas, fotografias de trabalhos, etc. E depois não se fez nada, devolveu-se a colaboração toda. O António Pedro passou a ser o único que podia fazer alguma coisa, tinha uma editora e dinheiro. O fim do boletim foi uma das razões para o desagrado de Cesariny e a sua posterior saída do grupo.
A visão que Seixas teve do encontro entre Cesariny e Breton ficou assim registada (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Tiveram [M.C. e A.B.] dois ou três encontros. No fundo, o que se sentiu foi a grande incompatibilidade que era este país. O Mário parecia um rapazola mal arranjado ao lado de um António Pedro sofisticado. Acho que o Breton terá perguntado: “Então em Portugal são todos Costa? (Por causa do Dacosta). Ficou tudo pela graça, sem aprofundamento.
A fonte para o conhecimento de Artaud em 1948 por parte de Cesariny está no depoimento que ele deu ao inquérito sobre André Breton em 1992, inquérito internacional promovido por ele próprio e Laurens Vancrevel (A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 36, Janeiro/Março, 1994): Desgraçadamente a minha estadia de três meses em Paris, em 1947, não me permitiu conhecer Artaud. Só um ano depois, já em Lisboa, pude ler alguns dos seus poemas. Foi outro choque tremendo. Um poeta que buscava a palavra anterior à palavra, o verbo sem imagem, o verbo sem verbo! Mas não participo do jogo de futebol que agora se apita entre estes dois gigantes do surrealismo. São duas grandezas (…) complementares.
Sobre o material trazido de Paris em Outubro de 1947 com dinheiro dado ou emprestado por Cândido Costa Pinto há alguma informação útil na versão do texto Contribuição ao registo de nascimento… publicado em As mãos na água… (nota 15; 1985: 313). Diz aí: (…) tratava-se de três números da revista Minotaure, que efectivamente comprei com dinheiro arranjado por Costa Pinto. E está sobretudo e claramente patente na lista de aquisições de livros, catálogos, revistas e manifestos que fiz com o mesmo dinheiro, lista que, entre tanta coisa perdida, não se quis perder de mim. (…) Fim de história no facto dos ditos livros, revistas e manifestos terem ficado nas mãos do Grupo Surrealista de Lisboa quando dele me vim embora, excepto dois ou três livros que também já não tenho.
A collage “General De Gaulle” surge com datas distintas. Cesariny remeta-a para 1946 na cronologia inicial d’ A intervenção surrealista (1997: 55): 1946 – Mário Cesariny põe a circular no grupo coral de Fernando Lopes Graça a sua primeira colagem que representa o general De Gaulle de maneira especiosa. No catálogo de 2004 das suas obras plásticas, aparece porém classificada como sendo do ano de 1947 (2004: 39) e assim sucede também no livro de Bernardo Pinto de Almeida (2005). O original da obra – é visível até nas reproduções – está assinado e datado de “47”. Em 1947 ainda Cesariny escrevia na revista Seara Nova artigos sobre Fernando Lopes Graça e as suas acções musicais em Lisboa e é aceitável que tenha frequentado o seu coral pelo menos até ao fim desse ano. É provável que a colagem com De Gaulle tenha tido pelo menos duas versões distintas, tendo sobrevivido a mais recente, inserida já nas linhas da subversão erótica surrealista.
A linha de continuidade entre o Cesariny neo-realista e o surrealista, entre a fase poética que vai de 44 a 46 e a da maturidade, é de tal ordem que Eugénio de Andrade dirá mais tarde, na polémica privada que com ele travou em 1951 a propósito do livro As palavras interditas, que tem cópia de 1945 de poemas que o amigo lhe passou datados de 1948. Os mesmos poemas, no caso “Cantares de amantes”, que tudo indica ficaram inéditos, tanto podiam pertencer à fase neo-realista como à seguinte. Nada de muito significativo os distinguia. Daí a flutuação na datação.
“Cabala fonética” foi o nome de baptismo dum texto de 1948 publicado em 19 prémios de Aldonso Perdigão… e que “traduzia” um outro texto imediatamente anterior escrito pelo processo clássico da associação livre de sentido e não de som.
5 OPERAÇÃO DO SOL
Sobre o material devolvido a Victor Brauner e o boletim do G.S.L. que nunca chegou a sair ver o passo atrás transcrito a propósito dos encontros com André Breton em Paris, em Setembro de 1947 (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006). A devolução do material chegou a ser apresentada como uma das razões fortes para a saída de Cesariny do G.S.L. (revista Tabu, Sol, 7-10-2006): Primeiro pedimos colaborações para Nova Iorque, para Paris, para toda a parte. Depois de nos entregarem as coisas, ele [António Pedro] decidiu que não havia dinheiro. Era mentira. Tivemos a lata de devolver tudo. Coisas dessas fizeram a minha saída do Grupo Surrealista de Lisboa.
A alusão a “Vladimir Ilitch”, um eufemismo na época para Lenine, é a seguinte (“final de um manifesto”, A intervenção surrealista, 1997: 157): A (nossa) posição surrealista decorre: (…) da obra colectiva de Segismundo Freud, Mário de Sá-Carneiro, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, Heraclito, Hermes, Vladimir Ilitch, Novalis – a loucura, a sabedoria, a magia, a poesia (…). O texto só foi publicado em 1966, sendo então atribuído a Mário Cesariny e datado de 1949. No espólio de Mário Henrique Leiria na B.N.P. existe um caderno não datado com desenhos e fragmentos textuais, mas que tudo indica ser de 1948 e 1949, em que se encontra o original a lápis deste “manifesto” inacabado. Nas primeiras deambulações feitas por Londres em 1964, visitou a casa em que Lenine vivera em 1905 e fez questão de se fazer fotografar por baixo da placa alusiva [fotografia (de Alberto Lacerda?) publicada na revista “Actual”, Expresso, 20-11-2004].
A presença de António Maria Lisboa numa das tertúlias lisboetas de Alves Redol está em apontamento de Henrique Risques Pereira (Poesia de António Maria Lisboa, 1977: 387): O António Maria Lisboa em 1944 não andava no grupo do Petrus/Vespeira/Domingues/Júlio Pomar mas sim com o Alves Redol – o que durou cerca de 3 meses – e também com Irene Lisboa.
É Oom que data de 1948 o primeiro encontro de Cesariny e António Maria Lisboa (Três poetas do surrealismo, 1981: 161): 1948 – juntou-se a mim e ao Lisboa, Henrique e Fernando e parece-me também que foi nesta data o teu primeiro encontro com o Lisboa.
A carta de Cesariny para O’Neill e Domingues de 5-8-1948 a criticar o G.S.L. está em Contribuição ao registo de nascimento… 1974 (rep. As mãos na água a cabeça no mar, 1985: 308). Aí se encontra também a carta escrita ao “Amigo António Pedro” de 8-8-1948 em que ele se desvincula do grupo. A nota 3 de José-Augusto França no Balanço das actividades surrealistas em Portugal de que Cesariny se desligou do grupo por carta a António Pedro de 29-9-1948 não parece pois exacta.
A primitiva capa do catálogo da exposição de Janeiro de 1949 do G.S.L. tinha os seguintes dizeres alusivos à candidatura presidencial de Norton de Matos: O Grupo Surrealista de Lisboa pergunta / Depois de 22 anos de medo ainda seremos capazes de um acto de liberdade? / É absolutamente indispensável votar contra o fascismo. O catálogo foi enviado à censura do governo, que proibiu os dizeres, acabando a capa por aparecer em branco, traçada a lápis azul. Cesariny tomou esta exposição como a manifestação derradeira do G.S.L. (As mãos na água…, 1985: 270), vendo na submissão à censura do catálogo “uma contradição verdadeiramente tenebrosa” e o fim do grupo.
As relações entre Cesariny e Carlos Eurico da Costa foram labirínticas e ainda hoje têm pontos obscuros. Com a edição da correspondência postal de Cesariny para Seixas a história da paixão entre os dois veio ao de cima e ficou provada. É provável que a paixão do meu biografado por Carlos Eurico da Costa tenha sido aquela que ele sempre referiu como o grande momento amoroso da sua vida, aquele em que ele conheceu ou podia ter conhecido o amor único pelo qual sempre ansiou. Disse o seguinte numa entrevista (revista Tabu, Sol, 7-10-2006): Houve realmente um amor importante, com uma pessoa que já morreu. Um amor que acabou muito mal, com a PIDE metida na nossa cama, uma coisa horrível. Acho que depois disso, dados os resultados concretos, troquei a Grécia por Roma. Sabe o que eu quero dizer? Há o Eros mental e depois há o que se espalha pelo corpo, que é outra coisa. A Grécia foi um amor que eu tive com moço. Ele depois foi para a tropa e escreveu-me uma carta que a PIDE leu. Ele ia indo parar a África por causa disso, porque dizia: “Não sei quando saio da tropa. Os nossos patrões, os americanos, é que devem saber.” (…) Mas a carta era também uma carta de amor, sabe? De maneira que era demasiado horroroso ter a PIDE na cama connosco. E assim começou a Roma: mais sexo do que amor. Por uma carta para Seixas de 8-4-1950 sabe-se que Carlos Eurico da Costa estava no momento da relação física com Cesariny na tropa. Tinha então 21 anos!
Numa outra entrevista já do século XXI ele referiu assim o amor da sua vida (Verso de autografia, 2004: s/n.º p.): Acho que encontrei [o amor da minha vida]. Nos primórdios da coisa, houve uma confusão de sentimentos, entre mim, entre nós. E o moço, não quero dizer o nome que não vale a pena, e que era tudo menos homossexual… apaixonou-se por mim, pura e simplesmente. Os dois éramos inábeis na cama. Nas poucas ocasiões em que houve cama. Um dia ele escreveu-me uma carta de Viana do Castelo. Porque ele estava na tropa, era oficial miliciano, onde dizia assim: “… os nossos patrões, os americanos, ainda não me deixam sair.” A PIDE abria a nossa correspondência, e informou o comando militar E isso ia dando uma tragédia total! Queriam mandá-lo para África e não sei que mais; mexeram-se influências e só esteve três meses ou quatro, no forte de Caxias. Isso era realmente um amor muito puro (…). Ora Carlos Eurico da Costa era originário de Viana do Castelo, cumpriu tropa como miliciano e esteve três meses preso durante a tropa no forte da Trafaria!
Sobre o ideário amoroso de Cesariny, a fonte está em Laurens Vancrevel (Cartas a F. e L. Vancrevel, 2017: 464): O Mário amava o amor (…). Confessou uma vez que para ele, o amor perfeito era o amor dum casal; era o símbolo do amor sublime, a expressão duma vida perfeita. Exemplo de um amor assim sublime e contínuo era o que ele via entre Vieira da Silva e Arpad Szenes. Pessoalmente, confessava, nunca encontrara um amor tão inteiro, ainda que continuasse à espera de o encontrar ao menos uma vez na vida (…). E Seixas viu assim a sexualidade do amigo (revista 6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): O Mário costumava dizer que a maneira que ele tinha de encarar a homossexualidade lhe vinha de não ter vivido um amor correspondido. O Mário entregou-se à quantidade e não à qualidade.
O afastamento deu-se com a retracção de Carlos Eurico, pressionado já então por compromissos familiares e porventura a braços com problemas com a hierarquia militar por causa da sua relação. O retraimento de Carlos Eurico acabou por magoar o seu amante que não tardou a castigá-lo numa sátira feroz (“Artes plásticas – A primeira exposição da escola de arte de cerâmica de Viana do Castelo”, Lisboa, Notícias do Império, n.º 3, Fevereiro, 1955), que ainda chegou a recolher na primeira edição de As mãos na água…mas que foi depois nas ulteriores retirado, como retirado foi o seu prefácio ao livro de estreia de Carlos Eurico (“A volta do filho prólogo”). Sobrou ainda o poema “do capítulo da devolução”, dedicado na derradeira edição feita em vida de Pena capital (2004) “a Carlos Eurico”, para se perceber a extensão do ressentimento que nasceu depois da paixão que viveu por este rapaz. No espólio da Fundação Cupertino de Miranda não há qualquer carta pessoal de Carlos Eurico para Cesariny e o mesmo sucede para o espólio que está na B.N.P. – tanto num como noutro caso a assinatura de Carlos Eurico apenas surge em cartas colectivas assinadas por vários membros do grupo. Tudo aponta para que a correspondência postal entre os dois, que com certeza existiu na fase do namoro, tenha sido destruída. Como quer que seja, nunca Cesariny negou o vigor poético do antigo amante e numa entrevista final afirmou (Verso de autografia, 2004: s/n.º p.): (…) o Carlos Eurico da Costa que também morreu, e editou um livro chamado Sete poemas da solenidade e um requiem, que é um livro! São uns poemas que parece que caíram de Marte, nunca se tinha visto uma coisa assim. Ninguém ligou nenhuma, pronto. Houve pelo menos uma demorada recensão ao livro assinada por António Ramos Rosa (Árvore, n.º 3, 1952). Não terá tido porém adesão entusiasta de Cesariny já que a aproximação ao surrealismo é aí – de forma exclusiva – histórica e situada. Caso tivesse adoptado este ponto de vista para abordar o surrealismo teria com certeza fundado um novo movimento como sucedeu a Isidor Isou e a Guy Débord. O facto de tomar em mãos um surrealismo sem determinação histórica nem concretização situada, sinónimo só de “poesia”, permitiu-lhe continuar a progredir dentro dele ao longo de seis décadas sem qualquer necessidade de ruptura. As relações de Cesariny com Ramos Rosa foram distantes, ou mesmo frias, como o deixa ver a única carta de Cesariny existente no espólio do director da revista A Árvore na B.N.P. (carta datada de Lisboa, de ?-11-1960).
Isabel Meyrelles conheceu Seixas e Cesariny na 4.ª Exposição Geral de Artes Plásticas na S.N.B.A. (1949). Contou assim a história na entrevista que me deu (revista A Ideia, 2014): Quando eu fui viver para Lisboa, expus na “4a Exposição de Artes Plásticas” uns estudos de movimentos da violonista Ginette Neveu. Dias depois recebo uma carta que dizia “Não gostamos” assinado “Os Surrealistas”. Telefonei ao Mário e marcámos encontro no SNI. Ele veio com o Cruzeiro Seixas e tivemos uma longa conversação seguida de muitas outras e acabámos amigos para toda a vida. A 4.ª Exposição teve lugar em Maio de 1949 e no catálogo indicam-se cinco trabalhos escultóricos de Isabel Meyrelles, qualquer um deles intitulado “Estudo de movimento (Ginette Neveu)”. As exposições gerais de artes plásticas da S.N.B.A.” existiam desde 1946 e eram frequentadas e animadas pelo meio oposicionista. A segunda, em Maio de 1947, na qual Júlio Pomar expôs “O almoço do trolha”, acabou por ser consagrada como um dos momentos fundacionais, talvez o mais importante, do neo-realismo pictórico. Razão forte para Seixas e Cesariny frequentarem de início as exposições da sociedade da Avenida Alexandre Herculano era a sua adesão ao neo-realismo. Na mostra de 1949, em época já de afastamento da especulação neo-realista, havia um outro motivo para a sua presença – Fernando José Francisco, o amigo querido de ambos, estava presente com duas telas. De resto terá sido nessa exposição que terão conhecido Mário Henrique Leiria, Carlos Calvet e João Artur Silva, todos de Carcavelos e todos representados com telas na mostra. É preciso cruzar este evento na Avenida Alexandre Herculano com aquele que aconteceu na Casa do Alentejo em 6 de Maio, em que o grupo “Os Surrealistas” se deu pela primeira vez a conhecer ao público de Lisboa e em que se tem notícia pela primeira vez da presença de Mário Henrique Leiria. António Maria Lisboa e Mário Cesariny já se conheciam desde a segunda metade do ano anterior. Leiria, Calvet e João Artur Silva exporão em Junho na primeira mostra de “Os Surrealistas”, o que não aconteceu com Isabel Meyrelles, cujo ateliê passou porém a ser frequentado pelo grupo.
Na correspondência inédita de Isabel Meyrelles para Cruzeiro Seixas depositada no arquivo da universidade de Évora existe um texto de Seixas, datado de 2004, sobre Isabel Meyrelles, evocando os tempos de Lisboa em 1949, antes da sua partida para Paris em 17-9-1950. O texto, anexado à carta de 15-3-2004, em duas versões, uma dactilografada por Seixas e com emendas, outra já passada a limpo pela destinatária, pode ter figurado em catálogo de exposição de escultura desta última. Passo extraído da segunda versão, ilustra a ligação de Isabel Meyrelles ao meio de Cesariny e de Seixas: A Isabel era de facto uma personalidade. Vinda de um Porto dividido apenas em duas camadas sociais, não hesitou um momento nas companhias a escolher. Era a Natália Correia, nessa altura no esplendor da sua beleza, era Eugénio de Andrade, éramos nós, “Os Surrealistas”. Lembro-me ainda do Olavo de Eça Leal e de um muito gentil flautista da Orquestra Sinfónica Nacional, o Luís Bulton, que, pelo menos uma vez, tocou para nós entre a mata, as dunas e o mar iluminado pelo luar, na Costa da Caparica. Na versão dactilografada por Seixas existe passo ainda mais forte e que diz assim (na versão seguinte desapareceu): As nossas vidas seguiam ruas sem sinalização, e tudo tinha a cor intensa da descoberta. Em dada altura falou-se do casamento da Isabel e do Cesariny. Há curioso passo duma carta de Cesariny a Seixas (13-7-1960; 2014: 135) em que este diz que Isabel Meyrelles queria que Cesariny lhe fizesse um filho. Numa carta de Seixas a Franklin Rosemont há ainda uma curta informação que tenta precisar o papel de Isabel Meyrelles dentro do surrealismo em Portugal e em especial do grupo “Os Surrealistas” [s/d (1989?); inédita; arquivo U.É.]: Isabel Meyrelles vive em Paris há mais de 30 anos, mas nos anos 40 foi uma companheira de todos os momentos do dia-a-dia, o que quer dizer de todos os sustos do Portugal de Salazar. Repito, é ela própria que se define não como surrealista mas como uma “compagnon de route”.
A paixão de Isabel Meyrelles por Natália Correia está bem documentada nas cartas que ela escreveu Cruzeiro Seixas de Paris entre 1950 e 1952 e que estão hoje depositadas na B.N.P. (espólio Cruzeiro Seixas). Pouco depois de chegar, escreveu o seguinte (24-11-1950; inédita; B.N.P.): Isto tudo porque ainda gosto dela (Natália) e Paris ainda é muito próximo de Lisboa. Luiz Pacheco “brincou” a relação amorosa de Isabel Meyrelles e Natália numa noveleta integrada no livro Exercícios de estilo, “O caso das donas e das donzelas arrebatadas”. Meyrelles tem no relato o nome de Segóvia e o sobrenome de Fritzy, e Natália é Carmencita, ambas filhas de Dona Pulquérrima Pécora Fufa Ximenez.
No testemunho que me deu, Isabel falou assim do seu encontro com Natália (idem): Conheci a Natália Correia numa festa em casa de amigos. Ela pediu-me que fizesse uma escultura dela nua, pois não o queria pedir a um escultor homem. Acedi ao seu desejo e fiz um nu que nunca mais foi visto, pois o futuro marido, Alfredo Machado, escondeu-o imediatamente. Mais tarde tiveram ambas uma sociedade, “Correia & Meireles”, com endereço no Largo da Graça 82-s/l, em Lisboa. Sobreviveu no espólio de Seixas na B.N.P. papel timbrado desta sociedade. Foi porém neste período que a relação entre as duas chegou ao fim. Disse-me (idem): (…) a Natália Correia e eu fundámos um restaurante, o Botequim. Eu era responsável pelo restaurante e ela ocupava-se dos clientes e amigos. Durante uns anos foi divertido, mas depois veio a fadiga, os horários longos e eu, verdade se diga, não me entendia por razões de funcionamento interno, com o gerente, o marido da Natália. E depois as minhas relações com a Natália estragaram-se, pois passei de amiga a cozinheira, o que me custou a suportar. Saí de lá a correr para Paris com uma depressão nervosa que custou a passar.
Isabel Meyrelles viveu desde 1950 em França, com curtas intermitências em Portugal, como o período em que se ocupou d’ O Botequim. É uma personalidade fortíssima, autora duma obra poética que merece muito mais atenção do que a que tem tido. A sua vida é uma das chaves para perceber Cesariny e Seixas. Há uma carta dela para Seixas escrita de Florença, em que diz o seguinte (27-4-1955; inédita; B.N.P.): Dentro de dois dias terei 26 anos! Tão nova ou tão velha? Ainda não sei qual escolho! (…) Creio que se nós estivéssemos ainda juntos, tu, Cesariny e eu, a nossa pureza faria partir “tous les démons”! Viveu o amor com uma tal liberdade que a sua vida, ao menos em certos momentos, é um espelho límpido do que se passa com o autor de Corpo visível. São a mesma imagem em simétrico reflexo! Não há biografia de Cesariny sem uma larguíssima atenção a esta figura feminina! Em carta para Seixas, ao mesmo tempo que comenta a estreia poética do amigo na Contraponto dizendo “não acho que [ele] tenha publicado os melhores poemas no livro que publicou”, tem esta solene saída sobre o movimento da sua vida (6-12-1952; inédita; B.N.P.): Afora isso estou lançada na grande prostituição: três mulheres ao mesmo tempo afora as aventuras de ocasião. (…) Estou tão ocupada com as minhas numerosas mulheres que já nem faço muito na vida a não ser foder, o que não é digno de mim. Eis a voz de Cesariny! Muda apenas o tom, que é aqui apenas mais grave e talvez ainda mais viril.
A fonte de Mário Henrique Leiria como “o homem da lâmpada” é uma crónica de Luiz Pacheco publicado no Diário Económico (20-6-1997; rep. Prazo de validade, Contraponto, 1998): (…) “o homem da lâmpada” era como os rapazes surrealistas chamavam ao Leiria, por ele ser empregado numa casa de artigos eléctricos de um tio, na Baixa (…). Cesariny refere esse emprego – “o senhor Mário Henrique Leiria é hoje pessoa respeitável, empregado na Lâmpada, e muitíssimo esquerda” – numa carta a Seixas (14-5-1953; Cartas de M.C. a C.S., 2014: 82).
No espólio de Mário Henrique Leiria na B.N.P. existe uma carta não datada e assinada por Mário Cesariny, Carlos Eurico da Costa, Pedro Oom, António Maria Lisboa. Henrique Risques Pereira e Fernando Alves dos Santos que diz o seguinte [4-5-1949 (?); inédita]: Ao Amigo desconhecido: Não desgostámos. É favor comparecer na Casa do Alentejo, na sexta-feira próxima, para ouvir falar. Tudo leva a crer que esta carta foi o primeiro contacto que existiu com Mário Henrique Leiria e pode ter origem nos dois trabalhos de pintura que ele expunha na S.N.B.A. (4.ª Exposição Geral de Artes Plásticas) – “Pintura” e “Paisagem interrompida” – e que podem ter agradado a Seixas, Cesariny e restantes. No catálogo da mostra indicava-se a morada de todos os participantes. Leiria compareceu na Casa do Alentejo na sexta-feira indicada, dia 6 de Maio, porque no dia seguinte escreveu ao grupo (carta publicada n’ A intervenção surrealista), a dar conta da sessão e a mostrar interesse em colaborar com o grupo, o que logo aconteceu em Junho, na primeira exposição d’ “Os Surrealistas”. Com Leiria vieram os seus dois amigos: Carlos Calvet e João Artur Silva. Na carta que escreve ao grupo em 7 de Maio, Leiria alude aos dois trabalhos que expõe na S.N.B.A. e faz a história do seu encontro com o surrealismo – que remete ao ano de 1942 (A Intervenção surrealista, 1997: 134): O meu encontro com o problema moral deu-se mais ou menos em 1942, quando descobri os Manifestos Surrealistas de André Breton e a Imaculada Conceição de Breton e Éluard. A chegada de Leiria ao surrealismo fez-se assim antes de O’Neill e Cesariny – tinha 18 ou 19 anos em 1942 – e teve um caminho pessoal e distinto de evolução, que não passou nem pelo neo-realismo nem pela mediação do trabalho de Maurice Nadeau.
Seixas é a minha fonte para a visita de Almada Negreiro à exposição de Junho de 1949. A exposição teve prospecto de divulgação e um catálogo modesto, constituído por uma folha A4 dobrada a meio, tendo no interior à direita as obras e os nomes dos 12 participantes e à esquerda uma única palavra em caixa alta, “poema”. Na capa estas indicações: “Catálogo da 1.ª Exposição dos Surrealistas / De 18 de Junho a 2 de Julho de 1949/ Na sala de projecção da “Pathé Baby” / Rua Augusto Rosa, 58 (à Sé) – Lisboa.” Na contracapa a tiragem, a data e a gráfica: “200 ex. – 11-6-49 – Relevo Gráfica, Lda.” O prospecto, uma folha A5, tinha os seguintes dizeres: “Os Surrealista expõem/ Objectos, Tinturas, Colagens/ Fantasmas, Análises, Escultu/ ras, Doenças Desconhecidas/ Desenhos, Pinturas, Jogos/ Magias e Homenagens/ De 18 de Junho a 2 de Julho de 1949/ todos os dias das 16 às 20 e das 21 às 23 às 3.as, 5.as e d.os / Na Rua Augusto Rosa, 58 (à Sé.” Em baixo os seguintes dizeres, em letra miúda: “500 ex. – 11-6-49. Relevo Gráfica, Lda. – Rua Fernandes Tomás, 42 – Lisboa”.
Sobre o momento da exposição de “Os Surrealistas” em 1949 há uma curiosa nota de Seixas numa carta a Bernardo Pinto de Almeida (20-5-1997; inédita; arquivo da Universidade de Évora): O surrealismo daqui foi (apenas?) um minuto, lindíssimo. Que importa que alguns não tenham sabido manter esse nível? É o minuto que interessa – ou que me interessa a mim, com todos os nomes que nada figuram. Serei capaz de retirar a minha presença, se se tentar apenas salvar os que me parecem tocados pelo génio. Em 1949 todos o foram.
A caracterização de António Paulo Tomaz como criança de pé descalço está em nota escrita inédita de Seixas. Diz assim (espólio Cruzeiro Seixas, B.N.P.): Em criança, de pé descalço, vendia jornais pelas ruas de Lisboa. As relações entre Paulo Tomaz e Seixas duraram segundo a mesma nota cerca duma década (idem): Esta amizade durou 10 anos, e foi ter comigo a África em 1953. Paulo Tomaz não se adaptou a Luanda, regressando a Lisboa pouco depois. O corte definitivo entre os dois datará dessa época. Tudo aponta para que se tenham conhecido por volta de 1944 ou 45! Paulo Tomás tinha então 16 anos.
Cesariny teve uma aproximação amorosa ao amante de Seixas, como se vê em carta que lhe escreveu em 30-1-1949 e que sobreviveu no espólio de Seixas – e que de resto não era a primeira que lhe escrevia (outra, anterior, não datada, mas porventura de 1946, existe também nesse espólio mas não fala de amor). A carta de Janeiro de 1949 é uma carta de cinco longas páginas, riquíssima para a prospecção da vida sentimental do seu autor e escrita um ano antes do caso que veio a ter com Carlos Eurico da Costa. Confessa aí que nunca conheceu o amor, ao mesmo tempo que dá a ver a situação triangular em que Seixas, Tomaz e Cesariny estavam então envolvidos (inédita; espólio Cruzeiro Seixas B.N.P.): Quero lembrar-te ainda que foste tu que me estendeste as mãos (sabes aonde) mãos que acariciei com todo o amor de que fui e sou capaz, mas que eu não me atreveria a procurar. Sabes porquê. (…) Terás tu reparado no que se passou hoje? A minha presença agrada-te, a tua presença é-me querida (tu sabes isso). Depois eu saio e tu ficas para ficar com o outro. Que raio de papel faço eu aqui e que raio de coisa andamos os três a fazendo? (…) Aos meus vinte e cinco anos que tantos ou tão poucos são os que me afligem, nunca gostei de ninguém. Fosse da vida difícil, fosse do meu feitio, fosse porque algumas oportunidades me deixaram indiferente, ignorei o amor e o amor ignorou-me. No sobrescrito da carta está a morada completa de António Paulo Tomaz: “Travessa da Pereira, 47-2.º”. O rapaz da Travessa Pereira expôs “49 desenhos” na sala da Rua Augusto Rosa, em Junho/Julho de 1949. Assim consta no catálogo.
Seixas teve consciência do caso entre os dois, tanto mais que as duas cartas do amigo para o amante sobreviveram no seu espólio, e muito anos depois fez o seguinte balanço do assunto numa carta a Perfecto Cuadrado (25-9-2009; inédita; arquivo U.É.): Falou-me o Dr. António Gonçalves num livro a editar com desenhos do António Paulo Tomaz. Nada me daria mais satisfação, mas há por certo uma burocracia a cumprir, pois ao que julgo ele está vivo, tendo uns 6 anos a menos do que eu. A história é evidentemente homossexual e foi das mais bonitas que me aconteceram. Tudo durou anos e foi luminoso como o sol. Mas a páginas tantas o Cesariny apaixonou-se por ele e eu resolvi partir para a marinha e ficar-me por África, deixando-lhe. (…) O que aconteceu é que o António Paulo Tomaz foi ter comigo a África, mas ali nada correu bem, pois ele queria que eu deixasse os meus pais para viver com ele. Isso não me foi possível e ele regressou a Lisboa. Tudo acabou e nunca mais os nossos caminhos se cruzaram. Na eminência desse livro, não sei o que fazer. Esta passagem contém valiosos elementos para o entendimento da relação entre Seixas e Tomaz e sobretudo para o seu fim. A diferença de idade entre os dois era de oito, não de seis anos. Foi na sequência deste projecto de exposição dos seus desenhos na Fundação Cupertino de Miranda (que se concretizou de 17 de Julho a 13 de Novembro de 2009) que Seixas decidiu procurar após meio século de ausência o seu antigo amante, acabando por ter notícia que ele acabara de falecer havia pouco. Contou assim a história no catálogo da exposição (2010: 60): Agora a Fundação de Famalicão programou esta álbum, pedindo-me algumas palavras. Depois dalguma excitação resolvi procurar o António Paulo, certo da comoção e do abraço, mas em vez disso tive a notícia da sua morte, neste 2009.
As relações de Mário Cesariny e Eugénio de Andrade começaram em Dezembro de 1949, quer dizer, no momento em que Cesariny deixou o Colégio Estremocense e veio para Lisboa com o objectivo de preparar a segunda mostra d’ “Os Surrealistas”. Tudo indica que a exposição devia ter lugar na oficina de trabalho de Isabel Meyrelles, que pode ter mediado o encontro entre Cesariny, Seixas e Eugénio de Andrade. As relações entre os dois desenvolveram-se logo no início do ano seguinte com a ida de Eugénio para o Porto e a visita que Cesariny então lhe fez em Março, ficando ao cuidado de Eduardo de Oliveira, primeiro na Casa das Acácias em Matosinhos e depois na Casa da Barca do Lago, ao pé de Esposende. Foi o autor de As mãos e os frutos que lhe apresentou Oliveira, que por sua vez o levou a Amarante e lhe apresentou Teixeira de Pascoaes. Ao mesmo tempo que se dá o caso amoroso entre Carlos Eurico e Cesariny na Barca do Lago, Eugénio ofereceu-se para lhe pagar a edição da sua estreia em livro, o que aconteceu com a saída em Maio de Corpo visível. Arnaldo Saraiva chegou a apresentar as contas e a tiragem do livro (J.L., 2-1-2007): Não sendo rico, Eugénio pagou do seu bolso os 425$00 que custaram os 250 exemplares saídos em fim de Maio de 1950 da Tipografia Ideal (…).
Seja como for, as relações dos dois sofreram um abalo sério e quase definitivo em Novembro de 1951 com o livro As palavras interditas de Eugénio de Andrade. Depois de receber um exemplar dedicado, Cesariny escreveu uma carta de duas páginas dactilografadas ao autor, acusando-o de plágio. Datada de 11-11-1951, fazia-se acompanhar por quatro páginas com cinco poemas dactilografados (“Cantares de Amante”; “Os olhos semelhantes”; “As lágrimas quentes de beijos”; “Poema”; “Desprende-te de mim”). Estes poemas aparecem datados de 1948, Setembro de 1950, Dezembro de 1949/Janeiro de 1950, 1949 e 7-2-1951. Foram feitas cópias (carta e poemas) e enviadas para as seguintes pessoas: Eduardo de Oliveira, Ernesto de Oliveira, Egito Gonçalves, João Gaspar Simões, Manuel de Lima, Alexandre O’Neill, Sophia de Mello Breyner Andresen, Armindo Rodrigues, Vitorino Nemésio, Adolfo Casais Monteiro, Carlos Wallenstein, Albano Martins, Carlos Eurico da Costa, Armando Vieira Santos e José de Almada Negreiros. O essencial da acusação está neste período (espólio Adolfo Casais Monteiro, B.N.P.): Há nas tuas “Palavras Interditas” uma tal apropriação de termos e de imagens de poemas meus ainda não publicados, poemas que tive a singularidade de deixar, manuscritos ou dactilografados, nas tuas mãos, que o meu primeiro movimento foi desejar que um pedido meu e um súbito escrúpulo da tu aparte te fizesse retirar a edição antes que ela alcançasse os escaparates e o público. Já é tarde para isso. Resta-me crer que tu serias capaz desse escrúpulo.
Eugénio de Andrade respondeu quase de imediato com uma carta datada de 25-11-1951, que começa assim (idem): Mário Cesariny: a tua carta é uma infâmia. Calúnias, mentiras, abusos – de tudo isso por lá há. Se lhe juntares a deslealdade dessa carta partir dum amigo, que além do mais é poeta, concordo que tens razão de sobra para te sentires mal à vontade. Por menos, tem ido muita gente para a cadeia. Esta carta tem informações úteis: o momento em que os dois se conheceram (Dezembro de 1949), a tradução que fizeram em conjunto de passagens de Lautréamont, a partida de Isabel Meyrelles para Paris (17-9-1950). É nesta carta que Eugénio de Andrade indica que tem versões ou variantes datadas de 1945 dos poemas enviados como pertencendo ao período de 48-51. A questão menoríssima do plágio foi tratada e resolvida por João Gaspar Simões na recensão que fez ao livro de Eugénio, dizendo (D.P., 5 e 13-12-1951; versão definitiva Crítica II, tomo I, 1999: 290): Só os produtos fabricados com patente podem ser imitados. Os produtos sem registo são produtos que qualquer pode inventar.
Depois do final da década de 60 as relações entre os dois recompuseram-se um pouco e no final da vida houve um reencontro – o lançamento da reedição de Pena capital na livraria da Assírio & Alvim do Porto e de que ficou registo fotográfico (Público, 10-5-1999). Há doze cartas manuscritas e um bilhete de Cesariny (1968-1991) no espólio de Eugénio de Andrade que está na Biblioteca Pública e Municipal do Porto. A amizade inicial não teve porém desenvolvimento e sobreviveu sempre entre os dois alguma distância e desconfiança.
As relações de Isabel Meyrelles com Eugénio de Andrade também se degradaram com o tempo. Há a seguinte passagem numa carta para Seixas (30-7-1997; inédita; arquivo U.É.): Li um asqueroso artigo do Eugénio de Andrade sobre o António Botto publicado no J.L. de 30 de Julho, ele ainda não sabe, mas desta vez corto definitivamente as mínimas relações que ainda mantínhamos. Seixas replicou em tom próximo (20-8-1997; inédita; idem).
É possível saber a hora exacta da chegada de António Maria Lisboa ao Porto no dia 29-3-1950 – fazia no dia seguinte leitura de Erro próprio no clube dos Fenianos – por telegrama enviado nesse mesmo dia para Cesariny e que diz (inédito; espólio M. Cesariny B.N.P.): Espera Lisboa às 21 S. Bento saudações = Henrique. O telegrama foi enviado para a Casa das Acácias, em Matosinhos, onde então vivia Eduardo de Oliveira (v. Cartas de M.C. para C.S., 2014: 67) e onde Cesariny estava instalado. É possível que lá tenham dormido nessa noite Lisboa, Cesariny e talvez Carlos Eurico.
Sobre a segunda exposição do grupo “Os Surrealistas” na livraria A Bibliófila da Rua da Misericórdia, em Junho-Julho de 1950, e as relações internas dentro do grupo, há testemunho de Seixas numa carta para o casal Jaguer (29-1-1985; inédita; arquivo U.É.): Na hora da segunda expo, em 1950, já havia como que dois grupos dentro do anti-grupo que formávamos. De um lado o António Maria Lisboa, o Fernando Alves dos Santos, o Risques Pereira e o Pedro Oom, do outro o Mário Cesariny, o Carlos Eurico e eu. O Mário Henrique Leiria, sempre de pendor social, saltava agilmente entre uns e outros. Esta exposição aconteceu com muito atraso em relação ao previsto inicialmente. Desde Novembro de 1949 que o grupo procurava realizar uma nova exposição. Em carta de Leiria escrita de Estremoz para Cesariny diz-se o seguinte (21-11-1949; 1986: 667): Não te esqueças de ir à Livraria Portugália falar com o Rodrigues por causa da exposição ou então vê que tal o “atelier” da Fritzi, as condições da luz, etc. Na carta seguinte (25-11-1949; idem): Com que então a exposição terá de ser feita no “atelier” da Fritzi, ein! De qualquer maneira, vai tratando disso, pois é necessário fazê-la durante o mês de Dezembro. A exposição esteve assim prevista para o mês de Dezembro de 1949 no ateliê de Isabel Meyrelles. Em Novembro Pedro Oom e Lisboa haviam-se recusado a assinar declaração que Leiria e Cesariny tinham proposto a partir de Estremoz por julgarem o assunto do G.S.L. morto. Na segunda carta de Cesariny a Seixas escrita de Estremoz está o registo deste primeiro rasgão (16-11-1949; Cartas de M.C. a C.S., 2014: 65): Da questão do Lisboa e outros não vale a pena falar. Não se tratando de uma divergência absoluta (ou clara) chega no entanto para mandar à merda o que fizemos, o que escrupulosamente fizemos. Seixas falou depois em dois grupos no anti-grupo em 1950 por causa deste registo. Por esse motivo a exposição de Dezembro chegou a ser pensada apenas com coisas de Leiria, Seixas e Cesariny, deixando os outros de fora. É o que se diz nessa mesma carta de 16-11-1949: Tenho feito com o Leiria boa porção de tinturas, que devem ser expostas assim que eu aí chegar, na livraria Portugália (por exemplo) ou no atelier da Fritzi, sendo porém a livraria melhor local. Por estar a coisa pensada entre mim e o Leiria, e por ter havido nítido afastamento entre nós e os Lisboa, Oom, Fernando, Henrique, resultado de cartas trocadas a propósito da Declaração tentada, a exposição é das tinturas aqui feitas 20-25, desenhos a tinta-da-china, 2 poemas, um meu e outro do Leiria, e o tal grupo escultórico, mas tínhamos gosto e empenho em que, em caso de teres desenhos novos ou objectos ou o que for, exponhas também connosco. Pouco depois, no Inverno de 1950, com a conferência-manifesto de Lisboa, Erro próprio, a ida deste ao Porto no final de Março a convite de Cesariny, o grupo recompôs-se e foi possível fazer a segunda exposição na livraria A Bibliófila com todos os membros presentes.
Sobre o ingresso de Seixas na marinha mercante (paquete Rovuma), ele contou a história assim (A liberdade livre – diálogo com José Jorge Letria, 2014: 64): morávamos num prédio [na Rua Sacadura Cabral] onde morava noutro andar um senhor que era director da Companhia Nacional de Navegação. Um dia encontrei-o na escada, eu estava desempregado, e pedi-lhe se ele me arranjava um emprego na Companhia Nacional de Navegação. De maneira que me arranjou um emprego que era contar as lingadas (…). As lingadas são uns sacos enormes de corda que são puxados por um guindaste do fundo do porão para o cais.
Para o embarque e a viagem ao Oriente e consequente chegada a Luanda aparecem datas muito desencontradas. Seixas e Cesariny apresentam datas diferentes para o facto – e até Seixas, só por si, apresenta pelo menos três versões diferentes. Cesariny dá-o como corrido na Primavera de 1951 (A Intervenção surrealista, 1997: 68). Isto mesmo se encontra numa carta para Seixas, quando andava a montar a cronologia inicial do livro (26-11-1975; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 239): Assentei no meu canhenho de danados que, alistado na mercante, saíste de Lisboa no Rovuma em 16-2-1951. E assim ficou no livro. Seixas pelo seu lado numa entrevista recua a partida para 1950 (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Depois de eu regressar de África, 14 anos depois, já não encontrei o mesmo Mário. Parti em 1950, ingressei na marinha mercante, e fixei-me em Luanda. Numa carta a Simone e Édouard Jaguer adianta a data para o final de 1951 (29-1-1985; inédita; arquivo U.É.): Foram boas as minhas relações com António Maria Lisboa, mas de facto não foi assíduo o nosso contacto, e logo dois anos após a minha partida para África veio a dar-se, infelizmente, a minha partida. Lisboa faleceu a 11 de Novembro de 1953, o que remete a partida de Seixas para África para dois anos antes, Outono de 1951. Por fim numa carta para Édouard Jaguer fala em 15 anos de África, o que coloca a partida na Primavera de 1949 (19-9-1976; inédita; arquivo U.É.): Recordo agora, com muita saudade, a minha solidão tão bem acompanhada por África, durante 15 anos. A correspondência que Seixas trocou com Isabel Meyrelles no início da década de 50, depois da ida desta para Paris, e que está hoje depositado na B.N.P., mostra que até à Primavera de 1952 as cartas foram sempre dirigidas para Lisboa, Rua Sacadura Cabral 41-3.dt., onde então viviam Seixas e os seus pais. A última carta enviada para essa morada é de 13-5-1952 e é provável que já não tenha sido recebida pelo destinatário. Aí se diz (espólio de Cruzeiro Seixas): Espero que ainda te encontre em Lisboa, querido. Em Dezembro desse ano de 1952 a correspondência para Seixas passa a ser enviada para Luanda, para o Palácio do Governador. Em todas as entrevistas Seixas insistiu sempre que passou 14 anos em Luanda. Se partiu na Primavera de 1952 e chegou no Verão desse ano como tudo indica, para regressar na Primavera de 1964, terá efectivamente estado cerca de 12 anos em Angola. Caso tivesse partido na Primavera de 1950, perfazendo desse modo os 14 anos de Angola que sempre referiu, não teria estado presente na exposição da livraria A Bibliófila, como se sabe que esteve. O engano nas datas e nos intervalos de tempo é de resto vulgar noutras situações tanto em Cesariny como em Seixas. Este numa entrevista disse (A liberdade livre – diálogo com José Jorge Letria, 2014: 37): Pois foi realmente na António Arroio com o Mário Cesariny, que era um miúdo que tinha menos dois anos que eu, que começou tudo. Seixas nasceu em 1920 e Cesariny em 1923 e a diferença entre os dois é de quase três anos certos.
Sobre a vida que fez em Angola durante os muitos anos que lá passou, leia-se este curioso apontamento solto e inédito e que deve datar já do presente século (arquivo UÉ): Quando eu era novo o centro do mundo era Paris, não Nova Iorque como agora, e eu, sem meios, fui parar a África, que foi afinal um dos mais felizes amores que tive. Percorrendo apaixonadamente quilómetros e quilómetros de “picadas”, descobri o que ainda restava de uma outra civilização. Dancei em alguns “batuques” que a lua ciumentamente iluminava! As civilizações morrem, e esta “nossa” também vai morrer um dia. Vivi apaixonadamente esses anos de África, circulando em incríveis carripanas por incríveis caminhos de lama, cortados por incríveis loucos rios.
Para a segunda viagem de António Maria Lisboa a Paris a melhor fonte é o testemunho directo que Isabel Meyrelles me deu (revista A Ideia, 2014): Vi o António Maria Lisboa várias vezes em Paris; ele aparecia no café onde eu ia quase todas as noites, para pedir dinheiro para comprar uma sandwich e também ao Costa Camelo e não sei se a outros portugueses noutro café. Como nós sempre embirrávamos muito um com o outro, nunca falávamos; ele só queria que lhe pagassem uma sandwich; fazia pena vê-lo.
Lisboa morreu abandonado e sozinho num quarto do bairro da Graça (Rua das Beatas n.º 36, 3.dt.), em Lisboa. A mãe estava em Angola, o pai não se dava com ele, os amigos mais próximos não o visitavam, fosse por medo de contágio, fosse por que se tinham incompatibilizado como era o caso de Luiz Pacheco. Ele faleceu a 11-11-1953 (às 15:30 diz a certidão de óbito) mas por exemplo Cesariny, tão ligado a ele, só veio a ter notícia da partida do amigo a 23 de Novembro, quase 15 dias depois, escrevendo no dia seguinte para Luanda a dar notícia a Seixas (Cartas de M.C. para C.S., 2014: 83): O António Maria Lisboa morreu ontem – para mim ele morreu ontem, embora tenha partido a 11 deste mês – só ontem tive conhecimento da sua morte. Isabel Meyrelles, a única que esteve com ele em Paris no Inverno de 1951, só soube da morte em Abril de 1954 (por carta de Seixas escrita de Luanda). Em resposta diz-lhe (?-4-1954; inédita; B.N.P.): Não sabia que o Maria Lisboa tinha morrido; de tuberculose? Sobre a doença do amigo, Cesariny deixou o seguinte testemunho (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): Eu sei que ele esteve um Inverno inteiro num sanatório, perto de Coimbra, com a boca cerrada, para não se rir, porque uma gargalhada podia tirar-lhe o resto do pulmão.
Cesariny conheceu o nome de Charles Fourier logo em 1947, na sua demorada estadia em Paris, já que André Breton acabara de publicar em Fevereiro de 1947 Ode à Charles Fourier mas o conhecimento directo da obra deste utopista social francês só chegou mais tarde. Numa carta para Ana Hatherly de 19-1-1969, escrita de Londres, ainda ele confessa que não leu Fourier e pede encarecidamente que a interlocutora lhe remeta a edição francesa das suas obras, dizendo (inédita; espólio A. Hatherly B.N.P.): Há bem dois anos, e a bem dizer desde 47, que tenho vil e funda necessidade de ler o Fourier. Na carta seguinte (27-1-1969) insiste com a interlocutora no envio de livro do autor do Novo mundo amoroso. A collage em que Cesariny homenageou Fourier, e que foi cartaz da exposição “O cadáver esquisito, sua exaltação, seguida de pinturas colectivas” (galeria Ottolini, 1975), é só de Fevereiro de 1975.
Cesariny não foi formalmente preso em Maio de 1953. Foi levado ao Torel, à Polícia Judiciária, e aí declarado suspeito de vagabundagem, com obrigação de apresentação regular nessa polícia. Já antes fora laçado ao menos duas vezes pela Polícia de Segurança Pública. Mais tarde contou o caso assim (revista Tabu, Sol, 7-10-2006): Isto era assim: três vezes apanhado na rua com outro senhor, dava direito a ser mandado para a Polícia Judiciária. Depois, a Judiciária teve-me como suspeito de vagabundagem todo o tempo que quis. Não queriam provas, queriam a suspeita, porque a suspeita podia continuar sempre. Uma das primeiras vezes, se não a primeira, em que foi parar à esquadra – era frequentador impenitente dos urinóis – quem o foi lá buscar foi António Pedro. Esse episódio sucedeu pois ou no final de 1947 ou no início de 1948, quando ele frequentava o andar de Pedro, na Avenida Defensor de Chaves (n.º 32 -3º). Vários testemunhos orais comprovam a presença de António Pedro na história. Helder Macedo, que a ouviu da boca de Mário Henrique Leiria, chegou mesmo a escrevê-la, embora talvez misturando dois episódios, um primeiro, na esquadra, por certo de 1948, e outro no Torel, mais grave, de 1953 (revista Relâmpago, n.º 26, 2010: 139): O Mário Cesariny foi preso, era necessário pagar uma caução para sair da cadeia, mandou recado a um fiel amigo, o António Pedro, que teria o dinheiro que ele não tinha e que presumia ser um homem de espírito aberto por vivências culturais londrinamente libertadoras. O qual foi logo socorrer o amigo, pagou o que era necessário, deixou-o em casa, e depois foi contar o sucedido a quem o quisesse ou não quisesse ouvir. Afinal a polícia dos costumes tinha sido mais discretas. Eurico Gonçalves testemunho-me que no momento em que Pedro se despediu dele depois de o tirar da esquadra lhe disse – “Menino, agora vai-te lavar!” Cesariny não lhe teria perdoado a grosseria e a guerrilha que lhe fez podia datar daí. Nem as razões que Helder Macedo apresenta, a divulgação no meio artístico e intelectual da curta humilhação sofrida por Cesariny na esquadra, nem a eventual vexação que Pedro lhe deu depois de o ir buscar, chegam porém para explicar o dissídio entre os dois. Só noções distintas de surrealismo – Pedro insistindo nos seus aspectos situados e Cesariny no seu rosto eterno – me parecem justificar o afastamento decisivo que se deu entre os dois em Agosto de 1948. Este foi secundado afinal por outros, que, não tendo sido rebaixados por Pedro, se lhe opuseram com a mesma ferocidade.
Sobre os cinco anos de liberdade vigiada a melhor fonte está no Jornal do Gato (carta a Luiz Pacheco, 1966, 1974: 47): Estive preso, cá e lá, mas, muito pior que isso, tive cinco anos de liberdade vigiada que deram cabo de mim. Lembro-me de que nessa altura tu achavas graças a uma expressão do Lima: o poeta que vai à revista. O poeta foi à revista e matou-se aí. Ou mataram-no. Numa entrevista muito posterior, Luiz Pacheco contou assim esses cinco anos (O crocodilo que voa, 2008: 148): Ele tinha de ir todos os meses ao Torel, à apresentação. É uma imposição muito chata. Não podia falhar, se falhava prendiam-no. O Mário tinha de ir todos os meses à Judiciária. Às vezes ia com ele até ao Largo da Anunciada, depois ele tinha de subir o elevador até ao Torel. Ele ia, voltava, daí a oito dias começava novamente a pensar naquilo. Deu muito cabo do gajo. Ele era muito cheio de cagança e perdeu um pouco essa postura, resistiu um pouco a sair da casca.
O ascendente de Cesariny na revista Pirâmide é no seu início de tal ordem que foi ele que a baptizou. Neste e noutros pontos contei com o testemunho de Carlos Loures (revista A Ideia, 2014): Para quem tinha 20 anos, com a presença de tantos escritores num grupo, era evidente que a publicação de uma revista se impunha. Ainda ninguém formulara a ideia e, lembro-me de em conversa com o Cesariny, na presença do Forte e do Virgílio Martinho (por acaso, não no Gelo, mas creio no Terminus), lhes dei conta do projecto que já tinha formulado com o Máximo Lisboa – o de reunir numa revista a colaboração de toda aquela gente. Não tínhamos sequer ideia de que título devíamos pôr e foi o Cesariny quem se lembrou de Pirâmide pelas evidentes ligações do surrealismo ao esoterismo da civilização egípcia. A influência de Cesariny fez-se sobretudo sentir no primeiro número – todo para bem dizer organizado por ele. Luiz Pacheco ganhou alguma força no segundo número (idem): Embora com pequenas tiragens, a revista causou sensação no meio literário nacional. Esse sucesso provocou uma irritação ainda maior. O “golpe” que o Pacheco liderou contra a direcção exercida pelo Cesariny no primeiro número, radicalizou a animosidade dos mais fiéis “cesarinistas” e trouxe-nos um acréscimo de apoio do grupo politicamente mais radical.
O fim das reuniões no Café Gelo a 2-5-1962 está num texto de Luiz Pacheco – testemunha directa do acontecimento (“Uma Picardia a mestre Almada”, Textos de Guerrilha I, 1979: 17): Havia, no Café Gelo, houve até ao dia 1 de Maio de 1962, aquando da grande manifestação contra o fascismo, que se repetiu a 8, com mortos e feridos, que logo a 2 o Cerqueira gerente nos proibia a entrada por ordem da esquadra do [teatro] Nacional onde fora chamado (…). Pormenorizou a história numa entrevista de 2005 (O crocodilo que voa, 2008: 215): O gerente, que era um gajo chamado Sequeira [sic], um gajo muito simpático, foi chamado à esquadra do Nacional e perguntaram-lhe: “quem são esses gajos?” “Ah, aquilo é malta, estudantes, artistas, pintores, poetas…” “Não quero lá esses gajos.” De maneira que quando voltámos, 3 ou 4 de Maio, o gerente disse: “Vocês não podem estar aqui.” Fomos expulsos do Gelo. Foi quando a malta se passou para o Café Nacional, um Café enorme, que agora já não há, que era lá ao fundo, na Rua 1.º de Dezembro, do lado direito.
Afonso Cautela, que abriu com texto seu a colectânea Surreal/abjeccion-ismo, não é citado no comunicado que Mário Cesariny leu na galeria S. Mamede em Fevereiro mas é citado porém nesse mesmo ano, na revista Phases, no texto em “Para uma cronologia do surrealismo em português”. Cesariny pretendeu ainda associar Cautela no ano de 1974 a um livro da galaria S. Mamede que não chegou a ser feito por causa da revolução e que se destinava a homenagear os 50 anos da publicação do primeiro manifesto do surrealismo (inédito; arquivo da galeria S. Mamede).
Raul Leal foi o primeiro a escrever sobre Mário Cesariny pintor (Diário Ilustrado, 10-7-1958). Na versão final d’ Um auto para Jerusalém, já de 1991, Cesariny decidiu homenageá-lo, integrando versos dele em francês na peça. No momento da segunda representação no Teatro Nacional, no final da Primavera de 2002, recordou assim este seu modelo maior numa entrevista (D.N., 1-7-2002): No meu livro O virgem negra, escrevi que Orpheu era ele, Raul Leal, o completamente inadaptado, o anarquista absoluto. A recitação dele acaba no caos – ele era o caos. No fim o Orador dá-lhe uns cobres, é bonito, porque ele tinha estoirado o dinheiro todo. Ainda chegou a juntar-se connosco nos cafés. Ele costumava ir ao Chave d’Oiro e o Herberto Helder disse-lhe que ali mais abaixo, no Gelo, juntavam-se uns rapazes assim e assim. Passou a lá ir, ficava tardes inteiras, como nós.
6 O NÚMERO DO MEIO
A história da tradução de Rimbaud e do título que a editora Portugália alterou foi contada mais tarde assim (A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 17, Janeiro/Março, 1990): Fiz inicialmente esta tradução em 1954 para assinalar o centenário de Rimbaud. Foi-me proposta pelo Luiz Pacheco quando ainda estávamos em contacto através da Contraponto. Uma vez tive de fugir de Lisboa e o Luiz Pacheco animou-me com a ideia da tradução… Fi-la já nessa altura com o título de Uma cerveja no inferno. Quando em 1960 apareci na Portugália com este título (devo ao Luís Amaro ter saído lá a edição) ficaram um bocado eriçados. Tinham medo de uma associação com a Cervejaria Portugália. É que já eram a editora Portugália… Houve meia zanga. Eu acedi. Foi aborrecido da parte deles e da minha parte pôr no livro “Uma época no inferno” em vez de “uma cerveja no inferno”. A data que aqui se apresenta para a tradução é 1954 – “fiz esta tradução em 1954” – mas sabe-se que já no ano anterior, em 1953, a tradução estava a caminho de ser concretizada. António Maria Lisboa, que faleceu em Novembro de 1953, ainda chegou a escrever o prefácio para a tradução, A verticalidade e a chave, que apareceu depois como texto solto em edição Contraponto (1956). Ao reeditar este livro na obra do amigo, Cesariny anotou (Poesia de A. Maria Lisboa, 1977: 398): Trata-se do “prefácio” que deveria apresentar a minha tradução de “Une saison en enfer”, de Jean-Arthur Rimbaud, com publicação projectada para o centenário do nascimento do grande poeta (1954).
Sabe-se que Cesariny se interessou por Lautréamont e Jarry na mesma época em que se dedicou a Rimbaud. Eugénio de Andrade na sua carta de 29-11-1951 informa que ele e Cesariny traduziram em conjunto passagens de Lautréamont, o que aconteceu ainda em Dezembro de 1949 em Lisboa ou depois no Porto no início do ano seguinte, quando os dois estiveram juntos na Casa da Barca do Lago, na Casa de Pascoaes, em Amarante, e na Casa das Acácias, em Matosinhos. Outra certeza do seu interesse por Jarry e Lautréamont está no primeiro pedido de apoio que meteu na Fundação Gulbenkian em Setembro de 1960. Em carta dirigida a Azeredo Perdigão e datada de 2 de Setembro (duas páginas dactilografadas; inédita; arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian), diz que deve concretizar “por sugestão de uma editora de Lisboa, um ensaio de interpretação crítica da obra” de Ducasse, Jarry e Rimbaud. Apresenta um plano de trabalho para cada um dos três poetas e pede uma bolsa de estudo para fazer “um estágio em Paris”, de modo a poder frequentar a Biblioteca Nacional de França. Ao invés dos eruditos textos que publicara em 1957 e 1958 sobre Lautréamont (v. As mãos na água…) a sua versão de Rimbaud surgida meses antes, em Junho, não é citada em apoio.
Para as edições de António Maria Lisboa na Guimarães Editores, em 1962, e para o seu espólio salvo e depois perdido por Luiz Pacheco ver o testemunho deste em Textos de Guerrilha 2 (1981: 62-78) e ainda uma carta de Cesariny para João Palma Ferreira que diz (9-10-1958; inédita; arquivo Palma Ferreira, B.N.P.): Do livro do António [Exercício sobre o sono e A vigília de Alfredo Jarry] quero dizer-lhe que se trata de dois dos muitos manuscritos salvos pelo Luiz Pacheco no lixo da Câmara Municipal de Lisboa, ali ao Cais do Sodré, onde deveriam apodrecer e transformar-se, sabemos, em pasta dentífrica ou outra, por obra e graça do pai do poeta – a mãe encontrava-se em África quando o António morreu –, o qual pai, obedecendo a velhas certezas de raça, e decerto que na melhor das intenções (dele) rasgou metodicamente e totalmente todos os manuscritos (…) que encontrou no quarto (…). Rasgados foram para o lixo até coisas estranhas, ou amigas, ou alheias: originais meus e desenhos e documentos a dois e três que hoje jazem rasgados em casa do Luiz Pacheco, herói verdadeiro desta farsalhada tanta em que há pais, filhos, mães, irmãs, amigos… Os originais agora publicados levaram os seus dois anos a reconstituir (…) e são, no espólio do poeta, o que por agora pode considerar-se definitivamente salvo. Salvo por um triz, este espólio teve depois o seguinte destino (Textos de Guerrilha 2,1981: 71): Desde a perda do espólio [de A. Maria Lisboa] em que não enjeito um estupidíssimo desleixo meu (…) desde que um trapeiro ou fosse lá quem fosse levou dum quintal de uma vivenda na Parede (já foi abaixo até a vivenda) todos os meus dossiers, arquivos em cartão, madeira, tudo do melhor, que eu subtraía sem grande dificuldade na Inspecção dos Espectáculos e guardava tudo – originais, provas tipográficas, correspondência, o mínimo papelinho, isto cobrindo mais de uma década de actividade como Editor sob a sigla Contraponto –, e nessa muita papelada a pasta contendo o espólio do Lisboa (…).
O pedido de bolsa de estudo à Fundação Gulbenkian em Setembro de 1960 já foi atrás referido. Deu entrada na secretaria da presidência a 6 de Setembro e passou à secretaria central a 15 de Setembro. Além do “ensaio de interpretação crítica” da obra de Ducasse, Jarry e Rimbaud, Cesariny propõe-se ainda fazer na sua estadia parisina duas antologia de poesia, uma “de poetas portugueses, a publicar em Paris, em versão francesa” e outra “de poetas franceses pós-rimbaldianos” e a publicar em versão portuguesa, em Lisboa. O pedido de bolsa foi apoiado por Maria Helena Vieira da Silva com uma carta forte, dirigida a Azeredo Perdigão e datada de 5 de Setembro. Considera aí Vieira o candidato um dos “nomes mais notáveis da poesia contemporânea”, “personalidade de grande prestígio”, “poeta de alto valor”, “excepcional espírito crítico”, “talento que reputo de grande futuro”. Caso a Fundação lhe conceda a bolsa prestará “um grande serviço às letras nacionais.” O presidente da Fundação apressou-se a responder à pintora por carta de 7 de Setembro, dizendo que tudo fará para satisfazer o requerente, embora o prazo para apresentação de pedidos houvesse terminado em 30 de Abril e tivesse tido centenas de requerentes. Dada a intervenção de Vieira, Cesariny teve como certa a atribuição da bolsa e da sua saída então de Lisboa. Numa carta para Seixas escrita cinco dias depois da carta à Fundação disse-lhe (7-9-1960; Cartas de M.C. a C.S., 2014: 156): (…) dentro de dois meses, três no máximo, estarei em Paris para seis meses, facilmente um ano, de estágio, com subsídio da Fundação Gulbenkian. E agora? Foi a Maria Helena Vieira da Silva que me arranjou esta. E digo-te: é autêntica manobra dos deuses (…). Ter-te-ei ao par dos meus movimentos, estágios e saídas. E grito para que não desistas dos trabalhos e dos dias que te prometeste. Não é só a Isabel que pode ajudar-te em Paris, embora seja um auxílio muito de aceitar, com estima, até, e mais: com admiração. Há mais gente em Paris. Por exemplo: eu. Cesariny acabou porém por não ir para Paris nesse ano, porque a bolsa foi indeferida. Apreciado o processo por Ferrer Correia, decidiu este que o pedido, entregue fora de prazo, não podia ser satisfeito. Raposo Magalhães comunicou ao requerente em carta de 20-1-1961 a decisão da Fundação, que foi também comunicada a Vieira da Silva. Este desfecho obrigou-o a meter novo pedido, desta vez dentro dos prazos, não nesse ano de 1961 mas em 10-3-1964. O pedido foi porém preparado com Vieira desde o meado de 1962. O plano de bolsa aparece reformulado e o “ensaio de interpretação crítica” da obra de Ducasse, Jarry e Rimbaud é substituído por um estudo da obra de Vieira da Silva, que é apresentada no pedido como “orientador dos seus estudos”. Também as visitas à Biblioteca Nacional de França são trocadas por visitas à oficina da pintora e museus franceses e outros onde a sua pintura esteja representada. O objectivo da nova bolsa é a “publicação duma obra sobre a pintura de Vieira da Silva”. Já pesquisado em parte por Sandra Santos e António Soares, o novo pedido teve a apoiá-lo uma nova carta de Vieira, esta de 21-11-1963 – já publicada (Gatos comunicantes – correspondência entre Vieira da Silva e Mário Cesariny 1953-1985, 2008: 53) – e só foi deferido em 16-11-1964, o que quer dizer que o requerente partiu em Fevereiro às suas custas e com dinheiro muito limitado. O pedido foi feito para seis meses e por isso no final da Primavera seguinte, já em Londres, precisou de se candidatar a mais um semestre de bolsa, pedido que foi deferido e lhe permitiu regressar apenas a Lisboa no final do Inverno de 1966.
A carta para Virgílio Martinho de 21-10-1963 sobre a estadia em Madrid é preciosa para o conhecimento da sexualidade de Cesariny e da topografia sexual urbana que era a sua (urinóis, cinemas, transportes públicos) – bem assim como da sua utopia erótica colectiva. Confirma-se ainda nesta carta o ponto de encontro do ex-grupo do Café Gelo no Café Nacional, na Rua 1.º de Dezembro (revista A Ideia, 2014): Escrevo-lhe de Sesimbra, num sumptuoso bloco de papel, oferta do Colóquio de Madrid – além de lápis. Esferográficas, pastas para escritores, um maná! – de onde vim anteontem, dois dias antes de acabar o colóquio e de se me acabar o dinheiro, que assim ainda gasto e aproveito por aqui, no mar. Pena foi que o avião não pudesse trazer-me aqui directo, mesmo pelo truque do pára-quedas, porque a queda em Lisboa, foi como sempre muito grande, muito vácua, muito pálida, segundo confirmo pelo encontro de caras debaixo das bananeiras do “Nacional”. (…) / Em primeiro lugar, e mais importante, o meu imenso choque pessoal que me apanhou como um choque eléctrico em cavalheiro já não muito novo, não muito são, nestes assuntos: imagine, ó Virgílio!, que as pessoas que andam nas ruas, ou vão ao cinema, ou estão pelas esplanadas, corrijo: que os rapazes de Madrid que, vamos, correspondem ao nosso “magala” (mas não são magalas), ao nosso marujo, (mas não são marinheiros), ao nosso “desocupado” em busca de vítima para a noite, não lhes passa sequer pela cabeça a possibilidade de porem o sémen a render, isto é, são pessoas, não se vendem, aproveitam ou não, em geral, aproveitam, aquela possibilidade de gozar daquela maneira, mas, acabada a maneira, nada fica, maneira acabada, não há esperas de dinheiro de espécie alguma, há um adeus delicado e jovial, o regresso de um acto realmente em comum (…). Virgílio, fiquei para morrer! (…) / Desgraçado país o nosso, ó mestre Virgílio, em que as pessoas, tirada à categoria de pessoas, se algum dia a tiveram, sonhemos que sim, se vendem e alugam coisas – e vendem-se e alugam-se aos milhares, comece a contar pelas corporações – quaisquer corporações – vendem o que sai do pirilau porque têm isto ou aquilo (fome, por exemplo, e desculpa; ou saudades, que é fome à mesma ou desculpa também) mas não maneira de trocar com decência sentimentos decentes e prazeres puros. Só por compra e por venda. Resultado: tudo, sem falhar um, pode ir para a cama porque se trata de um negócio, organizado desde a antiguidade, empréstimo de coisas – pexotas – que não pertencem a ninguém, nem correspondem a nada – ó Virgílio! – estão ali colocadas por acaso, podiam estar noutro sítio, noutra montra – nos ombros, no joelho – o resultado era igual. Virgílio! (…) / Por outro lado, a luta contra a repressão, ou melhor, vigilância policial, está, não podia deixar de ser, bastante organizada, há mesmo pormenores pitorescos na sua eficiência, como, em determinada linha do metropolitano, em determinada carruagem, a horas x a z determinadas, encontro de todo o mundo com todo o mundo que deseja foder ou ser fodido. O espectáculo é delicioso. (E proveitoso). Quando a coisa está a dar de si, muda-se tudo, mantendo-se a hora, que é a da saída dos empregos. Que tal? Além disso há os cinemas e os mijadoiros. Movimento fabuloso (em ambos). Há cinemas em que os filmes estão no cartaz tempos sem fim, mas as pessoas entram com uma alegria e uma curiosidade que nem nas nossas “premières” se encontra. Comentário-desabafo de uma arrumadeira: “Dios myo, hoy estan todos, todos, todos!!!” Seria por não ter faltado eu? (…).
Conquanto não aluda a Francisco Aranda e a Manolo Mateos Rodriguez, já então juntos, mas não no apartamento da Rua Carlos III, no centro de Madrid, onde Cesariny havia de ficar mais tarde às temporadas, só aos dois se pode dever um conhecimento tão por dentro e tão exaltante do meio homossexual madrileno. Por uma carta posterior de Manolo a Seixas sabe-se que no ano de 1963 Francisco Aranda já abandonara Lisboa (regressou a Espanha no final de 1957 segundo informação de Cesariny na nota biográfica que lhe fez no livro Os poemas de Luis Buñuel) e já estava a viver com Manolo em Madrid e assim ficaram até à morte de Aranda em 1989. A morada de ambos em 1964 era (10-8-1964, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 178): Calle (?) Sambara, 40, Madrid (17). Nessa carta posterior de Manolo para Seixas fala duma aventurosa viagem a Marrocos no ano de 1963 (21-4-2001; inédita; arquivo U.É.): Com estas teorias, la vuelta por Marruecos ha sido estupenda. También ha sido un viaje nostálgico, como ya me ocurre con muchas cosas. Ha sido el mismo recorrido que hice con Pepe en el año 63. En aquélla ocasión, fuimos con una “scotter”, una pequeña motocicleta marca Lambretta, parecida a la Vespa. Fuimos en esa moto de segunda mano, desde Madrid hasta Marrakesh en el sur de Marruecos y fue una aventura maravillosa.
A carta para Virgílio Martinho tem ainda preciosos elementos sobre o colóquio internacional “Realismo e realidade na literatura contemporânea” em que Cesariny participou com comunicação (v. As mãos na água…) e que lhe pagou todas as despesas da viagem e da estadia. O J.L.A. deu copiosa notícia não assinada do evento, com fotografias, uma delas com Urbano Tavares Rodrigues a usar da palavra (n.º 109, 30-10-1963, pp. 8-10). Juntou à notícia a comunicação de José Maria Castellet, apresentado como “um dos leaders mais esclarecidos do realismo social”, e um curto comentário de Urbano. A notícia tem uma alusão de duas linhas à intervenção de Cesariny (“a evocação de Garcia Lorca e dos poetas surrealistas na Universidade de Madrid”) feita em dois momentos – na Cidade Universitária, a 16 de Outubro, e dois dias depois, no Hotel Suécia. O texto de Cesariny tem apenas na introdução uma brevíssima e pouco significativa alusão a Garcia Lorca.
Sobre o avô materno, Pierre Cesariny Rossi, talvez a figura familiar que mais o interessou e com quem mais se identificou, mas que não conheceu, Mário Cesariny deixou o seguinte testemunho (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): O meu avô materno, Pierre Marie Cesariny Rossi, era corso, quer dizer que era francês, porque a França ocupa a Córsega. Bom… era realmente esse o meu avô materno, uma pessoa excepcional, de uma inteligência e de um saber muito grandes. Casou com a D. Carmen Escalona em Salamanca, porque um dia ia a passar e viu-a à janela – pela primeira vez! – subiu e pediu-a em casamento. Mal ou bem, casaram, mas não se deram muito bem. O meu avô não era deste planeta, andava sempre em Paris e não sei quê, bá, bá bá. Resultado: a minha avó materna morreu jovem e quem se encarregou da filharada – que eram três ou quatro, não me lembro – foi uma tia. A tia Madalena, que acabou em freira, não por vocação, mas por conhecimentos do meu avô, e porque não havia dinheiro em casa.
Sem a casa de Isabel Meyrelles, Cesariny não se teria podido instalar em Paris, para onde foi no final do Inverno de 1964 com pouco mais de 1000 escudos e com a certeza de que a bolsa só lhe seria deferida no Outono. Conheciam-se desde Maio de 1949 e existira sempre entre os dois uma forte atracção, o que não impedia atritos, amuos e até críticas aceradas de parte a parte em certos períodos. Numa carta a Seixas do final do ano de 1960, quando tudo fazia prever que Cesariny estava de partida para Paris com bolsa da Fundação para escrever o tal “ensaio de interpretação crítica” sobre Ducasse, Jarry e Rimbaud, Isabel declara que não pensa recebê-lo nem sequer vê-lo em Paris (11-12-1960; inédita; espólio Cruzeiro Seixas B.N.P.): O Mário… Estás cheio de sorte de não veres a cloaca em que ele caiu. Sabes qual é a última, para chatear a Natália, serve-se de cartas minhas escritas há dez anos, e mostra-as a toda a gente. Podes imaginar o que essas cartas dizem. Eu acho isto a última degradação. Parece que ele agora tem uma bolsa da Gulbenkian e vem passar um ano a Paris. Não sou eu que tenciono vê-lo. Mas acredita, toda esta história Cesariny, é uma das maiores tristezas da minha vida. A chave desta zanga está com certeza em carta de Cesariny a Seixas escrita pouco antes (13-7-1960): A propósito de Paris: a Fritzi convidou outra vez a ir lá passar dois meses. Retribuição de tal banquete: eu deporia (vê) no interior da viagem, substância bastante para depois sair um filho! Ai, ninguém disse que a intenção não era boa! Horror. (…) Por fim, zangou-se comigo porque os vigilantes do costume foram-lhe dizer coisas tremendas da transacção carnal proposta. Nada que eu não pensasse, claro. Mas lamentei que a fossem ferir – e feriram! – usando palavras que a ela eu nunca diria.
No Inverno de 1964, a situação recompusera-se e Isabel recebeu-o no seu pequeno apartamento do centro de Paris. Sobre o período que então passou com ele disse-me o seguinte (revista A Ideia, 2014): Ele estava a viver na minha casa, Rua de Savoie (perto de St. Michel). As nossas relações eram boas, aliás víamo-nos muito pouco, eu trabalhava na minha livraria e ele andava à “caça” dia e noite, às vezes encontrávamo-nos em casa quando ele precisava dalguma coisa. Foi lá em casa que ele escreveu “A cidade queimada”. Chamada “L’Atome” e dedicada sobretudo à ficção científica, a livraria ficava mesmo “quase em frente do Café de Flore” (8-9-1964; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 181). No “curricvlvm vitae de Maria Isabel Sobral Meirelles”, datado de 3-12-1982, ela afirma para o período “1962-67” (inédito; arquivo U.É.) o seguinte: Directora da “Librairie l’Atome”, rue de Grenelle, Paris. Numa carta para Seixas, não datada mas com carimbo dos correios de 25-7-1965, lê-se o seguinte, que confirma que a livraria teve gerência e direcção sua (inédita; espólio Cruzeiro Seixas B.N.P.): Para manter esta filha da puta desta livraria tive de arranjar um trabalho de cozinheira num bar-restaurante o que me faz dias de trabalho de 12 horas. Meu caro, nem sequer tenho tempo de dar uma fodinha de vez em quando!
Sobre o fim dos urinóis em Paris, há o seguinte testemunho de Cesariny (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): (…) a primeira que teve essa ideia peregrina foi a Madame de Gaulle, mandou tirar todos os urinóis de Paris. (…) A mulher tinha um bocadinho de razão, porque era assim: às vezes um gajo estava muito aflito para fazer pipi, mas o urinol estava cheio de gente que não saía nunca (ri). No mesmo passo, acrescenta a história dos cinemas, que existiam na época tanto em Lisboa como em Paris: Ah, e os cinemas magníficos, eram cinemas onde ninguém via fita, ninguém! Ia-se para lá engatar (…). Na carta para Virgílio Martinho atrás citada diz o mesmo para os cinemas de Madrid!
Alberto de Lacerda foi para Londres em 1951. Numa carta para Ramos Rosa diz o seguinte [s/d (1951), espólio A. Ramos Rosa B.N.P.): O caso é que vou trabalhar na B.B.C. de Londres, para onde devo partir no próximo dia 23, com um contrato de 3 anos. O contrato deve ser renovável – não conto portanto voltar tão cedo a Portugal. As relações entre Alberto de Lacerda e Mário Cesariny mantiveram-se sempre estáveis e boas. É ver a correspondência que ambos mantêm até ao ano 2000 e que Luís Amorim de Sousa publicou em livro. Sirva ainda de prova este passo numa carta a Ana Hatherly (3-12-1972; inédita; espólio A. Hatherly B.N.P.): Parece-me que está de moda dizer pouco do Alberto de Lacerda ou, pelo menos (…) que ele é pessoa difícil, complicada, ada. Ora é bom, seria, não perder que o Alberto de Lacerda, com complicação e tudo, é poeta e pessoa infinitamente mais que todos os grilos Hampstead se é assim que se escreve e todo o canário Kensington se é assim que se diz e toda a bolota Camden se é assim que se come.
Luís Amorim de Sousa no depoimento que me deu avaliou a ligação dos dois assim: O grande amigo do Mário, em Londres, era o Alberto. Não era uma amizade fraterna. Era uma amizade cultural. O Alberto levou o Mário a mil sítios surpreendentes da sua Londres de pura magia, apresentou-o a pessoas, apresentou-lhe pessoas, levou-o a ver pintura, a livrarias, casas que tinham abrigado figuras para nós lendárias (…) e mais isto e mais aquilo que o Mário ia consumindo com surpresa e agrado.
O regresso de Seixas de Angola foi contado assim pelo mesmo (carta a Bernardo Pinto de Almeida, 19-2-2002; inédita; arquivo U.É.): Durante os 14 anos que permaneci em Angola fiz uma colecção etnográfica em longas andanças pelo “interior”, sem espírito de etnógrafo, (…) apenas guiado pela minha sensibilidade. Essa colecção era toda a minha riqueza, e quando foi necessário fugir à guerra em que não queria combater e regressar à Europa urgentemente, fui obrigado a vender essa colecção. O regresso nunca aconteceu antes de Abril ou Maio pois em Fevereiro ainda ele viajava no interior de Angola, para Malange, sem ter nenhuma ideia concreta sobre o seu regresso (carta a Ismael, 3-2-1964; inédita; arquivo da U.É): Uma viagem à Metrópole como tu apanhaste é que eu queria (…). Numa carta da semana seguinte diz estar a vender a colecção de arte negra a Manuel Vinhas (carta a Gil Ferreira, 11-2-1964; inédita; arquivo da U.É): (…) tenciono regressar brevemente à Metrópole. Estou a tentar vender a colecção ao Manuel Vinhas (…). Só depois da conclusão deste negócio lhe foi possível pensar na viagem de regresso – dele e dos pais, a quem pagou a viagem.
A melhor fonte para o episódio da prisão de Cesariny em Paris, em Setembro de 1964, é Seixas. Relatou assim a história (revista Relâmpago, n.º 26, 2010: 125): Somente em 1964 me foi possível ir a Paris. Infelizmente logo ao segundo dia de permanência, o Cesariny, talvez querendo mostrar-me o seu Paris, levou-me a um cinema duvidoso, onde assisti, o mais aflito e impotente, à sua prisão. Luiz Pacheco em entrevista de 1992 contou uma versão que pode parecer diferente (O crocodilo que voa, 2008: 54): E o Cesariny era um poeta dos urinóis. Chegou a Paris, ia com esse hábito e botou a mão à sarda de um homem que estava a mijar – resultado foi parar à cadeia. O chefe da esquadra perguntou-lhe: E então como é isso là-bas?” E ele disse: “É como cá.” Mas não era, porque o chefe da esquadra disse: “Então você tinha para aí tantas pensões para ir fazer isso, era preciso ir para o urinol deitar a mão à gaita do outro?!” Luiz Pacheco vivia em Setembro de 1964 na Avenida dos Combatentes em Setúbal – preparava-se então para escrever o Cachecol do artista, que saiu em Dezembro – e apenas ouviu os ecos, embora directos, do episódio, enquanto Seixas foi protagonista dele. Pode acontecer porém que os dois testemunhos – Pacheco soube logo em Dezembro pormenores da boca do próprio Cesariny – cruzem a mesma história. Tudo se teria então passado no mictório do cinema em que estavam.
Numa carta a Manuel Hermínio, Cesariny contou cenas sequentes à sua prisão no cinema (A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 84, Março, 2001): Podes crer que as chamadas autoridades, policiais, francesas fizeram tudo para me mandar embora. (…) entrei na gendarmerie – aquele belo edifício à beira Sena, com a formidável Sainte-Chapelle à direita e a casa dos gendarmes (polícias) à esquerda (…). A seguir e entretanto foi assim: entrado na gendarmerie fui mandado sentar e um agente frente a mim escreveu à máquina, dactilografou, as “minhas” declarações, sem nada me perguntar nem eu abrir a boca durante todo aquele exercício. Acabada a função, o agente deu-me aquilo para ler e assinar. Agarrei no papel e assinei sem ter lido palavra do que ali estava.
No testemunho oral de Seixas, Vieira da Silva foi de imediato avisada da prisão de Cesariny por um telefonema feito de casa de Isabel Meyrelles mas não deu grande importância ao assunto, preferindo manter-se afastada. Depois da partida de Seixas para Portugal, foi Isabel que ficou com todas as tarefas inerentes à prisão do amigo – visitas, contactos no exterior com advogados e pessoas influentes. Numa carta do princípio de Outubro para Seixas, já então em Portugal, fez o ponto da situação (11-10-1964; inédita; espólio Cruzeiro Seixas B.N.P.): O Mário continua na prisão e eu e um amigo meu estamos fazendo todo o possível para o tirar de lá e principalmente para ele não ser expulso de França. O rapaz tem melhor moral do que era de esperar, está com gripe mas vai melhor, e esperamos que saia daqui a uma semana (mas já faz duas semanas que estamos à espera disso). As burocracias são as mesmas em qualquer lugar e contra uma tal inércia não há advogados que nos valham. (…) O endereço do Mário é: M. C. Vasconcelos. C.P. 11858, 3/381, Prison de Fresnes – à Fresnes, Seine. Mas tens de escrever em francês, pois as cartas em português não são entregues. Esta carta indica o número da cela –“381” – e que Seixas terá regressado a Portugal pouco depois da prisão do amigo. Informa ainda que Cesariny em Outubro caiu doente e que Isabel estava a planear meter recurso para o libertar mais cedo. Na carta seguinte, informa porque desistiu deste recurso (6-11-64; inédita; idem): Também acho que as cartas do Mário são alarmantes mas ninguém pode fazer nada por ele, o advogado aconselhou-o a abandonar o appel pois ele arriscaria mais 2 meses. Assim, temos de esperar que ele saia de lá, e um amigo meu vai tentar evitar que ele seja expulso o que é o mais certo. (…) quando ele sair vai precisar de dinheiro, quer seja para ficar ou para partir e ainda é preciso pagar o advogado. Por todo este trabalho a seu favor, Cesariny escreveu a Seixas o seguinte (23/27-10-1964, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 184): Sur l’instant, je veux te dire tout simplement que Isabelle a été admirable dans toute cette affaire. Obrigatoriamente escrita em francês, como todas as que recebia, esta carta é porventura a mais comovente de todas as que se conhecem escritas a Seixas – quase centena e meia! Aí diz: Je l’ai dit déjà à Isabelle: je vois que je n’ai pas touché (et peut-être je n’ai jamais cherché) que le côté sombre de la vie. À Toi, qui es solaire : tel tu m’as vu, tel je suis. Mais je sais que tu m’aimes toujours ; peut-être davantage ! Nessa carta pede o máximo sigilo sobre o que aconteceu em Paris e inclusive a paragem do livro que está a imprimir na editora de Bruno da Ponte. “Toute publicité faite autour de mon nom pourrait être, à l’instant, plutôt préjudicielle” – afirma! Por essa e pelas seguintes fica a saber-se que Seixas lhe escreveu então com frequência. Na carta de 23/27 de Outubro agradece-lhe carta e na seguinte volta a dizer (4-11-1964, idem, 2014: 185): Tes lettres, dont je viens de recevoir la deuxième, sont pour moi d’un grand secours. Infelizmente nenhuma destas cartas parece ter sobrevivido. Além das cópias das cartas que Seixas escreveu ao amigo no escaldante Verão de 1975, cópias que estão no seu espólio da B.N.P., apenas se conhecem três outras cartas (s/d; Abril de 1953; Abril de 1999; arquivo da Fundação Cupertino de Miranda), nenhuma do período Fresnes. Depois da ruptura definitiva, em Agosto de 1978 (artigos do Jornal Novo), Cesariny desfez-se porventura da inumerável correspondência do amigo – tal como se desfez da sua pintura e dos seus desenhos. Há testemunho que pode apontar para aí.
Apesar do sigilo recomendado, no início da Primavera de 1965 havia já um pequeno núcleo de pessoas em Portugal que estavam dentro do segredo de Fresnes. O facto está documentado numa carta de Eduardo Oliveira a Seixas (17-2-1965; inédita; arquivo U.É.): (…) lamento ainda não ter escrito ao Mário depois da sua ‘odisseia trágica’…”
Depois de Fresnes, a vinda a Portugal no Natal de 1964 – chegou a 22 de Dezembro, uma terça-feira, ao princípio da tarde – foi semi-clandestina. Renovou o passaporte em Londres no final de Novembro e como bolseiro no estrangeiro pediu autorização à Fundação Calouste Gulbenkian para vir passar o Natal em Portugal. Estava fora desde Março e desejoso de se mostrar à mãe e à irmã Henriette, que nesse momento já devia estar a viver na Rua Basílio Teles – em 1965 o divórcio já estava declarado e a sua morada era já a da casa da mãe. O pedido foi indeferido (carta de Artur Nobre Gusmão de 18-12-1964; arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian) mas mesmo assim ele veio a Portugal. O regresso a Londres deu-se a 6-1-1965, que nesse ano calhou numa quarta-feira. A informação está num postal de Seixas para a mãe (4-1-1965; inédito, arquivo U.É.). Foi neste arco de tempo que ele esteve em Lisboa com Luiz Pacheco e lhe passou notícias sobre a sua prisão em Fresnes. Entre os amigos do seu círculo, era ele, Pacheco, o único que já estivera preso e por duas vezes (1946 e 1959) – ambas no Limoeiro de Lisboa. A fonte para a relação sexual entre eles, relação que não chegou a acontecer, está numa entrevista (O crocodilo que voa, 2008; 183): Ele [Cesariny] só tentou uma vez. Foi quando veio de Paris. Até aí não tinha tique nenhum disso. (…) No regresso, para mim foi uma surpresa. O tipo começou a aparecer e a fazer propostas. Comigo (…) o gajo fez-me assim umas festas e eu disse: “Tá quieto, faz favor, porra!”
“Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva”, que faz parte hoje de “Poemas de Londres”, publicados pela primeira vez em 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão… (1971), apareceu pela primeira vez num livro de Isabel Meyrelles, O rosto deserto (1966). A versão de 1966 é com alterações quase insignificantes – minúsculas, estrofes compactas, versos longos, tempos verbais – a que foi depois dada no livro de 1971, aqui com algumas gralhas e com uma única diferença substancial, a introdução de citações de Mircea Eliade, que se entrosaram ao texto e nele ficaram em todas as edições ulteriores.
As relações de Cesariny e de João Vieira foram muito más em Londres. Basta ler este passo duma carta a Luiz Pacheco para se perceber a fricção que entre eles houve (8-2-1965, Pacheco versus Cesariny, 1974: 85): pode mesmo asseverar-se que o João Vieira não morreu – mesmo – em Paris, e foi salvo – outra vez! – aqui em Londres devido à assistência, quase religiosa, do Dácio. O Vieira empregou os truques todos: loucura, perna inchada, estupidez constitucional, bolhas nos pés, amor infindo. Dácio espavorido, curou o rapaz e sugeriu um trabalho, todo momentâneo, claro, em qualquer sítio daqui. Vieira declinou que não era capaz, que não sabia: pintar e ser professor. Com o inglês que ele tem! Dácio, mais espavorido, esperou até hoje, dia 8, a entrada do rapaz para uma escola daqui, onde o requereram por uma semana – deve ter morrido alguém naquele corpo docente. Entrada fatal, vejo, porque significa o fim de todas as assistências. Tu, ou vocês, que têm, até têm, aí um jornal, não querem libertar-nos de vez deste fantasma criado pelo França? Não dão um jeito? Uma entrevista à mulher dele? Uma notícia funeral? Era favor. Testemunhos de Seixas e Helder Macedo confirmam a péssima relação em Londres entre os dois. Luís Amorim de Sousa no testemunho que me deu avançou o seguinte: o João Vieira, de quem o Mário não gostava muito, pouco, ou mesmo nada. Nada aponta para reconciliação posterior. É pois enganadora a fotografia de João Cutileiro com Mário Cesariny a dançar de braço dado com João Vieira, datada de 1965 e que Helder Macedo localiza no apartamento de Bartolomeu Cid (v. revista Relâmpago, 2010: 143). A má relação pessoal foi acompanhada pela recusa de Cesariny reconhecer no trabalho pictórico de Vieira, saído do Café Gelo, qualquer afinidade ao seu. É o que está em carta para Ana Hatherly (27-2-1969; inédita, espólio A. Hatherly B.N.P.).
Seixas escapara à tangente de ser processado em 1965, pois fora ele o ilustrador da Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica, organizada por Natália Correia e processada no final de 1965. No seguimento deste caso não esperado, já que Natália era personalidade conhecida e influente, Seixas acabou por recusar fazer os desenhos para a edição portuguesa do romance de Sade, A filosofia na alcova, que foram entregues então a João Rodrigues. Poucos dias depois de aparecer, no final de Março de 1966, o romance foi apreendido e editor, tradutor, prefaciador e ilustrador do livro processados. No quadro destes ameaçadores processos a revista Abjecção, imaginada e tutelada por Seixas, cai.
A vinda de Nora Mitrani a Lisboa deu-se (também) por razões familiares e não (apenas) por iniciativa do grupo surrealista de Paris e de Breton. De origem romena, tinha família próxima a viver em Portugal. É provável que concebesse para a sua viagem propósitos jornalísticos, acabando por viajar no interior do país para recolher elementos. De feito, de regresso a França, acabou por publicar na grande imprensa, sob pseudónimo, Daniel Gautier, reportagens jornalísticas sobre o país. Os seus contactos com o G.S.L. aconteceram no quadro desta viagem mas terão sido limitados, até porque o grupo na altura, Janeiro de 1950, estava quase inactivo. A edição da sua conferência na Casa das Beiras, La raison ardente (du romantisme au surréalisme, que aconteceu em 12 de Janeiro, e logo de imediato traduzida para português por Alexandre O’Neill, foi com certeza o último gesto visível do grupo. A edição é o quinto e último caderno dado a lume pelo grupo. No seu regresso a Paris e nas conversas com Breton terá falado muito mais de Fernando Pessoa, cuja poesia descobriu em Lisboa, e muito menos das actividades surrealistas em Lisboa. Publicou mesmo um estudo sobre a poesia de Pessoa numa revista da época (Le surréalisme même, n.º 2, 1957). O seu contacto com a poesia do autor de Mensagem aconteceu por intermédio de O’Neill mas também de Casais Monteiro, com quem se relacionou e que era então editor e estudioso de Pessoa. As relações entre Nora e Casais Monteiro estão documentadas numa carta de Nora para este de 24-9-1951 (inédita; espólio A. Casais Monteiro, B.N.P.). Aí o trata de “Cher Ami”, dando a ver que o conhece – o que só pode ter acontecido na viagem do início do ano e dadas as boas relações que António Pedro mantinha com Casais Monteiro.
A visão de Cesariny sobre Nora Mitrani ficou explanada num texto dos anos 80 (Semanário, 29-8-1987). Nesse texto se informa que Nora esteve entre nós algumas semanas e ao mesmo tempo que Simon Watson Taylor, do grupo de Londres. Dá a entender que André Breton a teria enviado para esclarecer a cisão acontecida no G.S.L. em 1949 e a informação que Pedro e os seus amigos teriam então enviado para Paris. Cito (idem): O grupo esclareceu [a minha posição] da seguinte maneira: “ce garçon (eu) est un pédéraste”, pelo que não era só um grande bem, era um saudável alívio eu ter saído do grupo. Daqui para a frente nunca mais ninguém percebeu nada ou quis fosse o que fosse, em França, do surrealismo em Portugal, e houve de esperar-se 30 anos até que com Édouard Jaguer e o movimento e a revista Phases, em Paris, começasse a perceber-se alguma coisa. Mas enquanto percebe-não-percebe, desliga-não-desliga, veio Nora Mitrani ver se percebia. Que Alexandre O’Neill não era pederasta, acho que percebeu. Quanto ao mais, que ainda era bastante, não viu nada. No depoimento que me deu Bernardo Pinto de Almeida confirmou esta versão das relações do G.S.L. com André Breton e o restante grupo de Paris: Ele [Cesariny] não gostava do Pedro, é certo, porque o sabia envolvido com a extrema-direita de Rolão Preto pouco antes de acordar surrealista, e porque achava, e disse-mo, que o Pedro teria dito, d’ “Os Surrealistas”, ao Breton, que “ces garçons là sont des pédés”, sabendo da aversão do Breton pelos homossexuais. E isso – achava ele – teria estado na origem do fim de uma relação que eles procuravam ter com o grupo francês. Era uma suspeita do Mário que ele baseava não sei em que testemunho, mas repetidamente ma contou.
Em todo o processo escolar de Cesariny, seja no Liceu Gil Vicente, seja depois nos anos em que se inscreveu na escola António Arroio, de 1935 a 1942, não há uma única disciplina de inglês feita ou frequentada. Significa que quando chegou a Londres nem o trivial sabia desta língua. No entanto, no boletim de inscrição que entregou na Fundação C. Gulbenkian em 10-3-1964, antes portanto da sua primeira chegada a Londres em Junho desse ano, ele responde assim à pergunta “quais as línguas que conhece”: “francês, espanhol (inglês, mais deficientemente)”.
Para a leitura d’ A cidade queimada na cave da livraria Divulgação há o testemunho de João Miguel Fernandes Jorge (“Não sei se são padres”, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, nº 9, Abril-Junho, 1988). O registo é valioso para se perceber o que se passou na sessão, que teve lugar sábado, dia 15-1-1966, e até para se conhecer o modo anti-retórico, secreto e oracular, com que Cesariny oralizava a poesia (idem): Um dia fui à cave duma livraria na Rua de Dona Estefânia. Cesariny ia apresentar A cidade queimada. Apenas movia os lábios e penso que leu os poemas. Na sala gritavam-lhe “mais alto”, “mais alto”. Ele continuava movendo os lábios e muito baixinho dizia-os.
Helder Macedo alude assim à morada de Dácio em Londres, em 1964 (revista Relâmpago, 2010: 145): (…) o Ricarte Dácio, que estava em Londres disfarçado de funcionário diplomático e a morar numa ampla vivenda perto do Harrods. Luís Amorim de Sousa no depoimento escrito que me deu refere-se-lhe assim: O Dácio, que eu também conheci, era um tipo complicado. Era então funcionário da Casa de Portugal, tinha uma enorme biblioteca dedicada ao mundo do surrealismo (…). Era um grande admirador do Mário e não só o alojou no seu apartamento londrino, para os lados de Knightsbridge, como o ajudou monetariamente.
Para o retrato de Dácio em Londres em 1964 e 1965 leia-se ainda o que Cesariny disse muitos anos depois em entrevista, associando-lhe os dados que estiveram na origem da tragédia de 1995 (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): Ricarte-Dácio que me recebeu em Londres magnificamente, com magnificência, não é que ele tivesse muito dinheiro, mas a mãe mandava, e ele dizia: “Mário chegou cacau!” (ri) Tinha gosto em… na vida grande. Esteve sempre habituado a uma vida em bom, a casa dele em Londres foi onde eu estive dois anos, era no melhor bairro de Londres, em Knights Bridge. Quando veio para cá – a mãe já tinha morrido – já não tinha dinheiro para pagar sequer o colégio do filho – que estava no colégio francês, ou qualquer coisa assim (…).
O relatório de estudos feito em Londres, em Maio de 1965 (cinco pp. dactilografadas que deram entrada na Fundação C. Culbenkian em 5-5-1965) foi publicado no livro Gatos comunicantes – correspondência entre Vieira da Silva e Mário Cesariny 1953-1985, 2008: 75-77). Importante também para se perceber o trabalho desenvolvido nesse ano de Londres é a cartas que escreveu nesse mesmo ano (1-9-1965; inédita) a Artur Nobre Gusmão, responsável do serviço de Belas Artes da Fundação. Fala aí do encontro de Vieira com a ponte de Marselha e com os mosaicos de Ravenna e da necessidade de conhecer estes. A parte mais decisiva dessa carta é porém o derradeiro parágrafo onde fala do “voo imóvel da filosofia tradicional asiática” e da “teoria do duplo em certos primitivos africanos”, o que prova que já nesta altura ele estava, ou se pôs, na pista das teorias xamânicas que tantas consequências tiveram no final dessa década para o seu mergulho na experiência poética de Teixeira de Pascoaes. As cartas posteriores a Nobre Gusmão (5-4-1966; 29-4-1966) valem sobretudo para a evolução do processo no seu regresso a Lisboa em Fevereiro ou Março de 1966.
A relação de Francisco Aranda com Manolo Rodriguez Mateos remonta pelo menos a 1963 como se vê na carta a Seixas de 21-4-2001, em que ele fala da viagem de ambos a Marraquexe em cima duma “scotter”. O grande apreço que Cesariny tinha por Aranda está em carta de Manolo Rodriguez Mateos a Cesariny (11-11-1999; inédita; arquivo U.É.) em que ele lhe lembra o modo como tratava Pepe Aranda – “O Príncipe!”
Sobre o “realismo” da poesia de Cesariny acrescente-se que aqueles dois versos de abertura de Corpo visível, que tanto têm sido aduzidos como prova da sua adesão ao real, foram por ele apresentados como limpos de referentes exteriores e decalcando apenas o “disparo inicial, fonético e sintáctico de Fata Morgana” (v. A Phala – Um século de poesia (1888-1988), boletim da editora Assírio & Alvim, 1988).
7 A LINHA AZUL
Luiz Pacheco escreveu a 16-10-1961 numa pensão de Braga O libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor. No mesmo dia, escreveu o seguinte postal para Mário Cesariny (rep. revista A Ideia, 2016: 15): Mano/ Acabei o m/ texto (inédito) para a antologia Sur-Abjeccionista. Tem 46 páginas de má letra. Trata: Um Libertino em Braga, a Episcopal. Só é permitida a publicação por extenso. Clú da reportagem: un jeune homme acoste para Pacheco, avec des jolis raisons. Entretanto, quarenta mil virgens o tentavam. (…) Um abraço casto D. da C. [Delfim da Costa].
Sobre a intervenção de Robert Bréchon a favor de Cesariny há passo de carta de Cesariny para Vieira da Silva (26-1-1965, Gatos comunicantes – correspondência entre Vieira da Silva e Mário Cesariny 1953-1985, 2008: 63): Para o meu regresso [a França], andam várias pessoas a trabalhar, incluindo o Director do Instituto Francês em Portugal, Robert Bréchon, que eu não conheço, e que se solidarizou admiravelmente comigo, sem que eu lhe tivesse dito ou pedido nada (…). Também na correspondência para Natália Correia existem copiosos elementos sobre o assunto numa carta escrita de Londres (?-1-1965; inédita; B.NP./Biblioteca Pública de Ponta Delgada): Quero dizer-lhe que já escrevi ao Bréchon a agradecer muito, e não só: pedindo-lhe que interferisse, se pudesse, para uma próxima ida minha a França. Não estou em morte de amores por aquilo. Sob quasi todos os aspectos, brrrrr… Mas tenho um Vieira da Silva para escrever (escreverei?) e Paris no itinerário. A Natália podia dar um bocadinho à bomba, junto do Bréchon, para tal e tanto. Fritzi e Pomerand ficaram de tratar disso, mas nada me diz que, feitas todas as contas, não estejam os dois numa grande alegria chinesa a rebolar de gozo, bem livres de mim (pensam eles) por vinte anos. Eu é que sei? Coitados deles. Deveu pois a Robert Bréchon não ter sido expulso do país quando saiu de Fresnes e ainda a possibilidade de regressar ao país sem entraves. Intervieram junto do Director do Instituto Francês em Portugal Isabel Meyrelles e tudo leva a crer Natália Correia.
Mello e Castro deu à revista A Ideia um testemunho sobre processo da Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica, processada no final de 1965 mas só julgada no Inverno de 1970. Notou a ausência de Mário Cesariny do julgamento, que se fez representar por Luso Soares.
A correspondência de Pedro Oom a Mário Cesariny de Março de 1968, dada a conhecer pelo destinatário no folheto Edições esquentamento – colecção blenorragia, n.º 1,tem importantes elementos para as cisões que então tiveram lugar no grupo que em Lisboa gravitava em torno do surrealismo. Contém informação sobre as relações de Ricarte-Dácio e Cesariny na época que antecedeu o julgamento da edição do romance de Sade por Ribeiro de Mello e que já não seriam o que haviam sido dois anos antes em Londres. Chega-se mesmo a passar a ideia de que Cesariny não assinou a folha de 1967, “Sobre Sade diga-se que:” para não ver o seu nome associado a Dácio. O facto de Pedro Oom também não ter assinado a folha ajudou a manter o equilíbrio entre os dois, que veio depois a sofrer um ligeiríssimo sismo no momento da saída da colectânea Grifo (1970), em que Oom colaborou e Cesariny se recusou. Ficou registo do abalo em nota de rodapé da primeira edição de As mãos na água… (1972: 117). Uma das últimas fotografias de Pedro Oom, de barba preta cerrada e óculos escuros quadrangulares, surge no suplemento “artes e letras” do jornal República (1-2-1973) ao lado de Carlos Martins, Lud e outros, como fazendo parte do Grupo (de passagem) Surrealista de Sacavém. Morria cerca de 14 meses depois.
As relações entre Cesariny e Ernesto Sampaio também foram afectadas na Primavera de 1968. No ano seguinte o autor de Pena capital recusou entrar na Antologia do humor português, organizada por Sampaio e Martinho, que não ligaram à recusa e o incluíram, do que ele se queixou com um encolher de ombros (A Capital, 19-8-1970; texto recolhido em As mãos na água…). Castigou o livro numa carta para Natália Correia (15-7-1970; inédita; B.N.P./Biblioteca Pública de Ponta Delgada): lista telefónica–dentadura–antóloga–conjunção–parágrafo–pingente–editor–Mello–Virgílio Martinho–Sampaio para o grande e triste aborto de todas as coisas que corre pelo nome de “Antologia do Humor Português”. Quando saiu o número de estreia da revista Sema, na Primavera de 1979, com uma pasta dedicada ao surrealismo, muito devedora do caderno que Tabucchi acabara de fazer em Pisa, ele escreveu aos directores da revista uma carta, “Aos directores e proprietários da revista Sema”, em que aproveitou para se meter de raspão com Sampaio, um dos colaboradores (1979; folha fotocopiada): E isto em relação ao texto trágico-cómico do Professor Ernesto Sampaio, mais conhecido por Ratinho Pico, ou o Doido dos Poiais (…). Meia dúzia de anos depois, em carta a Simone e Édouard Jaguer, Seixas dá a seguinte informação sobre as relações de Cesariny e Sampaio (29-1-1985; inédita; arquivo U.É.): Verdade que outros companheiros dos anos 50/60 de quando eu estive ausente em África o vieram a abandonar, como o Virgílio Martinho ou o Ernesto Sampaio. Ainda na década de 80 reconciliaram-se e o autor de Luz central participou em 1988 com um texto de homenagem ao poeta de Pena capital no boletim da editora Assírio & Alvim (A Phala, nº 9, Abril-Junho, 1988) – o que nunca aconteceu com Virgílio Martinho ou mesmo com Ricarte Dácio que não mais voltaram a escrever sobre Cesariny.
O mal-estar no grupo vinha já de 1966, altura em que a repressão se abateu sobre ele, com dois processos judiciais implacáveis, o da Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica e o da edição do romance de Sade, de resto muito presente na folha que Cesariny publicará em Maio de 1968. Para se perceber o clima no seio do grupo no Verão de 1966, veja-se uma carta de Seixas a um seu amigo, Victor Jorge Figueira, então na Escola de Fuzileiro, no Vale do Zebro, Barreiro (16-8-1966; inédita; arquivo U.É.): Quarta-feira [dia 10-8-1966] realizou-se afinal o tal jantar de anos do Mário. Éramos 8 ao todo: o Ernesto Sampaio e a mulher Fernanda Alves, o Virgílio Martinho, o Forte, a Isabel, O Mário, o Dácio e este teu amigo. A Kitty não estava. Adoeceu e teve que regressar apressadamente a Londres. Aquilo não deu nada. Conversa desinteressante e terríveis desacordos. Toda a noite isto ou seja como de costume até às 4 da manhã. Depois de jantar andámos um bocado pelas ruas e depois fomos para a casa do Ernesto Sampaio. O Mário como sempre a provocar propositadamente a maior desarmonia; eu muito calado em desacordo com gregos e troianos, sabendo embora que ambos têm razão… Enfim meu querido uma noite das mais chatas.
A abertura da folha volante de Maio de 1968 de Cesariny é significativa do clima de confronto aberto que então se vivia entre ele e Pacheco, que retomara as críticas ao livro A intervenção surrealista e vinha de publicar “Da Intervenção à abjecção” (J.N., 23-5-1968): O Pacheco cretino quer que eu seja o Papa dele e está com muitas saudades do tempo em que ele julgava que eu era isso. E soluça o coitado despapado (…) E isto assim porquê? Por causa dos tomates. Para Papa (…), para Papa, é preciso tomate, do bom, do muito rugoso, e eu pobre de mim, o mais que tenho são umas avelãzitas. Antigamente sim, há vinte anos, carambas, diz a Luisona. E vá de mostrar as minhas transformações num jornal de gralhas que há no Porto.
O boletim de inscrição para candidatura a nova bolsa do serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian foi entregue a 30 de Março de 1968. O projecto foi pensado durante a estadia na Casa de Pascoaes que fez no meado do mês. Em carta então escrita para Seixas há referência à intenção de fazer o pedido de bolsa no regresso a Lisboa (23-3-1968, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 262). Confirma nesse pedido que a irmã Henriette vive na casa da Rua Basílio Teles e indica ter ficado “isento” do serviço militar (os boletins anteriores não pediam “situação militar”). Não mostra intenção de deixar o país e tudo o que pretende é ter possibilidades materiais para se dedicar à pintura em Lisboa, mostrando que pode evoluir tanto na pintura como na poesia. “Os versos são mais baratos”, tão baratos que no caso dele nem mesmo o lápis e o papel eram precisos, enquanto a pintura pedia dinheiro “para ateliê, grades, telas, tintas e todos os mais acessórios indispensáveis”. Conclui pois pedindo “um amparo material” que lhe permita “o aprofundamento mais liberto” da sua “actividade como pintor”. No “cvrricvlvm vitae” toma a exposição de 1958 na galeria Diário de Notícias, em Lisboa, como a sua primeira individual, sendo a última a de Janeiro de 1967 na galeria da Livraria Buchholz. O pedido foi negado por Maria do Carmo Marques da Silva com base no artigo 6º do cap. III do Regulamento (“só poderão candidatar-se decorridos três anos sobre o termo da última bolsa”). A necessidade de sair do país só se impôs pois no rescaldo das grandes e cruzadas escaramuças que tiveram lugar em Maio de 1968 com a folha acusatória de Virgílio Martinho, o artigo do J.N. de Pacheco, a folha volante de Cesariny e a réplica algo homófoba de Ribeiro de Mello já de Junho.
A história da estadia de Cesariny junto do casal Macedo em Londres, a sua exclamação de desagrado quando soube da ida de Helder ao aeroporto esperar Jorge de Sena e o seu amuo na noite em que Sena esteve no andar da Avenida Fitzjohn estão documentados no testemunho que o anfitrião deu à revista Relâmpago (n.º 26, 2010) e foram confirmados comigo em contactos escritos. A mudança do casal Macedo para o novo apartamento – “flat 9, 21 Fitzjohn´s Avenue, N.W.3” – deu-se no final de Novembro de 1966, como se lê numa carta de Helder para Ana Hatherly (9-11-1966; inédita; espólio A. Hatherly B.N.P.).
A versão de Luís Amorim de Sousa sobre a saída de Cesariny da casa de Macedo (v. Londres e companhia, 2004: 209) pode contraditar a de Helder Macedo. Segundo Amorim de Sousa, a razão da saída de Cesariny de casa do casal Macedo deveu-se à chegada próxima de Sena. O casal queria ficar livre para receber o poeta de Fidelidade. Tudo prova que não foi assim. A saída deu-se no rescaldo de episódios vividos com Sena já em Londres e que afectaram a relação de Cesariny com o casal.
Para a estadia em casa de Luís Amorim de Sousa tenho o testemunho que ele me deu: Uma coisa que eu notei durante o tempo em que o Mário esteve a viver na minha casa, num prédio onde morei em duas épocas diferentes, e onde também morou o Bartolomeu [Cid] dos Santos e ainda mora a Paula Rego, foi que o Mário era trabalhador, mantinha horas mais ou menos regulares, nunca chegou a altas horas da noite e escrevia muitas cartas. Nunca chegavam telefonemas para o Mário. (…) Na minha casa traduziu Rimbaud, escreveu alguns dos “Poemas de Londres” e trocou cartas com Octávio Paz. Lá fez uma descoberta que achou sensacional. Num poema de Rimbaud encontrou a palavra “spunk”. Palavra inglesa cujo significado desconhecia. Disse-lhe eu que essa palavra, para os ingleses, tinha dois significados: vigor e esperma, langonha. O Mário soltou um aaaaah prolongado e foi a correr para o quarto para voltar à tradução.
A saída de Hampstead para a Rua Sidney no final de Dezembro de 1968 comprova-se pela carta que então enviou para a casa de Pascoaes, já com a nova morada (Cartas para a Casa de P., 2012: 33 e 133). Luís Amorim de Sousa falou sempre duma estadia de quatro meses de Cesariny em sua casa (v. revista Relâmpago, n.º 26, 2010: 154) mas essa permanência passou apenas dos três meses. Em 13 de Setembro ainda estava em casa do casal Macedo – escreveu nesse dia carta para Seixas com a morada da Fitzjohn´s Avenue – e em 26/27 de Dezembro já estava na Rua Sidney, onde se cruzou com Ana Hatherly. A correspondência que trocou de seguida com esta, sobretudo a carta de 19-1-1969, permite inferir que habitaram a mesma casa durante um curto período de tempo. Cesariny chegou mesmo a dizer-lhe na carta de 31-1-1969 (inédita; espólio A. Hatherly B.N.P.): Esta casa sem você não faz sentido. Essa correspondência é ainda valiosa para determinar o período de tempo que passou na Escócia com Bruno da Ponte e Clara Queirós e ainda para a existência dum segundo endereço em Fevereiro: “21, Hereford House 370, Fulham Road, London SW 10”, onde ainda passou alguns dias. Presente nesta correspondência está Jasmim de Matos e o grupo com quem ele se dava em Londres (António Sena e a mulher deste). Sobre Jasmim de Matos tenho este testemunho pessoal de Luís Amorim de Sousa: O Mário gostava muito do Jasmim, Jasmim de Matos (…). Cesariny conhecia Ana Hatherly desde o final da década de 50 – o encontro no salão de Natália Correia está documentado nas cartas – mas só nesta época teve uma aproximação decisiva. Leu então O mestre de que muito gostou (12-1-1969; idem): Parece-me que O mestre é um livro notável. Ao contrário do que a Ana me disse, não vejo nada a mais, talvez cinco ou seis linhas. Chegou a pintar nesta altura homenagem ao livro. Mais tarde, num “comunicado” de Fevereiro de 1973 que a imprensa diária de Lisboa reproduziu, considerou o trabalho de Ana Hatherly dentro do surrealismo, o que desagradou à autora, que em carta lhe contestou assim (19-2-1973; inédita; espólio de A. Hatherly B.N.P.): Quanto à notícia já o Areal me tinha trazido. Sei que se levantaram na cidade grandes clamores de protesto. Eu pergunto apenas; qual é a sua intenção ao fazer uma declaração/classificação dessas? (…) Eu por exemplo nunca pratiquei nenhum dos princípios do surrealismo, pelo contrário, e, como já comunicara ao Cruzeiro Seixas, só “sofro” dos seus reflexos por ter vindo depois dele. A relação entre os dois pode ter esfriado depois deste episódio e Ana Hatherly não mais apareceu integrada nas estirpes surrealistas que Cesariny ainda desenhou. Tudo aponta para que a correspondência entre os dois tenha deixado de existir depois de Junho de 1974.
A chegada de Seixas à galeria S. Mamede (assim como as realizações e o seu fim) foi contada pelo próprio em entrevista (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Eu trouxe muito pouco dinheiro de África, tinha-me negado a combater. Tinha feito uma colecção de arte negra e fui obrigada a vendê-la ao Manuel Vinhas. Pedi-lhe se me arranjava trabalho e ele, na sequência disso, deu-me um bilhetinho. Fui procurar o Pereira Coutinho pai, da S. Mamede, que me perguntou com ar de patrão: “ O senhor vem para cá como manga-de-alpaca? Os surrealistas ou lá o que é isso eu não quero aqui!” Disse-lhe que sim a tudo e daí a um tempo ele passeava diante da minha mesa queixando-se de que o negócio não dava nada. Sugeri levar para lá alguns pintores e ele permitiu. Era o Mário Cesariny, a Paula Rego, o Areal, o Calvet, toda aquela gente sensacional. Então a S. Mamede passou a responder inteiramente ao surrealismo. (…) Afinal o manga-de-alpaca passou a ser director da galeria que queria tornar possível o seu grande sonho, trazer para Portugal exposições de alto nível internacional. Ainda fiz o Michaux. Depois veio o 25 de Abril e aquela festa acabou.
As contas da exposição de Maio de 1969 na galeria S. Mamede são muito modestas se comparadas por exemplo com as contas da exposição que ele fez na mesma galeria em Março de 1981. A relação das despesas e das entradas tem na primeira uma proporção de um para três e na segunda, com um investimento inicial muito maior, é quase de um para seis. Já na exposição de Fevereiro de 1973 a relação era quase de um para quatro (custos na ordem dos 50.000 escudos em cocktail, catálogos, mecanismo de rotação dum quadro, fotocópias, molduras… e vendas na casa dos 200.000 escudos). O pequeno sucesso da exposição de Maio de 1969 abriu-lhe porém caminho para fazer o primeiro contrato de exclusividade com uma galeria, contrato planeado no segundo semestre de 1971 e concretizado por acto notarial a 11-3-1972, com começo retroactivo no primeiro dia do ano. Foi renovado em 1-10-1973 por dois anos mas a revolução de 1974 deitou-o por terra.
8 SUBVERSÃO INTERNACIONAL
A fonte para os contactos entre Laurens e Cesariny está no livro que o primeiro publicou e posfaciou (Um rio à beira do rio – cartas para Frida e Laurens Vancrevel, 2017) e nos vários testemunhos escritos que me deu, falando-me da relação com Cesariny, das estadias deste em Amesterdão e das suas viagens com Frida a Portugal.
“Le quatrième chant”, texto de Jean Schuster no Le Monde (4-10-1969), tomou nome a partir duma citação dos Cantos de Lautréamont. Publicado no suplemento literário do jornal (p. IV) com bastos cortes, só foi dado na íntegra no volume Tracts surréalistes et déclarations collectives (1922-1969). Coloca em Janeiro de 1969 a última manifestação do surrealismo organizado (1982: 293): O n.º 7 de L’Archibras, datado de 1969 mas fechado em Janeiro, é a última manifestação do surrealismo como movimento organizado em França. Em Fevereiro tiveram lugar as violentas discussões internas que levaram ao rasgão com cinco membros a assinarem um manifesto de despedida, “Aux grands oublieurs, salut!” e 27 a replicarem no mês seguinte com “SAS”. Na origem da dissensão esteve a figura de Schuster, testamentário de André Breton e ensaísta vigoroso, que não assinando a declaração de Fevereiro acabou por publicar no jornal Le Monde o texto “Le quatrième chant”, onde pretende dar por encerrada a etapa histórica do surrealismo. Texto informado e lúcido em muitos pontos – veja-se por exemplo a sua homenagem inicial a André Breton –, é porém duma injustificada precipitação no que à história do movimento respeita, centrando-a em exclusivo em suspeitos interesses de então, a coincidirem com os projectos pessoais dele, como a revista Coupure a surgir no final de Setembro e que foi anunciada no texto do Le Monde como o embrião da nova etapa que se seguia historicamente ao surrealismo. Compreende-se que Mário Cesariny não tenha incluído o texto na sua colectânea de 1977, Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial, ficando até hoje sem tradução em português.
A exposição de S. Paulo, em Agosto 1967 teve quatro organizadores – três brasileiros e um francês (Sergio Lima, Leila Ferraz, Paulo António de Paranaguá e Vincent Bounoure). Daí as colaborações do grupo francês no catálogo ocuparem quase metade do volume, incluindo um comunicado do grupo francês, “Chirologie surréaliste”, assinado ainda por Jean Schuster (ao lado de Vincento Bounoure), datado de 11-4-1967 e dado na língua de origem. O organizador da parte francesa, Bounoure, veio a ser o contacto privilegiado de Cesariny em Paris em Fevereiro e Março de 1970, quando lá foi com Francisco Pereira Coutinho. Nas cartas inéditas de Mário Cesariny para o galerista existem alusões aos quadros de Vieira que este queria comprar.
As relações com Luso Soares na segunda metade da década de 60 foram próximas. Cesariny foi um dos colaboradores da revista Cronos que este advogado fundou com Mário Dias Ramos e que publicou cinco números entre 1965 e 1970. No derradeiro, dedicado ao teatro, apareceu uma peça dele, “O processo”, datada de “Dezembro 65-Fevereiro 66”, que depois, com muitas alterações e sem a indicação inicial aos actores, veio a ser o poema “Inquérito”, incluído n’ “Os poemas de Londres”. No espólio de Luso Soares existe ainda o original dactilografado com as muitas emendas à mão feitas por Cesariny. O mesmo para o poema “Projecto de rebelião” que veio depois a ser recolhido também com alterações, até de título, no livro Primavera autónoma das estradas, e que foi inicialmente dado nessa revista (n.º 4) de Luso Soares.
Para o botequim do Largo da Graça e os anos que Isabel Meyrelles passou em Lisboa, deixando o seu andar da Rua de Savoie ao cuidado do casal Margarido, lembre-se a sociedade “ Correia & Meireles”, que fez a gestão dessa casa e que foi o motivo da zanga entre Natália e Isabel, que se conheciam e adoravam desde a década de 40.
Alfredo Margarido tinha relações antigas com Carlos Eurico da Costa – organizou com ele no início da década de 50 uma antologia poética, Doze jovens poetas portugueses (Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Saúde, 1953) – e com Seixas, com quem fizera a segunda exposição surrealista de Luanda em 1957. Os seus contactos com Cesariny datavam do Café Gelo, onde Margarido aparecia de quando em quando, chegando a colaborar no número 3 da revista Pirâmide (Dezembro, 1960).
Sobre a pobreza de Cesariny e da sua família depois da saída de Viriato de Vasconcelos de casa há o seguinte testemunho de Luiz Pacheco, que conheceu bem a casa da Rua Basílio Teles no início da década de 50, altura em que teve um quarto na Palhavã e foi vizinho do poeta que então puxou para a Contraponto (O crocodilo que voa, 2008:147): O gajo vivia num ambiente triste – ele dizia que lá em casa havia um ovo cozido para três. Era uma miséria. E depois a mãe e a irmã eram muito chatas com a panasquice do gajo.
A fonte para a visita dos Vancrevel a Lisboa em 24-6-1970, o encontro com Cesariny e Seixas, a visita a Sesimbra e as conversas que tiveram, é o posfácio de Laurens Vancrevel ao livro Cartas para F. e L. Vancrevel (2017: 447-468), onde a viagem está registada com muito pormenor.
A exposição de Rimbaud em 1971 na Galeria S. Mamede voltou a ter um retorno financeiro muito próximo daquilo que acontecera em Maio de 1969 (v. arquivo galeria S. Mamede). Isso deu garantias ao galerista de que nunca perderia dinheiro com o pintor e abriu em definitivo o caminho para a realização do contrato de exclusividade que teve o seu início em 1-1-1972. Numa entrevista à revista Flama (9-3-1973) ele dirá: “Aos 49 anos (tenho 50) assinei pela primeira vez um contrato exclusivo com uma galeria”. Na verdade no momento da entrevista tinha ainda 49 anos – só faria o meio século em Agosto – e no momento da assinatura do primeiro contrato com Pereira Coutinho, em 11-3-1972, tinha 48 anos.
O Diário da Manhã, órgão noticioso do regime, não constava da lista de contactos da galeria S. Mamede. Mas Fernando Pamplona, que aí fazia crítica de arte, recebia a publicidade da galeria no endereço da Emissora Nacional, que esta, sim, constava dos contactos (v. arquivo da galeria de S. Mamede).
O lançamento da nova edição das traduções de Rimbaud na S. Mamede em Abril de 1972 teve eco forte na imprensa da época com textos de Fernando Assis Pacheco (República), de Vera Lagoa (D.P.) e Vitor Silva Tavares (D.L.).
Para os três cadernos de capa vermelha (1971, 1972, 1974) editados por Seixas e Cesariny na época da galeria de Pereira Coutinho existem alguns elementos sobre o segundo caderno, que foi lançado nesta galeria em 25-7-1972. O preço de venda de cada exemplar foi de 140 escudos e o galerista fez contas de 13 exemplares vendidos nessa noite (arquivo da galeria). No espólio de Cruzeiro Seixas na B.N.P. existe carta inédita de Cesariny (3-10-1972) com as contas do folheto. Tem o documento do pagamento à tipografia Peres de Lisboa que o produziu (350 exemplares c/ 28 pp. e capa em mata-borrão, 8.132$00) e as entradas de dinheiro (cerca de 12.000$00). Três exemplares especiais, com desenhos originais de Cesariny, Seixas e João Vasconcelos, foram vendidos a um coleccionador por 10.000 escudos. É provável que os elementos relativos aos outros dois cadernos, que desconheço, não sejam tão positivos. Seixas sempre me afirmou que no conjunto perderam dinheiro e que a edição foi feita pela necessidade de afirmar uma posição e não com olho na venda. No espólio de Seixas da B.N.P. existe um conjunto de provas tipográficas do caderno de 1972 e ainda uma cópia em carbono do original dactilografado, com emendas do compilador (Cesariny).
Mário Henrique Leiria já em 1949 escrevia a Cesariny o seguinte (20-10-1949; Maria de Fátima Marinho, 1986: 665): Estou, possivelmente, a caminho duma posição anarquista declarada. Radicalizou sempre as suas posições. Os Contos do Gin-Tonic são de 1973 e estava então a preparar a edição do livro. As relações de Cesariny e Leiria foram sempre boas – é ele, Cesariny, que prefacia a edição em 1974 do poema Imagem devolvida de Leiria – e as de Seixas com Leiria são talvez ainda mais próximas e calorosas. Leia-se este passo duma carta de Seixas escrita pouco depois do regresso de Leiria (14-10-1972; inédita; arquivo U.É.): Meu muito querido Amigo, não fôramos nós criaturas nascidas tão e tantos “moralistas”, e outro e de todos os momentos seria o entendimento entre nós. (…) Isto, Mário Henrique, quanto à enorme amizade que também eu te tenho, e que, podes crer, é sincera, velha, e só desejava ser “ideal” no futuro, sabendo embora que isso nos é impossível. (…) Do Mário sei eu mais do que suficiente, como podes calcular. É de mim que falo desde que comecei este bilhete? É dele? É de nós três? (…) Sabes, querido Amigo, eu vivo suicidado (…). Gostava de passar por aí já hoje, mas é completamente impossível. O abraço é que segue agora, enorme e todo em profundidade, meu muito querido e velho Amigo.
Além dos contactos escritos com Laurens Vancrevel, as fontes para a primeira viagem de Cesariny à Holanda e Amesterdão no Verão e Outono de 1972 estão nas cartas que então escreveu para Seixas e na troca de correspondência com Frida e Laurens antes e depois da viagem (v. Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 97-112).
A segunda viagem a Amesterdão, em Janeiro de 1973, ao serviço de Pereira Coutinho, foi recordada por Cesariny mais de 15 anos depois numa carta a Laurens e a Frida (?-6-1989; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 396): Lembro-me tão bem de kristians Tonny – o pássaro de bico amarelo –, de Van Leusden, da sua mão direita, enorme, e da voz que me dizia que o desenho que eu lhe queria comprar “tinha de ser caro”, pois, “veja todo esse trabalho…”. E o desenho era magnífico, e nem sequer era caro, não era mesmo! A lembrança de Moesman não me traz saudades… Não sei porquê. Ele era, ou parecia, muito ou demasiado seguro de si, não era? Mas lembro-me muito bem da conversa entre ele e Laurens, na casa dele. Moesman era enorme! Eu não compreendia nem uma palavra, mas a música era extraordinária, parecia vir dum cravo construído em cristal. E eu quase a sonhar com a audição da vossa “ópera surrealista”. Alguém a gravou? A não exposição dos trabalhos comprados com tanto empenho em Janeiro de 1973 levou a que Laurens numa carta para Seixas mostrasse o seu desagrado (7-9-1973; inédita; espólio Cruzeiro Seixas B.N.P.): Nous tous sommes très déçus para le Saint-Mamede, et de ce qu’il ne veut pas de nous. Il doit être imbécile.
Cesariny não conduzia automóvel mas tudo leva a crer que sabia andar de bicicleta. Em carta para Cruzeiro Seixas encontra-se este parágrafo (26/27-3-1950; Cartas de M.C. para C.S., 2014: 73): Após o que vinda a Esposende (paisagem lindíssima) os dois montados na bicicleta (única) que temos [Cesariny e Carlos Eurico], legada pelo Eduardo, revezando-nos na pedalada. Medo da Guarda. Chegada sem incidentes. Isto a despeito de declaração contrária de Luiz Pacheco em entrevista a propósito do trabalho de ambos na segunda metade da década de 50 no jornal O Volante (O crocodilo que voa, 2008: 109): Esse foi um emprego que o Mário Cesariny de Vasconcelos me arranjou porque estava lá n’ O Volante, o maior e o mais antigo jornal português (…) de automobilismo, aviação e turismo. Ganhava 800 paus, que era o que ganhava o Cesariny (…). Então lá fomos fazer a cobertura da Volta a Portugal em bicicleta. A vantagem que eu tinha sobre o Mário era esta: eu sabia andar de bicicleta e ele não. Cesariny chegou a pedir em 23-8-1973 na escola António Arroio uma “certidão comprovativa do seu aproveitamento” “para fins de carta de condução”.
Tudo parece apontar para que Seixas – que não recorda este pormenor – não tenha estado então em Madrid mas se tenha juntado ao grupo em Lisboa, que viajou assim primeiro para Portugal para só depois seguir para as Canárias. Logo a seguir à viagem, Francisco Aranda diz a Seixas num postal (5-6-1973; inédita; espólio de Cruzeiro Seixas B.N.P.): Aguardo o envio do que me prometeste: depois dos nossos magníficos encontros em Lisboa e Tenerife. Não se fala de qualquer encontro em Madrid, mas apenas Lisboa e Tenerife. Sobre a estadia em Tenerife na Primavera de 1973, Seixas recorda-a com saudade numa carta a Floriano Martins (11-7-2006; inédita; arquivo U.É.): Há muitos anos subi ao cume do Teide com o Aranda e o Cesariny, ainda plenos de esperança e de imaginação.
Para a estadia de Cesariny e Seixas em Londres, em Dezembro de 1973, contei sobretudo com o testemunho oral de Seixas.
A casa de Massamá, um rés-do-chão dum prédio novo a poucos metros da estrada principal que vem de Lisboa e vai para Sintra, foi alugada por Luiz Pacheco no início de Setembro de 1970. Foi aí que transcreveu (com a ajuda de Elsa Isabel, que vivia em Tercena com Grangeio Crespo) e montou as peças do livro Pacheco versus Cesariny, que saiu na segunda metade de Junho de 1974. O Diário remendado tem a seguinte entrada para 16 de Junho: Finalmente, o 1.º exemplar do Pacheco versus Cesariny. Quando soube do golpe militar, na manhã de 25 de Abril, estava a rever as provas finais do livro na casa de Massamá, que só veio a abandonar ao longo de 1976.
A entrada do Diário Remendado sobre a presença de Cesariny na Feira do Livro de 1974 diz assim (7-7-1974; 2005: 174): o Cesariny, segundo relato da Noémia, foi à barraca da Feira do Livro, leu, leu, e só depois comprou: ver para crer, como S. Tomé.
Quanto ao delicado problema da falsificação dum único documento no Jornal do gato, Vitor Silva Tavares foi avisado por carta pelo autor nestes termos (11-11-1974; Edições esquentamento – colecção blenorragia, n.º 1): (…) dizer-lhe que tenho há mais dum mês na tipografia um livrinho de consequência da edição pirata da estampa Pacheco versus Cesariny, e que ou que nesse livrinho há algumas páginas que lhe são dirigidas ineditamente, a si, Vitor Silva Tavares.
Cesariny queixou-se do atraso na edição do livro Os poemas de Luis Buñuel, compilação de Francisco Aranda, na republicação do texto em As mãos na água… (1985: 12). Na correspondência inédita para Natália Correia (B.N.P./Biblioteca Pública de Ponta Delgada) existe carta em que se queixa amargamente do comportamento da editora Arcádia e do atraso na assinatura do contrato para a edição do livro. Chegou então a pensar desistir da edição, dizendo (3-10-1973; inédita): A Santa Clara é possível que volte, pois gosto de ver a Feira, aos sábados; se vou à Editora Arcádia, não vou mais.
9 A PHALA DA REVOLUÇÃO
Sobre a forma como Cesariny guardava o dinheiro há carta para Seixas, antes da ida a Tenerife em que diz (1-5-1973; Cartas de M.C. para C. S., 2014: 295): Coisa que quero pedir-te: na vinda, me trouxesses dez contos, do dinheiro que tenho em casa, trocados em pesetas. Pode ser que em Las Palmas resolva vestir-me, ou revestir-me, de algo espampanante. Em 1973 recebia da galeria S. Mamede as mensalidades fixas de 15.000 escudos mensais. Há outros testemunhos para a forma desinteressada e nada oficial como Cesariny lidava com o dinheiro. Manolo Rodriguez Mateos chegou a testemunhar que ele não usava carteira ou porta-moedas; o dinheiro era um rolo de notas que ele metia e tirava do bolso (informação transmitida por Miguel de Carvalho).
A referência ao encontro com Henrique Ruivo no 1.º de Maio está no texto do catálogo da exposição que a galeria S. Mamede fez em Junho de 1974, no rescaldo do golpe militar de Abril, “Maias para o 25 de Abril”, e que diz assim (As mãos na água…, 1985: 325): Mais exaltante, dramático, o encontro, no dia 1.º de Maio, de alguém que veio até mim e disse: Eu sou o Henrique Ruivo. Agora, há que mandar-lhe este catálogo para Roma.
As cartas de Cesariny a Ana Hatherly voltam a ser uma boa ajuda para determinar a duração do tempo em que esteve fora em Junho de 1974, por força do Festival de Poesia de Roterdão. Em contacto nessa altura com Hatherly por causa da exposição da galeria de S. Mamede, “Maias por 25 de Abril” (foi ela que mediou por exemplo a participação de Jasmim de Matos), informa-a da ida a Roterdão por carta de 15-6-1974, dizendo-lhe que parte a 18, uma terça-feira. A 27 de Junho volta a escrever-lhe para lhe dizer que regressa a Portugal “na próxima terça-feira”, que calhou a 2 de Julho. Partiu numa terça e regressou 15 dias depois numa terça. Por uma carta a Francisco Pereira Coutinho (24-6-1974; inédita; arquivo da galeria S. Mamede) sabe-se que foi passar o dia em que a escreveu com a irmã Carmen a Bruxelas onde o seu cunhado, Francisco Ferrer Caeiro, chefe da missão militar portuguesa da NATO, estava a trabalhar. A irmã festejava o aniversário a 24 de Junho! A carta do final de Junho para Ana Hatherly, talvez a última que lhe escreveu, tem uma reconstituição curiosa de alguns episódios do Festival (arquivo A. Hatherly B.N.P.): O Poetry International foi um louva-a-Deus só faltou o Pasternak quanto ao polaco não o deixaram vir. Mas veio um russo notável expatriado com uma voz de órgão religioso que nos deixou a todos varados. Apareceu no meio um negro lindíssimo que se a teoria da Natália e minha há muito tempo ou há mais tempo fosse à prova de bala seria um grandecíssimo poeta. Afinal não o era tanto começou a gritar como um desalmado a favor dos efectivamente milhares de negros pobres que há em África e em toda a parte não há dúvida que tinha razão poesia talvez não fosse. Eu disse à Frida e ao Laurens como tudo é vário e esquisito aqui está um homem e um corpo e uma voz e uns olhos e mãos que te digo eu além da cor estupenda e afinal não está contente vestido tão bem.
Sobre as relações de Cesariny e Saramago há numa entrevista o seguinte passo (O Independente, 20-5-1988): Ainda não li. Mas pergunto a pessoas de confiança. E tenho duas informações curiosas. Chega-se à oitava página do Saramago e ainda não se viu um ponto final. É a primeira. A segunda é a que diz mal do D. João V. Mas a família real não era nada daquela besteira.
Outro episódio vivido por Mário Cesariny logo a seguir ao golpe militar de 25 de Abril de 1974 está numa carta de Seixas para Bernardo Pinto de Almeida (7-1-1996; inédita; arquivo U.É.): Há um episódio que talvez valha a pena deixar aqui. No dia seguinte à chegada triunfal do Mário Soares vindo de Paris (isto logo após o 25 de Abril) o Álvaro Guerra convidou algumas individualidades para um encontro em sua casa, e eu fui um dos convidados, assim como o Cesariny. Qual não foi porém o meu espanto quando vi, desde logo, a adesão entusiástica do Cesariny ao M.S. e outros heróis que eu achava então tanto ou menos heróis do que ele. Seixas foi sempre crítico da relação de Cesariny com a família Soares, de resto uma relação distante e que nem sequer existiu, a não ser através de José Manuel dos Santos e de João Soares, que editou Textos de afirmação e combate… e se associou por meio da sua editora à edição dalgumas folhas do Bureau Surrealista. Mais tarde, já no final do século, presidente da Câmara de Lisboa, ainda lhe arranjou um ateliê de mais fácil acesso no Bairro do Arco Cego. O caso mereceu a Seixas o seguinte comentário numa carta a Rui Mário Gonçalves (3-9-2000; inédita; arquivo U.É.): Para mim é desgostante qualquer espécie de submissão e particularmente a submissão de Cesariny à família Soares. Sonhará ele ser ministro da cultura quando o Joãozinho for primeiro-ministro?
O período revolucionário que seguiu ao golpe militar do 25 de Abril de 1974 foi assim avaliado por Cesariny 14 anos depois (O Independente, 20-5-1988): O 25 de Abril foi uma revolução ortodoxamente neo-realista, com Óscar Lopes em presidente de Portugal.
Contou a história do seu “auto” levado a palco em Março de 1975 assim (D.N., 1-7-2002): Ainda foi preciso o MFA dar uma ajuda. Foi tudo por causa dos slides, umas coisas chatas, um soldado romano a possuir uma cabra, coisas assim e alguém fez queixa na Câmara. A peça voltou a subir ao palco, já com as alterações que lhe voltou a introduzir na reedição de 1991, sobretudo a homenagem a Raul Leal, por iniciativa de João Grosso e com encenação de Nuno Carinhas na Primavera/Verão de 2002, no Teatro Nacional. Sobre esta pronunciou-se assim na mesma entrevista: O João Grosso teve muita coragem para fazer aquilo, que é um bocadinho antigo. Dei umas indicações ao Nuno Carinhas, que teve a sabedoria de não obedecer a nenhuma e fez uma encenação magnífica.
As relações com o jornal O Diabo entre Agosto e Outubro de 1977 têm sobretudo a ver com Vera Lagoa e não tanto com o jornal – menos ainda com as posições deste, sem prejuízo de algumas, como o anti-estalinismo e o anti-sovietismo exaltado, lhe serem simpáticas como dá a entender numa carta para o casal Vancrevel (30-10-1977; 2017: 204). Ele conhecia Vera Lagoa dos tempos da candidatura de Humberto Delgado e foi com certeza sensível a alguns dos seus bilhetes no D.P., na rubrica “Bisbilhotices”. Um foi-lhe mesmo dedicado, “O que eu vi de Cesariny” (D.P., 22-2-1973). Aí diz Vera Lagoa a propósito da exposição dele na galeria S. Mamede, “11 crucificações em detalhe/ 3 afeições de Zaratrusta/ Retrato de Jean Genet”, que correu entre 15 de Fevereiro e 10 de Março (idem): Reencontrei-me “por dentro” com Cesariny, meu amigo dos tempos em que era censurável com ele conviver. Esta mostra foi a última antes da revolução, só voltando depois disso à pintura e às exposições em 1977/78 na vizinha Rua Nova de S. Mamede, na galeria Tempo, orientada naquela época por Jaime Isidoro e Edgardo Xavier.
A primeira referência que encontro ao poema de Guilgamesh em Cesariny é ainda da década de 60, do primeiro período londrino, e está na segunda versão do poema dedicado a Vieira da Silva em Fevereiro de 1965, “Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva”, tal como ela foi publicada em 1966 no livro de Isabel Meyrelles, Rosto deserto: (…) Guilagamesh (para quem não/ saiba: o primeiro herói lendário/ que também era panasca ou o primeiro panasca/ que também foi herói, para quem saiba. Mais tarde, já na década de 80, concebeu a ideia de fazer uma versão sua, em português, do poema. Para a história desta tradução é ler o depoimento dado por Manuel Rosa (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): “Não se chegou a fazer a sua versão da Epopeia de Guilgamesh porque ele foi arrastando isso durante anos e, por fim, já não tinha paciência; saíram só uns fragmentos em A rosa do mundo – antologia de poesia universal, 2001. Aí há imensas histórias paralelas, há múltiplas versões, múltiplos fragmentos e, no meio das múltiplas pequenas histórias à volta da epopeia de Guilgamesh, o que ele queria era encontrar a sua própria versão: não se tratava de traduzir até porque nunca poderia fazê-lo das línguas originais, só das versões em línguas que conhecia. E tinha algumas boas, recolhidas durante anos.
Sobre o episódio do Grémio Literário contou-o assim alguns anos depois (O Independente, 20-5-1988): Morreu não sei quem e o Salles Lane, com boa vontade, propôs-me [para sócio]. Tentei averiguar se podia lá ir comer à borla. Eu só queria aproveitar para lá ir uma vez por mês… Mas não – é só para pôr um fato giro e ir com os outros. Portanto não me interessou.
Cópia da carta de Salles Lane foi dada a Nicolau Saião, pseudónimo de Francisco Garção, que a divulgou entre os próximos. As relações pessoais com Mário Cesariny começaram em Maio de 1978 mas desde 1973 que tinham notícia um do outro. A propósito da mostra de Fevereiro de 1973 na galeria S. Mamede, em que Cesariny expôs o “retrato de Jean Genet”, Saião publicou num jornal de Portalegre uma resenha, “Novo triunfo novo êxito de Cesariny” (Distrito de Portalegre, 24-2-1973), que ainda hoje está arquivada numa pasta da galeria. Na mesma época Saião colaborou no suplemento “artes e letras” do República (1-2-1973) dedicado ao surreal-abjeccionismo, ao lado de Pedro Oom, Carlos Martins, Lud e outros. Saião apanhou Cesariny em fase de edição acelerada das folhas volantes do Bureau Surrealista e acabou por se lhe associar em algumas. A edição marcante que fez foi Fernando Pessoa Poeta, texto de Mário Cesariny e edição de Nicolau Saião, 25 ex., que foi a comunicação apresentada ao colóquio de Portland, em Fevereiro de 1980, “Surrealism and Anarchism”, organizado por Pietro Ferrua. Nenhum dos dois esteve fisicamente no colóquio por falta de apoio da universidade de Portland. No mês de Maio Cesariny foi ao cineclube de Portalegre a convite de Saião (depoimento pessoal): O Mário deslocou-se duas vezes a Portalegre, uma para participar numa sessão do Cineclube portalegrense que eu então orientava – quem nos trouxe no seu automóvel, a mim, ao Mário e ao Hermínio Monteiro numa viagem mais ou menos homérica (…) foi o nessa altura editor da Perspectivas & Realidades João Soares. A outra, para conhecer Castelo de Vide e revisitar Marvão (…).
Desde o início da década de 60 que Mário Cesariny perdia os dentes e depois dos 50 anos estava desdentado. Chegou a fazer-se fotografar com a dentadura na mão. Em carta a Luiz Pacheco de 1965 diz o seguinte (18-5-1965, Pacheco versus Cesariny, 1974: 149): Bom, acabo de arrancar três dentes, não foi agradável, havia abcessos – como em tudo o que eu estou. E o previsível é que a continuação, de tudo, também, não pode senão culminar como no dentista: colocação de placas. (…) Um vagido último fez-me pedir ao médico a entrega dos três dentes extraídos. Para oferecer, disse-lhe. (…) mas à vista dos exemplares, reneguei-os logo. Tudo roído, uma impureza total. No início de 1982 ainda se queixa de dor de dentes. Numa carta para João Vasconcelos diz (21-1-1982, Cartas para a Casa de P., 2012: 65): Um dente infernal, o chamado canino que resta, está a dar-me dores intoleráveis (…). É provável que fosse então o derradeiro dente da caverna da boca. Mais tarde, em 1992, Luiz Pacheco desenhou-o assim, a carvão preto (O crocodilo que voa, 2008: 54): (…) ele está com uma cara! Outro dia vi o gajo no Tal & Qual com o Mário Soares… Ele já não tinha os dentes desde muito novo, mas agora tirou a dentadura e está com um queixinho de velha; aquilo vai-lhe até ao nariz, coitado…
Para o papel da canalha na vida de Mário Cesariny há o testemunho de José Manuel dos Santos no texto que veio a lume logo depois da morte do poeta (Público, 8-12-2006; rep. Uma grande razão – os poemas maiores, 2008: 12): (…) gostava de anarquistas, videntes, usurpadores, blasfemos, xamãs, incendiários e revoltosos. E de reis destronados, deuses abolidos, bruxas ameaçadas, fidalgos arruinados, náufragos salvos no último minuto. (…) Este Cavafis de uma Lisboa-Alexandria oculta no subsolo do salazarismo (…) nas ruas, falava com malucos, tresnoitados, mulheres do trapo (havia uma de quem dizia: “é igual à Vieira”), visionários, apocalípticos e seres de outros planetas que vinham tomar a bica à Avenida da Liberdade.
Sobre lamento de não ser árabe do deserto encontra-se o seguinte numa carta para a Casa de Pascoaes (2012: 76): (…) se não fossem as desgraças do corpo, dos nervos do corpo – avaria formal mal tomo algo, bebida ou comida fora de casa – há muito, mas há muito, que o meu espírito tinha posto a andar daqui para fora – de Portugal, da Espanha, do Ocidente – o meu corpo. Em direcção a algo mais civilizado. As terras árabes, acredito. Ou qualquer ilha ainda, de bom mar e areias. E nic, nec, não mais, nem turas nem literaturas, nem pintos nem pinturas. Na longa entrevista de Verso de autografia confirmou (2004, s/n.º p.): Eu não me fui embora, há muitos anos, por causa da tripa, porque cada vez que eu comia fora de casa ficava doente. Porque para mim o indicado era o Norte de África. Toda aquela época de Marraquexe, aí é que estava bem.
10 AS PIRÂMIDES DE TEOTIHUACAN
A viagem aos Estados Unidos e os apoios pedidos e dados não constam do arquivo “Mário Cesariny” da Fundação Calouste Gulbenkian. Integram um outro arquivo, “viagens ao estrangeiro”, que não está disponível ou em parte já desapareceu.
Nem Seixas nem Cesariny nunca se referiram aos desacordos havidos a propósito da mostra de Chicago. A única fonte é a correspondência privada entre os dois. Como quer que seja, é aí que reside o ponto de afastamento, que se acentuou depois até aos textos de Agosto de 1978 no Jornal Novo, aqui rotura sem retorno. O círculo mais próximo dos dois – Pepe Aranda e Manolo R. Mateos por exemplo – teve porém de imediato notícia do que se estava a passar. Um postal de Aranda para Seixas ainda do Verão de 1975 já dá conta do dissídio (18-9-1975; inédito; B.N.P.): Sinto o teu isolamento com Mário. Algumas respostas de Seixas às cartas de Mário Cesariny podem ser lidas manuscritas na B.N.P. (espólio de Seixas) no estado informe de notas. Com a publicação do livro Cartas de M.C. a C.S. perdeu-se uma ocasião de as fixar e dar a conhecer num anexo final. Sobre as obras que estavam então na posse de Pereira Coutinho, principal ponto fricção entre os dois, Seixas diz o seguinte (27-7-1975; inédita; espólio Cruzeiro Seixas B.N.P.): Agora que tudo isto acabou, digo-te mais uma vez que te enganaste redondamente. Desde a primeira tentativa que fiz junto do Pereira Coutinho que me emprestasse 3 desenhos (à pena) o que obtive foi um não. Reforça na nota datada de 15-8-1975 (idem): E já agora não resisto a dizer que tudo isto partiu de um erro teu e de uma inapetência minha. É que desde a primeira tentativa que fiz junto de Pereira Coutinho para que me emprestasse 3 desenhos (à pena) para essa exposição o que obtive foi a sua recusa formal. O empréstimo de dinheiro e as dificuldades financeiras de Mário naquele Verão são outro dos tópicos. Em 27-7-1975 diz (idem): Quanto aos 1.000$00 tinha-os realmente naquela altura, mas deixaste passar tantos dias (…) que agora estou eu atrapalhadíssimo. E sinceramente Mário como levar a sério as tuas faltas de dinheiro se ainda há 2 ou 3 meses fizeste uma viagem turística à África do Norte e outra depois ao Algarve? Expressa a sua dor, afirmando a 6-7-1975 (idem): Já disse uma vez à Henriette e repito-o. Depois da morte dos meus pais esta distância é o meu maior desgosto. Mas sei que nem tu nem eu nos podemos modificar. Nessa mesma “carta”, avança com críticas que foram as que depois usou no final de Agosto de 1978, no artigo do Jornal Novo: A tua manobra mais genial foi essa de teres estendido tentáculos sub-reptícios para a estranja. Para lá podes dizer o que queiras, podes fazer história a teu gosto e podes ser muito considerado. Aqui, todos te conhecem bem de mais – particularmente eu pobre de mim. Foi com certeza por causa deste período que Cesariny lhe respondeu na carta de 9-8-1975 (Cartas de M.C. a C.S., 2014: 303): Responder aos teus insultos… está muito calor esta tarde. E a verdade é que são ou procuram ser insultos porque tu pensas que foram insultos aquilo que te escrevi ultimamente. Não eram não são.
Sobre o dissídio entre os dois tive o seguinte sonho ao rever provas e ao reler as notas de Seixas do Verão de 1975 (12-11-2018): “Há muitos e muitos anos que Cesariny e Seixas têm amuos, fricções, desacordos mas nunca uma zanga a sério. Como dois irmãos que dormem no mesmo quarto, vivem demasiado próximos um do outro para não se acotovelarem de vez em vez. Um dia, vão os dois a um café e sentam-se no exterior, numa ampla esplanada com muitas mesas e cadeiras que existe no passeio. De repente, sem se perceber por quê, tudo o que está à volta deles – cadeiras, mesas, chávenas, colheres, bolos, sandes, torradas, açucareiros, bules, toldes, pessoas, animais – põe-se a flutuar, perdendo gravidade e rigidez. Tudo baila e ondula sem peso no ar. É um espectáculo inaudito, um bailado maravilhoso de coisas e de seres a flutuar no ar como cristais de neve. A surpresa é geral. Eles dizem então um para outro: – Aconteceu o que esperávamos. Agora já nos podemos zangar a sério.”
A presença de elementos do G.S.L. na exposição de Chicago junto dos dissidentes e dos do Café Gelo não é inédita e tem um nobre precedente na antologia de 1963, Surreal/abjeccion-ismo, que teve grafismo de Vespeira e colaborações de Fernando Azevedo. Pode ter sido reforçada em 1975 pela presença de Azevedo na Fundação Gulbenkian. Em pedidos da época feitos à Fundação por Mário Cesariny, como por exemplo o pagamento das rendas em atraso da oficina da Calçada do Monte, Fernando Azevedo teve parte de monta no bom andamento do assunto. Já em 1970, a propósito do convite que teve no quadro da grande retrospectiva de Vieira da Silva para fazer uma palestra na Fundação sobre a pintora, existe correspondência trocada entre os dois antigos colegas da escola António Arroio.
As ligações do grupo surrealista de Chicago, através de Philip Lamantia, com a cena Beat de São Francisco existiram. Numa carta inédita de Natália Granell a Cruzeiro Seixas diz-se o seguinte (11-11-2003; inédita; arquivo U.É.): Cuando estuve en San Francisco visite la librería City Lights y allí vi vários de los libros del grupo de Chicago, especialmente de Franklin.
Sobre a pobreza desesperada de Mário Cesariny no Verão de 1975 é ver o pedido que ele meteu em 28-7-1975 na Fundação, descrevendo a sua situação e que tem antecedente numa carta escrita a Artur Nobre Gusmão de 2-4-1975 (inédita; arquivo da Fundação C. Gulbenkian) em que começa por afirmar que devido ao incumprimento do contrato por parte da galeria a que estava ligado, incumprimento com cerca de doze meses, encontra-se sem quaisquer “recursos materiais”. Pede por isso um “subsídio mensal de atelier”. Esta carta foi seguida pelo Boletim de Inscrição, datado de 28-7-1975. São seis folhas com algumas informações biográficas valiosas. A primeira, a morte da mãe em 1974 e logo a seguir a sua situação na época – a irmã a cargo e que tal como ele não tem “quaisquer bens pessoais ou assistência social”. Outra informação de interesse: paga de renda mensal na pequena oficina da Calçada do Monte 2.400 escudos. Outra ainda: desde o 25 de Abril que não tem qualquer “trabalho remunerado” e os dois únicos trabalhos que entrementes fez para a Editora Génese ficaram-lhos a dever, bem assim os dois únicos quadros que “vendeu” e “que também não foram pagos – mudança do comprador para sítio incerto”. Por carta escrita em 2-3-1976 ao Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian fica a saber-se que nos primeiros dias de Janeiro de 1976 continuava na mesma situação desesperada e que nenhuma resposta fora dada. Anunciou pois ao senhorio da Calçada do Monte que deixava a oficina, o que fez. “Dois dias depois” da saída tinha resposta positiva da Fundação. Reentrou então no ateliê, pagando as rendas em atraso – “Agosto a Dezembro de 75 e Janeiro de 76” – e fez novo contrato, este em seu nome, pois o primitivo estava no de João Vasconcelos, “pintor que inicialmente dividiu o ateliê” com ele “mas depois foi embora”.
O registo da morte da mãe está numa carta para Maria Amélia da Casa de Pascoaes mas sem qualquer referência à data em que isso aconteceu (?-7-1983; 2014: 73): Com os “meus mortos” queridos tive sempre uma certa sorte (…) A minha mãe, a Sr.ª Dona Maria de las Mercedes Cesariny Escalona de Vasconcelos (gosto de chamar-lhe assim, agora) morreu quase sem dar por isso. Mesmo assim (eu tinha saído) ela esperou pela Henriette, que fora dar umas breves voltas por perto, esperou pela Henriette, para poder sentir-lhe a mão entre as suas. E foi-se. Encontro o seu encanto pela mãe num passo duma carta a Ana Hatherly escrita de Londres (12-1-1969; inédita; espólio A. Hatherly B.N.P.): Obrigado por ter ido a casa ver a família. Não é verdade que esta mãe castelhana é uma maravilha, quase uma ilusão de óptica?”
O fim da primeira fase da galeria S. Mamede foi assim contado por Seixas (A liberdade livre – diálogo com José Jorge Letria, 2014: 96): Depois veio o 25 de Abril, recebíamos todos os dias telefonemas e cartas a dizer que iam lá queimar aquilo tudo. Claro que o Pereira Coutinho fechou aquilo e foi abrir uma galeria em Paris, e foi o fim. Cruzeiro Seixas na Secretaria de Estado da Cultura por intervenção de Natália Correia, no ano de 1976, pode ser confirmado na mesma entrevista ou diálogo (2014: 85).
A alusão do jornal A Luta à proibição da exposição da galeria da Junta do Turismo do Estoril, então ainda Junta do Turismo da Costa do Sol, foi muito discreta mas está lá. Assim (6-4-1977, p. 19): Os artistas Raul Perez e Cruzeiro Seixas, que viram obras suas retiradas da Junta do Turismo da Costa do Sol, em estranha atitude dos trabalhadores armados em críticos e censores de arte, expõem neste momento na Galeria Bouma, em Amesterdão.
Ao invés do que sucedeu no corte entre Cesariny e Seixas, com copiosas marcas na epistolografia de ambos, não há no espólio de Seixas na B.N.P. nenhuma carta de ruptura do casal Vancrevel – só o silêncio. Abundante e carinhosa durante a primeira metade da década de 70 – “oui, venez et emène Mário” (8-10-1972; inédita) –, essa correspondência desaparece sem rasto depois de 1977. Sobre a recusa da galeria Bouma expor os trabalhos pictóricos de Cesariny, Laurens informa o seguinte (4-4-1976; inédita; B.N.P.): Les tableaux de Mário sont refusés ici par tout le monde, à notre grande surprise.
A saída do livro Poesia de António Maria Lisboa foi em Março de 1978 e por isso só foi distribuído ao longo da Primavera e do Verão. Há várias datas enganadoras, a começar por aquela que está na ficha técnica do livro e que é 1977. Depois há a “publicação especial e única do cinquentenário do nascimento”, António Maria Lisboa, editada pela Assírio & Alvim, quatro páginas em formato de jornal, com colaboração variada, toda de ou sobre o poeta de Erro próprio, e sem data. O livro é aí anunciado como “a sair em Outubro”. Este mês só pode ser relativo ao ano de 1977, pois nessa altura ainda a folha anuncia o livro com um “desenho original de Maria Helena Vieira da Silva, expressamente feito para esta edição”. Ora os contactos epistolares entre Cesariny e Vieira por via deste desenho tiveram lugar na Primavera/Verão de 77 (Gatos comunicantes – correspondência entre Vieira da Silva e Mário Cesariny 1953-1985, 2008: 139-143), não tendo tido depois sequência. A folha terá pois surgido em Setembro de 1977, quando tudo levava a crer que no livro constaria ainda um desenho inédito de Vieira, que de resto ela prometeu por carta de 19-8-1977. A data da saída do livro é definitivamente esclarecida por carta para Manuel S. Lourenço (11-2-1978; inédita; espólio M. S. Lourenço B.N.P.): Tenho para enviar-lhe: (…) Idem (a sair dentro de uma semana) o livro em que reuni e apresentei o que há de visível, entre inédito e reeditado, da obra do António Maria Lisboa. Na carta seguinte confirma a saída do livro ou no final do Fevereiro ou no início de Março de 1978 (12-3-1978; idem): (…) jura-me o editor que já pôs no correio aéreo e tudo, para si, o livro agora saído “Poesia, de António Maria Lisboa” com o texto estabelecido por mim, o que provocou algumas ondas. Assinale a recepção, sim?
A questão de Helder Macedo com Mário Cesariny deveu-se a um passo do texto deste no catálogo da mostra de Seixas, “20 bules e 16 quadros”, e dizia assim (Maio de 1970): O aparecer de um livro de Ruy Cinatti, Nós não somos deste mundo, forneceu uma tarde de gáudio geral: todo o mundo fez ilustrações, após o que livro foi deitado fora. Cerca de vinte anos, João Rodrigues faria parecido, talvez pior, com o livro de Helder de Macedo, Vesperal: levou-o a pontapé pela Avenida Duque de Ávila, do Arco Cego até S. Sebastião. Este passo mereceu uma longa carta de resposta com cerca de 1400 palavras, nunca dada a conhecer até hoje e datada de “Julho de 1970”. Conheço cópia que o remetente guardou e de que vale a pena transcrever o seguinte (arquivo de Helder Macedo): Que você faça negócio com o cadáver do António Maria Lisboa, enfim, há precedentes, também o Pessoa pôs o cadáver do Sá-Carneiro a render. Mas querer agora apropriar-se do crânio esmigalhado do João Rodrigues já parece ser uma excessiva gula necrofílica. Porque você de facto nada tem a ver com a liberdade que o João Rodrigues nunca conseguiu encontrar mas que significou no seu voo final. Nem com a liberdade que alguns com ele – e comigo – procuraram encontrar e que julgaram equivocadamente ver em si. Afinal a sua liberdade, meu caro Mário, era uma construção literária, um disfarce poético imposto pelas circunstâncias. Mudadas as circunstâncias fica a literatura? Oxalá. Boa poesia. Ao menos isso. Mas é tão pouco. O texto do catálogo foi recolhido na primeira edição do livro As mãos na água… (1972: 177) sem qualquer corte. Nas duas edições ulteriores (1985; 2015) a passagem respeitante a Helder Macedo e à sua estreia poética (1957) desapareceu, apenas ficando Ruy Cinatti e o seu livro também de estreia (1941). Esta carta antecipa dalgum modo os argumentos de Seixas no Jornal Novo e “repete” em parte aquilo que Luiz Pacheco pusera a correr desde a carta de Agosto de 1966 a Vitor Silva Tavares e que fizera fortuna através dos textos de Virgílio Martinho e Ribeiro de Mello e viria depois a ser repetido por Ernesto de Sousa, Nelson de Matos e Baptista-Bastos. A investida de Ernesto de Sousa contra a “Prima-Dona” aconteceu quase em cima desta carta de Helder Macedo, ainda no Verão (A Capital, 9-9-1970), e teve como pretexto um poema que o autor de Pena capital recusou para espectáculo teatral encenado por Sousa na sala do Primeiro Acto, em Algés.
A nostalgia do amor único em Mário Cesariny já foi referida atrás a propósito da sua paixão por Carlos Eurico e está no memorial de Laurens Vancrevel (Cartas a F. e L. Vancrevel, 2017: 464).
Sobre os desenhos de Seixas de que se desfez e a dedicatória que num deles escreveu José Manuel dos Santos deu-me o seguinte testemunho: Quando deu a alguns amigos (eu não quis aceitar) as obras que tinha dele, foi como se despedaçasse e despedisse uma parte de si, aquela que ainda estava agarrada a uma parte do outro. No desenho que deu a um amigo nosso, o pintor Luís Camacho, escreveu por detrás estas palavras de uma pontaria precisa e fulminante (cito de cor): “ Memória de um paraíso de que nada sobrou a não ser a víbora”.
Seixas contou assim os seus desentendimentos com Cesariny e a sua saída para o Algarve e chegada a Alportel (A liberdade livre – diálogo com José Jorge Letria, 2014: 84-89): Nessa altura começaram algumas divergências entre nós porque o Mário fazia uma vida à maneira dele. Era Saint-Germain-des-Prés em Lisboa, e aquilo não me interessava nada. (…) Depois a vida homossexual dele não tinha nada que ver com a minha, que era bastante diferente. Isso separou-nos, embora sempre com grandes subterrâneos que nos ligavam, e de tal maneira que a páginas tantas eu resolvi ir para o Algarve. Estava a trabalhar na Secretaria de Estado da Cultura, lugar que Natália me tinha arranjado, só para ganhar dinheiro, porque ali dentro não se podia fazer nada pela cultura. Era mesmo um sítio onde não se fazia nada pela cultura. Pedi para ir viver para o Algarve. O Tomaz Ribas dirigia lá uma delegação da Secretaria de Estado da Cultura. E o Ribas dizia com aquela teatralidade: “Cruzeiro Seixas, fique lá em cima em São Brás de Alportel. Escusa de vir. Venha só no fim-de-semana assinar o ponto.” Foi o que eu quis ouvir. O ordenado era pequeníssimo e eu vivia só daquele ordenado.
Nunca me precisou uma data exacta para a saída de Lisboa e localizou-a sempre “no início da década de 80”. Pela correspondência trocada com Eduardo Tomé, sobretudo a carta de 11-12-1983 (inédita; arquivo U.É.), percebe-se que essa mudança ocorreu no ano de 1983, o que se confirma numa carta de Isabel Meyrelles (3-3-1983; idem) para Seixas que diz: Estou a ver que andas cada vez com mais vontade de deixar Lisboa e essa vida de loucos. A correspondência recebida da Casa de Pascoaes ajuda a precisar a altura do ano em que isso sucedeu (inédita; espólio de Cruzeiro Seixas B.N.P.). Em Julho de 1983 João Vasconcelos ainda lhe escreve para a morada de Lisboa, Estrada da Ameixoeira n.º 33-3dt., a mesma para onde Cesariny lhe escreveu as derradeiras cartas de 1975. Mas em Setembro de 83, o casal Vasconcelos já lhe escreve para Faro, para a “Delegação do Ministério da Cultura”. Instalou-se então em São Brás de Alportel, recuperando um espaço mínimo – na carta Eduardo Tomé fala em 35 m2 – que comprou por 150 mil escudos (750 euros). A informação está em carta ao Turismo do Algarve (carta de Setembro 2009; inédito; arquivo U.É.), dando um testemunho da sua estadia na região: Lastimo que este depoimento seja de facto de muito relativo préstimo. Mas vivi sete anos próximo de S. Brás de Alportel, numa espécie de armazém agrícola arruinado que adquiri por cento e cinquenta contos! (…) Mantendo-me nesse tempo com um pequeno ordenado na Secretaria de Estado da Cultura, foi com um máximo e paixão e com um mínimo de possibilidades materiais, que aquele espaço se tornou num interessante refúgio. Conservei testemunho da arquitectura algarvia, chegando a adquirir cantarias com lavrado em pedra, uma flor típica, de casa irremediavelmente arruinada. Eduardo Tomé, repórter fotográfico no D.N., diz assim na sua carta de 11-12-1983 (idem): Um celeiro com 35 m2 não é famoso, mas com a sua capacidade criadora, certamente que ficará acolhedor e confortável, talvez até tenha hipótese de fazer um sótão.
A saída de Tomaz Ribas da delegação de Faro pesou decerto na decisão de Seixas sair do Algarve em 1988. Numa carta a Pepe Aranda queixa-se assim da nova situação que encontrou depois de Ribas (14-2-1987; inédita; arquivo U.É.): Tomaz Ribas deixou de ser delegado da Cultura aqui no Algarve e foi nomeado em sua substituição uma mulherzinha qualquer que faz da Cultura o seu “crochet” e que é a pessoa mais opaca que já vi. (…) Detestamo-nos e por agora sou obrigado a cumprir o estúpido horário, o que quer dizer que não fica tempo para o que de facto ainda queria fazer. Ando enervadíssimo e evidentemente a tentar uma qualquer outra solução para a minha vida. A decisão de abandonar o Algarve está numa carta para Isabel Meyrelles (17-1-1988; inédita; arquivo U.É.): (…) já comuniquei ao teu irmão que ia vender a colecção, que ia vender a Caverna e que para o ano já cá não me tinha.
A relação com João Meireles em São Brás de Alportel foi contada assim por Cruzeiro Seixas (A liberdade livre – diálogo com José Jorge Letria, 2014: 95): Vivia numa casinha lá no meio dos montes e um dia bate-me à porta um senhor. Mandei-o entrar e o senhor disse-me: “Eu sou genro do senhor Cupertino de Miranda.” Eu fiquei logo com má impressão, mas o homem era bastante simpático e ficou extasiado com as paredes daquela casinha, que tinha a colecção toda lá pendurada. Ele dirigia [a galeria] Vilamoura, que era do Cupertino. Começámos a conversar durante largos meses, em tom de amizade, nasceu a ideia de uma fundação, de convencer o Cupertino a fazer uma fundação.
João Carlos Sobral Meireles (1916-1991) era casado com a filha mais nova do banqueiro Artur Cupertino de Miranda, um dos fundadores em 1942 do B.P.A., que na década de 60 se envolvera na compra de cerca de 2 000 hectares no Algarve, transformando-os num empreendimento turístico na zona de Vila Moura, sendo então fundada a Lusotur para administrar o projecto. João Meirelles era um dos homens fortes da empresa e por isso vivia na região. Demais, sendo irmão mais velho de Isabel Meyrelles, que Seixas conhecia desde 1949 e o tratava por “mano Artur” e “muito querido amigo”, teve acesso fácil à casa de Seixas em São Brás de Alportel. Desde pelo menos 1984 que há referência a João Meireles na correspondência entre Isabel Meireles e Seixas (inédita; arquivo U.É.). Foi pois a empresa turística Lusotur, que estava então a diversificar os seus negócios para a área do comércio de arte com a abertura duma galeria em Vila Moura – já em 1984 dirigida por João Meireles –, que acabou por comprar uma parte da colecção de pintura de Cruzeiro Seixas. Conheço declaração em inglês da Lusotur sobre a compra, destinada por certo a divulgação interna junto dos sócios da empresa e de que uma cópia foi enviada a Seixas por carta (11-6-1991; inédita; arquivo U.É.): Lusotur, S.A., has just acquired part of the collection gathered by Mr. Cruzeiro Seixas, a painter and poet, born 1920. Essa carta, que deve ter sido das últimas que Meireles escreveu, já que morria pouco depois, é importante para se reconstituir a história do nascimento dum centro museológico dedicado ao surrealismo na Fundação Cupertino de Miranda, instituição criada pelo B.P.A. no Estado Novo. Diante das insistências de Seixas para a criação do referido museu (cartas de Maio, esta respondendo a uma carta de Meireles de 21-3-1990, hoje na B.N.P., e Setembro de 1990 e de 26-5-1991), o empresário responde: Fiquei então e estou ainda hoje muito de acordo consigo sobre possível museu da Fundação em Vila Nova de Famalicão. A esse Museu falta a) qualidade b) dimensão c) assistência especializada. O B.P.A. fora nacionalizado em 1974 e só no final da década seguinte voltou a ser reprivatizado. Sobre esta situação o engenheiro Meireles pronuncia-se assim na carta (idem): De facto a Fundação cujo património rentável era constituído por 6% em acções do capital do B.P.A. em 1974, com a nacionalização ficou esvaziada! … Se assim não fosse e se a 6% se tivesse mantido isso hoje valeria 12 milhões de contos! … Imagine o desfalque! … Praticamente irrecuperável! O intervalo entre a nacionalização e a reprivatização foi assim um período de estagnação para a Fundação, que só no início da década de 90, com a reorganização de monopólios financeiros, voltou a dispor de condições bancárias – a tal percentagem em acções do capital que rendia 12 milhões de contos – para se recapitalizar e com as mais-valias financeiras investir em arte. Seixas nunca esqueceu o papel de João Meireles. Em carta ao actual presidente do conselho de administração da Fundação, Pedro Álvares Ribeiro, disse (16-6-2010; inédita; arquivo U.É.): De novo evoco a minha modesta casa de São Brás de Alportel onde me procurou o Eng. João Meireles e onde começou a sonho de formação de uma Fundação.” Esta não é a Cupertino de Miranda, fundada em 1963, estava Seixas ainda em Luanda, mas o museu ou a colecção nela dedicada ao surrealismo, que só na década de 90 avançou, com a compra no início da década de 90 de parte da colecção de pintura de Cruzeiro Seixas e que se estendeu depois, ao longo da década, a outros acervos, antes de mais o de Mário Cesariny. Com as mais-valias financeiras a Fundação pôde assim constituir um acervo da mais importante pintura surrealista em Portugal. Ainda antes de falecer, João Meireles colocou na presidência da Fundação João Oliveira, do B.P.A., hoje Millenium-B.C.P., e que ele acreditava ser a pessoa certa para relançar as actividades artísticas da Fundação (v. carta a Seixas, 11-6-1991; arquivo U.É.). João Oliveira chamou Bernardo Pinto de Almeida em 1995/6 para o cargo de director artístico da Fundação, cujo espólio de arte era então constituído sobretudo pela pequena colecção antes comprada por Meireles a Seixas. Foi Bernardo Pinto de Almeida que fez novo contrato com Seixas para nova compra e foi ele ainda que fez o primeiro contrato com Mário Cesariny, de quem era amigo desde o início da década de 80 (enviou-lhe o seu primeiro livro de poesia e o destinatário escreveu-lhe a dizer que o gostaria de conhecer, recebendo-o pouco depois na oficina da Calçada do Monte). Depois de criar o Centro de Estudos do Surrealismo e iniciar a publicação dos seus cadernos, Bernardo Pinto de Almeida acabou por se demitir da direcção artística da Fundação no final de 2001, no vendaval de ciladas que foi a exposição “O Surrealismo em Portugal 1934-1952”, tutelada por Maria de Jesus Ávila e Perfecto E. Cuadrado e produzida por dois museus – o do Chiado e o Estremenho e Ibero-Americano de Arte Contemporânea. A mostra contou – cerca de 30% do total – com o acervo da Fundação de Famalicão, onde a exposição devia finalizar a itinerância. O arco temporal da mostra teve na base a historiografia de José-Augusto França, o que levou ao dissídio de Mário Cesariny que já no Museu do Chiado quis proibir a exposição de obras suas, chegando a afirmar nessa altura que a exposição “devia ter uma bomba à entrada e outra à saída” (carta de Cruzeiro Seixas a Juan Carlos Valera, 24-5-2001; inédita; arquivo U.É.). Seixas perfilhava os mesmos critérios de Cesariny e mostrou também desagrado com a mostra de Badajoz e do Chiado. Numa carta que escreveu ao casal Jaguer disse [s/d (final de 2001?); inédita, arquivo U.É.]: Fui eu que insisti que vos fosse enviado o catálogo de “O Surrealismo em Portugal”. De facto a exposição era muito pior do que o catálogo, pois sempre os espaços principais eram dados a António Pedro e ao seu grupo. Noutra a Isabel Meyrelles deu a entender como o seu critério historiográfico para abordar o surrealismo em Portugal divergia do da exposição e coincidia com o de Cesariny e o de Natália Correia (5-4-2001; inédita; arquivo U.É.): A expo começa desde logo por um erro grave, que é ser entalada entre 1934 e 1952. Tenho para mim que nada começa e acaba, mas sim corre como um rio ininterrupto. Já a Natália foi buscar as raízes do surrealismo em português ao século XIII (…). E noutra ainda a Natália Granell, filha de Eugenio e Amparo (14-11-2001; inédita; arquivo U.É.): A exposição que esteve em Badajoz e está agora no Museu do Chiado é o mais tendenciosa que é possível, e isso não acontece apenas por culpa do Cuadrado, que me diz que em parte a exposição lhe fugiu das mãos. O mesmo disse a Herberto Helder (21-5-2001; inédita; arquivo U.É.): Tive sempre a maior desconfiança acerca da exposição “O Surrealismo em Portugal” (…). Há certas más intenções desencadeadas pelo França e pelo Azevedo que têm um peso académico imenso, mas deu-me satisfação verificar que aquilo que produzimos se defende bem dos horrores do António Pedro ou das tontices do Azevedo.
Quando a mostra subiu a Famalicão, Perfecto, até aí responsável pelo núcleo literário, com o acordo do director artístico da Fundação, que não quis receber um evento que não organizara, reorganizou a exposição – começava com Júlio e acabava em Eurico Gonçalves – de modo a incluir Cesariny. O novo semblante da mostra sofreu de imediato assaltos. José-Augusto França moveu-lhe uma campanha, acusando-a de excluir António Pedro (Público, 9-11-2001): (…) a exclusão de António Pedro é uma pulhice que tem os seus autores e os seus cúmplices. Segundo o então director da Fundação, a acusação não passou de boato, pois António Pedro continuou presente. Declarou-me ele: Jamais excluiria um artista como Pedro que foi um fundador, apesar de o considerar pintor menoríssimo. A campanha contra a exposição forçou porém o seu fecho. Sobre este disse-me o antigo director: A exposição foi fechada pela Fundação a pedido de Raquel Henriques da Silva, presidente do Instituto dos Museus. O fecho da mostra teve o acordo do então presidente da Fundação, Filipe Pinhal – ex-presidente do B.C.P. mais tarde acusado em justiça por acção financeira danosa – e dum dos seus conselheiros próximos, Aníbal Pinto de Castro. O jornal Público deu nota do fecho assim (28-11-2001): Negociações entre o Conselho de Administração da Fundação Cupertino de Miranda, de Vila Nova de Famalicão, e o Instituto Português de Museus levaram anteontem ao final do dia ao encerramento da exposição “O surrealismo em Portugal”, que deveria ficar patente na instituição até 16 de Dezembro próximo. (…) Segundo Raquel Henriques, directora do IPM, a decisão quanto ao encerramento da exposição foi tomada em conjunto com a exposição famalicense (…). Na opinião da responsável do IPM, “o que se tinha passado era inaceitável do ponto de vista institucional (…). Nesse momento Pinto de Almeida sentiu-se no dever de apresentar a demissão. Perfecto ocupou o seu lugar, o que surpreendeu e magoou o demissionário – ele, Perfecto, é que introduzira, ou se responsabilizara como comissário, as modificações contestadas por França, Raquel Henriques, Maria de Jesus Ávila e Pedro Lapa, este director do Museu do Chiado, que haviam estado na base dos ataques públicos contra o director artístico da Fundação de Famalicão, dando lugar ao fecho da mostra (v. Público, 9-11-2001). Pedi um testemunho a Perfecto Cuadrado que me escreveu só: Enviei um amplo dossier ao Dr. Pedro Lapa, à Professora Dra. Raquel Henriques e ao meu amigo Fernando Lemos (a este último, porque ficou preocupado com as notícias sobre os problemas criados à volta da expo). Não quis então entrar em polémicas e não vou entrar agora. Não tive acesso à pasta então enviada.
Por carta, Bernardo Pinto de Almeida rompeu com França, expondo-lhe as razões do seu desagrado nos acontecimentos que envolveram o fecho da exposição em Novembro de 2006 (19-4-2006; inédita; arquivo do autor): E assim porque, como se lembrará, se prestou aqui há uns anos a assinar uma carta, no diário Público, no contexto de uma polémica baixa que envolveu o meu nome, em equívoca proximidade aos que me injuriavam. Nesse momento, pela consideração que lhe tinha – e que julgava recíproca já que longamente colaborara na revista que dirigiu na Fundação Gulbenkian –, entendi que tal lhe deveria ao menos ter merecido procurar esclarecer comigo qualquer dúvida surgida antes de se associar ao coro, o que não fez. E, de facto, como poderia demonstrar se tal valesse a pena, por estar em posse da correspondência então trocada, nesse triste episódio foi o meu nome enxovalhado a partir de uma mentira posta a correr por quem procurava, com isso, algum protagonismo, à falta de ter feito obra que se veja. Que uma personalidade com a sua presença na vida cultural portuguesa não tenha tido ao menos o bom senso, já não referindo a educação, de se esclarecer antes de acolitar quem difundia boatos, ao menos em consideração a um respeito não apenas pessoal como académico, é facto para que não encontro justificação. Depois deste incidente, a mostra seguiu ainda para Madrid, para ser inaugurada a 8 de Janeiro, no Círculo de Belas-Artes. Cesariny e Seixas recusaram expor aí as suas obras conforme se lê no mesmo jornal (5-12-2001): Os pintores Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas recusam estar representados na última itinerância da exposição “Surrealismo em Portugal 1934-1952”, que será inaugurada em Janeiro, em Madrid.
Após as pressões sobre Jean-Louis Bédouin e a guerra aberta contra António Tabucchi, este episódio com Maria de Jesus Ávila, curadora da exposição para as artes plásticas, foi a última batalha travada por Cesariny contra a historiografia de José-Augusto França e contou com o apoio de Seixas. Por detrás das aparências, centradas num jogo de personalidades e de influências institucionais, o que se jogou na mostra foi um critério de valoração dos dois grupos surrealistas portugueses na década de 40. Na exposição organizada por Ávila o privilégio recaía quase em exclusivo no G.S.L., enquanto na exposição elaborada em Famalicão o valor deslocava-se para o grupo “Os Surrealistas” e para a continuidade que deram ao longo de décadas ao surrealismo em Portugal. Por isso Seixas pôde dizer numa carta da época a Alberto D’Assumpção (11-11-2001; inédita: arquivo U.É.): Sinistra pulhice é a do França, datando o nascimento e a morte do surrealismo aqui entre 1934-1951! É escamoteada gente como o Areal, o Botas, o Perez, etc.etc. (…) Enfim meu Amigo, gostei mais da exposição ali em Famalicão naquele espaço arquitectonicamente ridículo do que no Museu do Chiado, ou mesmo em Badajoz. Espero que seja esta a versão a enviar a Madrid, com alguns ajustamentos. A verdade é que o França e a Raquel Henriques da Silva estão de cabeça perdida e chegam a confundir arte com simples burocracia. Com o fecho da mostra em Famalicão, o que seguiu para Madrid foi a exposição que já havia sido vista no Chiado e os ajustamentos então feitos ainda acentuaram mais o predomínio do grupo de António Pedro. Seixas, no regresso da viagem que então fez a Madrid, pronunciou-se assim em carta a Fernando José Francisco (6-2-2002; inédita; arquivo da U.É): Acabo de regressar de Madrid onde fui ver a exposição “O surrealismo em Portugal”, que lá é ainda pior do que aqui no Museu do Chiado. Retiraram a tua pequena representação, o que me desgostou. Os do Grupo Surrealista de Lisboa deviam ir ao psicanalista, pois é doentia a necessidade que têm de se pôr no bico dos pés para parecerem gente grande. Estranhamente não se aperceberam que não é por se imporem pela força que o triunfo lhes está assegurado.
No momento dos ataques à exposição de Famalicão, Bernardo Pinto de Almeida declarou o seguinte (Público, 9-11-2001): (…) daqui em diante só discutirei questões de história da arte. É preciso reabrir o processo do surrealismo em Portugal. Três lustros depois um volume da sua autoria, Arte portuguesa no século XX – uma história crítica (2016), pode ou é para ser visto como a reabertura do “processo do surrealismo” que ele então prometeu. As teses de França no domínio da história da arte do século XX português, em especial na pasta relativa ao “surrealismo”, caminham aí para o seu ocaso ao contrário das de Cesariny que são exaltadas e prosseguidas.
Sonhado por Cruzeiro Seixas como um arquivo destinado a ser exposto e trabalhado em permanência, o acervo surrealista da Fundação Cupertino de Miranda não se tem constituído sem forte fricção entre os artistas e os administradores, sobretudo no período sequente à mostra do Chiado. Para os primeiros é o valor de uso que conta, enquanto para os segundos o que está em causa é o valor de troca – a arte como referencial de investimento, de modo a multiplicar o capital aplicado. Um casamento assim, mesmo com a mediação de pessoas próximas aos artistas como Bernardo Pinto de Almeida e Perfecto Cuadrado, não podia dar bom resultado. Seixas sempre se mostrou desagradado com o trabalho em torno da sua colecção e muito temeroso que um dia o acervo seja disperso e vendido. Embora aceitando o casamento morganático da finança e da arte – já em 1973 declarara à revista Flama (9-3-1973) “o capital faz mover a pintura” –, Seixas nunca se coibiu de acusar de “ignorância” e de “estupidez”, as palavras são dele e são públicas, a administração da Fundação. Nada disto é recente e já no momento da chegada de Bernardo Pinto de Almeida à direcção artística da Fundação, ele lhe escrevia o seguinte (7-1-1996; inédita; arquivo U.É.): Aquela Fundação Cupertino de Miranda tem sempre, decorativamente, um padre no elenco, o que me assusta. Há tempos eu felicitava o Perez por ter domesticado aquela gente da Fundação, e ele respondeu-me com certa graça que, provavelmente, era ele Perez que estava a ser domesticado. Acrescentava logo depois para o mesmo (8-4-1996; inédita; idem): Uma coisa é certa: a minha maior alegria seria juntar esta parte da colecção à que está na Fundação Cupertino de Miranda o que é praticamente impossível, pois não vejo aquela gente (banqueiros, etc etc) com sensibilidade para tornar isso possível. O mesmo para Cesariny. Um bom exemplo da sua amargura com a Fundação está nas conversas que têm com Miguel Gonçalves Mendes (Verso de autografia, 2004). Quando o cineasta lhe perguntou como é que se sentiu no Verão de 2003, momento em que a Fundação Cupertino de Miranda foi à Rua Basílio Teles buscar papéis e quadros, ele respondeu assim: Ah eu não quero falar nisso. São sobretudo as publicações que eu fiz. Primeiro eram impressas, depois já não havia tanto dinheiro eram a copiógrafo, publicações malucas, mas são algumas dezenas, e com dezenas e dezenas de cópias. Isso eles levaram mas agora têm que me trazer. Podem ficar com uma ou duas ou três, mas devolvem as outras. E são coisas bonitas.
Bernardo Pinto de Almeida, que negociou com ele o primeiro contrato em nome da Fundação, deu-me sobre o assunto o seguinte depoimento: Ele estava na Caparica, onde fui ter com ele e pediu-me para vir à casa da Basílio Teles com ele, o que fiz e quando chegámos estava tudo esvaziado e viam-se nas paredes manchas onde antes tinham estado os quadros. Foi um verdadeiro assalto. Disse-lhe que podia testemunhar o anterior acordo havido com a Fundação e comigo se quisesse protestar. Disse-me que não. Que deixasse assim. Mas manifestamente isto perturbou-o.
Sobre a excepcional beleza de Cesariny ficou este testemunho de Seixas numa entrevista (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Recordo um Mário bonito, impressionantemente belo, anguloso, com uma tal força na beleza que a expressão se diferenciava minuto a minuto conforme o que estava a pensar. Era atraente, prendia. Andávamos quase sempre juntos pelas ruas de Lisboa, quando éramos jovens. Eu tinha imensa sorte nos encontros amorosos, mas quando ia com o Mário era certo e sabido que toda a gente olhava para ele. E ele nem dava por isso. Era bonito, prendia, como certos bichos que atraem os outros, devorando-os ou não depois. Olhava assim por cima…imponente, devorador. Andava de cabeça erguida, nunca de forma distraída. Este é o Mário do tempo da António Arroio, adolescente. Foi esse que ficou.
Quando já tinham passado quase 30 anos sobre as primeiras desavenças de 1975, e mais de 25 sobre o texto “Sacaníssima visão”, Cesariny fez o seguinte balanço da sua relação com Seixas (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): (…) eu apesar de estar farto de ouvir o Cruzeiro Seixas, até na televisão, dizer mal de mim – eu acho que sei porquê mas não digo – podia dizer uma coisa muito triste sobre ele, mas não digo, não vale a pena. É como se ele tivesse um cérebro dividido, metade é todo luz, porque ele faz coisas muito belas, e a outra metade é uma confusão total, não se percebe nada, quando aquilo se baralha, é de fugir. Uma década antes, Isabel Meyrelles numa carta a Seixas diz-lhe por sua vez o seguinte (24-1-1994; carta inédita; arquivo U.É.): Terminei a antologia do Mário; o editor gostou muito, agora falta que o Mário me reenvie os textos corrigidos. (…) Já te disse que é o José Pierre que vai fazer o prefácio do Mário? Recomendei-lhe que não falasse em ti…” A antologia é Labyrinthe du chant (L’escampette, 1994), que teve tradução de Isabel Meyrellres e prefácio de José Pierre. O aviso feito – “recomendei-lhe que não falasse em ti” – é ilustrativo das relações que entre os dois existiam em 1994, o que não significa que Seixas não sonhasse dentro de si a reconciliação. Juan Carlos Valera, seu amigo e editor de Cuenca, diz-lhe o seguinte numa carta desse mesmo ano, provando bem como o tema “Mário” obcecava o destinatário (16-9-1994; inédita; arquivo U.É.): Sobre vuestro reencontro entre Mário y tú…? Que decir? Me hace mucha ilusión por ambos dos (aunque me imagino que no sois los mismos, las circunstancias, los años… provocan una distancia tan insondable como inevitable) (…). Mário Cesariny é tópico recorrente da epistolografia de Seixas para Isabel Meyrelles. Não resisto em transcrever um passo em que ele mostra a sua dor pela retirada do poema “Passagem de Cruzeiro Seixas em África” do livro Planisfério e outros poemas, ao mesmo tempo que fornece elementos para a aceitação do livro publicado no final de 1965, A cidade queimada, e de que não sobrou qualquer outra alusão (25-5-1997; inédita; arquivo U.É.): Numa das nossas recentes conversas disseste-me que para o Cesariny também não tem sido fácil esta nossa impossibilidade de relacionamento, que tem já uns vinte e tal anos de idade. Mas pergunto-me constantemente o que poderia ter acontecido perante a sua frigidíssima recepção à edição d’ A cidade queimada que no entretanto tinha sido feita o mais possível segundo as suas indicações. Pareceria que ia uma grande distância das indicações dadas por carta à visão definitiva do livro publicado, onde figurava impresso o meu nome ao lado do dele e os meus desenhos… E além de tudo isto, porque tirou ele da segunda edição do “Planisfério” o poema que me tinha dedicado? E nem mesmo sei o que fiz para que tudo isto tivesse acontecido. Numa carta para Bernardo Pinto de Almeida volta a referir as duas décadas de silêncio [s/d (2000); inédita, arquivo U.É.]: Quanto a escrever duas palavras ao Cesariny de mim não esperem coisa tão inteligente. Ele é que é inteligentíssimo e pode tomar atitudes como as do silêncio sem justificação durante uns vinte anos. O desconhecimento das razões que teriam levado ao corte de Cesariny volta a surgir em carta para Rui Mário Gonçalves, quando este andava a preparar para a R.T.P. um guião para um documentário sobre o surrealismo em Portugal (3-9-2000; inédita; arquivo U.É.): Parece-me que a última parte (discordâncias com o Cesariny) é o pior, pois o assunto não é fácil. A verdade é que eu não sei das suas razões. Nessa mesma carta faz porém justiça a Cesariny desta forma (idem): Uma parte do tempo desperdiçado com o António Pedro (e com o França) podia prolongar a representação de Cesariny, que apesar dos seus inúmeros erros é uma figura muito mais representativa do que 7 Antónios Pedros e 7 Franças. As pinturas do Cesariny, de quando o expus na S. Mamede, são coisa belíssima, e nunca ultrapassada.
Outro ponto nesta guerrilha que se iniciou a partir da segunda metade da década de 70 do século XX foi a recusa de Cesariny em ceder para publicação os seus textos sobre Seixas, em especial o do catálogo da mostra da galeria S. Mamede, “20 bules e 16 quadros de Cruzeiro Seixas” (1970), o preferido de Seixas. Cesariny, que o mantivera na reedição de As mãos na água…, recusou-se a deixá-lo reproduzir no álbum consagrado à obra e à vida de Cruzeiro Seixas que Lima de Freitas preparou e publicou em 1989, na sequência dum prémio então atribuído (SOCTIP artista do ano), o que motivou uma nota no livro de Lima de Freitas, a quem de resto Cesariny votava a maior estima [como prova por exemplo ter escolhido um texto dele para inserir no álbum Mário Cesariny (1977) ao lado de Raul Leal e Natália Correia]. Mais tarde, por ocasião de homenagem no octogésimo aniversário de Seixas e por intermédio de Bernardo Pinto de Almeida, Cesariny acabou por permitir a reprodução do texto, o que motivou uma carta de Seixas a Cesariny que começa assim [s/d (Outono 2000); inédita; arquivo U.É.]: O Bernardo Pinto de Almeida quis tomar a iniciativa de te pedir autorização para que neste álbum figurassem textos da tua autoria. Eu não o faria pois há aquela carta em que proibias o uso desses textos, ameaçando-me com as polícias. Agora o Bernardo sugere-me que te agradeça, e a mim me parece que nada o justifica. Agradeci estes textos há muito como posso e sei, quando os escrevestes. (…) Não deixarei de te dizer que lastimo que não tivesses dado esta autorização ao Lima de Freitas, que realizou o álbum editado pela Soctip. Tudo aponta para que esta carta não tenha tido resposta, pois existe um apontamento de Seixas que diz o seguinte [s/d (Inverno 2001?); inédita; arquivo U.É.]: Mário: escrevi-te em […], e embora não tivesse resposta reincido, com a vaga ideia de que essa é a minha obrigação. Tento esclarecer o que por certo não tem esclarecimento possível. Os desentendimentos entre os dois foram esmiuçados por Seixas numa longa e apertada carta de 6 páginas para o casal Jaguer, Édouard e Simone, numa época em que Seixas acabara por se excluir da mostra “Surrealismo e pintura fantástica”, organizada pelo amigo em colaboração com o movimento Phases e que teve lugar em Lisboa no final de 1984. Também não resisto a transcrever (29-1-1985; inédita; arquivo U.É.): A minha recusa de figurar nesta expo fundamenta-se no ter o Mário há uns anos (1981) feito publicar nos jornais daqui um escrito, em que dizia que eu tinha deixado de ser surrealista em 1977. (…) Comove-me a insistência de Simone, toda a força do argumento de que somos tão poucos e por isso devíamos estar unidos. Mas não fui eu que primeiro escrevi para os jornais a insultar o Mário, foi ele que o fez, a propósito de uma colaboração minha com o António Tabucchi, que de resto me tinha sido apresentado pelo próprio Mário, com grandes mostras do maior interesse. Seixas foi sempre muito crítico desta exposição de 1984. Leia-se o que disse numa carta para Pinto de Almeida muitos anos depois [s/d (2000?); inédita; arquivo U.É.): (…) é quase impossível fazer-se expo mais ridícula do que a que o Cesariny levou a efeito em 1984 intitulada “Expo Internacional do Surrealismo e da Pintura Fantástica”. O ano de 1984 foi ainda o da publicação do catálogo, Le surréalisme portugais (Montréal), relativo à exposição com o mesmo nome organizada por Luís de Moura Sobral na Universidade de Montréal, entre 16-9-1983 e 9-10-1983 e que foi outro ponto de desacordo entre Cesariny e Seixas.
Sobre a relação de Eugénio Granell com Compostela existe passo em carta inédita a Seixas que diz assim (7-1-2001; arquivo U.É.): Cuando niño vivi mis años juveniles en Santiago de Compostela, y cerca de la ciudad hay un monte, el Pico Sacro, cargado de mágicas leyendas muy antigas y medievales. O encontro de Mário Cesariny e Graça Lobo com Eugénio e Amparo Granell na casa de Nova Iorque pode ser reconstituído a partir daquilo que Juan Carlos Valera conta numa carta a Seixas, numa altura em que o casal tinha já regressado a Espanha (15-10-1999; inédita; arquivo U.É.): Estuve hace unos días en casa de Eugenio Granell enseñando le todo este trabajo. Tanto él como Amparo se mostraran sumamente encantados y demostraron un profundo interés por todo cuanto decía. A pesar de su edad, van ya para los 87 años, ambos están plenos de vida, aunque acorrodados por achaques propios de su edad ( y eso que no dejan de fumar cigarrillos sin filtro y beber whiski a go-gó que yo salgo siempre de sus encuentro con grado de alegría!). Para a presença de Mário Cesariny e Graça Lobo em Chicago contei com o testemunho escrito de Allan Graubard, que foi um dos mais jovens participantes no evento – está na fotografia que Cesariny publicou da abertura da exposição no livro Textos de afirmação e combate…, 1977: 501. Sobre as tensões existentes deixou-me o seguinte testemunho: It was only when the majority of members of the surrealist group, myself included, broke away from the existing group in Chicago formed by Rosemont, which occurred in 1977, that Cesariny expressed his disaffection with Rosemont and gave us support to us. Curiosa ainda a seguinte informação de Graubard para a reconstituição da presença e da fala de Cesariny no evento: He was open, quite friendly, animated and curious. Because his command of English was poor and no one I knew at the exhibition spoke Portuguese, communication was halting French or Gracia [Graça] Lobo, who could speak English, translated. Mário Cesariny, along with Eugenio and Amparo Granell, Philip Lamantia, Nancy Joyce Peters, Gerome Kamrowski and somewhat later Clarence John Lauglin, constituted the older surrealist attending the exhibition.
A fonte para as relações de Cesariny e Octávio Paz no México são as cartas que então trocou com o casal Vancrevel e com Alberto de Lacerda e estão hoje publicadas (v. bibliografia).
Sobre o texto consagrado ao México no jornal O Século (13-11-1976; 18-12-1976) existe uma curiosa carta de Cesariny a João Gaspar Simões, então director do jornal. É um protesto contra as gralhas que enxameavam o trabalho e uma chamada de atenção para a sua importância por contraste com os outros artigos da mesma página e dedicados a Ruy Belo e a João Penha (13-11-1976; inédita; espólio J. Gaspar Simões B.N.P.): Protesto, porque o meu artigo (uma reflexão) trata de civilizações e de poetas, corrijo, de grandes civilizações e de grandes poetas (Teotihuacan, Fernando Pessoa, Octávio Paz, Artaud, Garrett, Jean-Clarence Lambert – o México Maia e o dos Tarahumaras) junto dos quais a poesia do João Penha (…) e a poesia do Ruy Belo (…) são destemperadas ninharias. Estou assim a pedir-lhe a republicação do meu texto na página de sábado próximo, com a nota que melhor entenderem fazer-lhe. O texto foi republicado mas no final do mês seguinte e com um pedido de desculpas ao autor e aos leitores.
Nova Iorque aparece ligada com muito pormenor à crítica do movimento gay no seguinte passo duma entrevista final (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): E uma vez [Edouard Roditi] deu uma entrevista a uma revista gay, na América, nos Estados Unidos, em que diz: “A gay liberation foi a maior tragédia que me aconteceu” (…). Diz aí que a fonte de informação para a vida homossexual de Nova Iorque foi Edmund White, que ele conheceu em Roterdão em 1973 e de quem leu a biografia de Genet e os apanhados autobiográficos nova-iorquinos. Conta assim a história (idem): (…) ao fim do mês fazia um party em casa dele, para onde convidava todos os rapazes que tinha engatado nesse mês, todos, ou quase todos. (…) e conta outra coisa bonita que é significativa. Um dia um amigo desse amigo aparece lá em casa, “eh menino, toca a andar para a rua que hoje é que vai ser bom!” Tinha havido um desafio de futebol em que o clube deles ganhara, andava tudo maluco, tudo nas ruas, aos saltos e aos gritos então foram para a rua (…) até que um belo adolescente (…) no meio daqueles abraços todos, veio ter com ele, com o Edmund White, e abraça-o e beija-o e tal, de alegria, por causa do futebol, e o outro dispara-lhe á queima-roupa assim: “Queres vir para a cama comigo?” O outro diz: “Eu nunca experimentei” e zuca, para casa. Quer dizer, isto desapareceu completamente, quando apareceu a gay liberation. (…) Não havia liberation nenhuma, encontravam-se na rua, o clube tinha ganho, pssst, pumba. Agora, nem pensar.
O livro Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial (1924-1976) constitui um dos motivos fortes da correspondência entre Cesariny e Manuel S. Lourenço, então a leccionar no Departamento de Espanhol e Português da universidade de Indiana (E.U.A.). Chegaram à fala por carta no momento em que Cesariny recebe o livro do editor e por isso ele está muito presente e atravessa quase toda a correspondência conhecida – quatro cartas para Lourenço. Este chegou mesmo a retroverter trechos do prefácio da obra para inglês. A primeira carta avança elementos decisivos para entender os critérios da construção do livro (6-12-1977; inédita; espólio M. S. Lourenço B.N.P.): (…) logo que veio o 25 de Abril, propus-me fazer um livro – que está finalmente editado e sairá dentro de dias – clarificador. Tem o título Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial (1924-1976). Nele, sobretudo, o sentido de protesto e reivindicação que tem caracterizado o movimento – o apelo à revolta colectiva – em detrimento, desta vez, ou por uma vez, do laboratório mágico, poético, que cabe a cada um, e será de tudo talvez o mais importante, em cada um, (…) até certo ponto independente, e, mesmo, me parece que deverá sê-lo, da contingência social. Na derradeira carta que lhe escreve (ou que se conhece), em Abril de 1978, reitera estes critérios sociais e revolucionários em detrimento dos poético-mágicos ao mesmo tempo que adianta a preciosa informação que está a fazer ou pensar um segundo tomo da obra, consagrado este a Portugal (inédita; idem): Acabo de enviar-lhe pelo correio, separado, registado, aèrolado, o Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial. Como folheará, é mais atento ao colectivo e seus movimentos do que ao colectivo destilado pelos Uns e pelos Unos, vulgo Poesia e talvez o mais importante. (…) O que me continua dizendo do Jung sugere-me uma coisa: porque não escreve uma comunicação-mesmo sobre o que vem apontando nas suas cartas? (…) A sugerência corre ainda do caso II volume do livro que lhe mando hoje, II vol. que tenho em feituras e será dedicado ao em português. Por agora não se avista, à vista “desarmada”, editor, mas certo que o livro ainda não está e que assim que estiver tudo pode precipitar-se. Incluiria esse seu trabalho ou não trabalho com o mais rigoroso zelo. Numa carta para Philip West já de 31-3-1979 confirma-se o propósito de haver um segundo tomo da grande colectânea de 1977 (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 258) e que depois foi abandonado.
As relações entre Cesariny e Lourenço foram promissoras e intensas mas muito curtas. O contacto começou no Verão ou no Outono de 1977 e ficou registado em carta para o casal Vancrevel (30-10-1977, Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 205): Recebi do senhor Manuel Lourenço, do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Indiana, uma carta que é, há muitos anos volvidos, a primeira que me enviam em português de adesão, clara, luminosa, ao surrealismo aqui, bem como de crítica lúcida e apaixonada às brincadeiras proto-surreais dos inúmeros Franças (José-Augustos) locais destes anos todos, desde 47. Cesariny chegou a fazer uma folha em 1978 do Bureau Surrealista com texto de Manuel Lourenço e ilustrou dele (capa e três ilustrações) um longo poema, Pássaro Paradípsico, que as edições de João Soares editaram em Junho de 1979. Por sua vez, Lourenço escreveu o texto do catálogo da segunda exposição de pintura de Cesariny na galeria Tempo, “As fogueiras gelam”, em 1979, e verteu excertos da antologia de 1977 para inglês. Depois disso, na década de 80 e seguintes, é o silêncio. Quando a editora da Rua Passos Manuel dedica todo um boletim A Phala (Abril/Junho, 1988) a Cesariny, Lourenço, autor da casa, está ausente. Não parece haver um motivo para esta ausência e tudo aponta para que não tenha havido qualquer rasgão entre os dois mas apenas um afastamento silencioso a partir do início da década de 80. João Dionísio, que catalogou o espólio de Manuel Lourenço na B.N.P., comunicou-me o seguinte: (…) com algumas excepções (João Bénard da Costa é uma), as pessoas entram e saem da vida de M. S. Lourenço sem grandes avisos. Admito, mas sem certeza, que a partir de 1981 a fase mais “aristocrática” dele tenha contribuído para um progressivo afastamento de M.C.V., que se cimentará na segunda metade dos anos 80.
11 A GRAFIARANHA
Sobre as primeiras pinturas de Cesariny há este testemunho de Seixas (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): Os primeiros trabalhos de pintura eram interessantíssimos: ele pintava e depois mergulhava tudo na banheira e o papel absorvia uma parte da tinta. Inesquecíveis esses quadros.
A II Exposição Geral de Artes Plásticas (1947), marcante para o neo-realismo pictórico, teve forte participação do núcleo que se reunia no Café Herminius. Estiveram expostos trabalhos de João Moniz Pereira, Fernando José Francisco, Marcelino Vespeira e Júlio Pomar, todos então próximos do neo-realismo. Sobre o significado desta exposição, onde Pomar vendeu por 1 000 escudos “O almoço do trolha” (1946) – dois anos depois, na IV Exposição (1949) os preços quintuplicaram –, ver o artigo de Fernando Azevedo “O neo-realismo na II Exposição Geral de Artes Plásticas (1947)” (Colóquio/Artes, n.º 48, Março, 1981).
O projecto de O’Neill e Cesariny arranjarem uma casa comum está na carta de 16-9-1947 que o primeiro lhe escreve para Paris (As mãos na água…, 1985: 293): Julgo que será de toda a conveniência (debati o assunto com o Domingues) arranjarmos uma casa, aí uns quatro amigos, para vivermos em comum. Uma casa duns 500 ou 400 mensais o que, dividido pelos quatro, dá uns 100, cento e tal escudos. Temos que discutir o assunto. Fala ao Moniz, também, e comunica-me as vossas impressões sobre o projecto. Eu pensei assim, na equipe: eu, tu, o Moniz e o Domingues. Moniz acabou por ficar de fora do grupo que alugou a água-furtada na Avenida da Liberdade.
As exposições individuais de Cesariny indicadas pelo próprio não são sempre as mesmas. No Boletim de Inscrição para bolsa de estudo no serviço de Belas Artes da Fundação C. Gulbenkian de 30-3-1968 indica a exposição da galeria Diário de Notícias, em Lisboa, no ano de 1958, como primeira exposição individual: Mais tarde, no boletim de 28-7-1975, com novo pedido de subsídio à mesma Fundação, toma como primeira a da “casa de Herberto Aguiar, na Foz do Douro,” em 1951, e como segunda a da “Livraria António Maria Pereira, 1956, Lisboa”, onde expôs capas-poemas-objectos para a obra A verticalidade e a chave, de António Maria Lisboa. Nesta lista fica reservado o terceiro posto para a mostra da galeria Diário Notícias.
A fonte para o diálogo com as Naniôras é o depoimento oral que recolhi junto de Carlos Cabral Nunes e ainda a fotografia que este publicou como sendo “a última fotografia do poeta com o seu ‘testamento’ dias antes de morrer” (revista Tabu, O Sol, 11-12-2006). O ‘testamento’ é um quadro com uma Naniôra andante, ao lado do poeta deitado na cama berço da irmã e a fumar, de olhos fechados.
Para o internamento de António Maria Lisboa no sanatório dos Covões, em Coimbra, com meio pulmão e sem poder rir ver a citação que fiz numa das anotações ao capítulo “Operação do Sol”.
O ateliê da água furtada já estava com Cesariny em Setembro de 1957. Numa carta para Seixas diz (3-9-1957, Cartas de M.C. para C.S., 2014: 137): Tenho agora um quartito-fantasma, que dá para o grande vácuo dos montes de Almada. Em baixo, à mão, as duas torres da Sé. Logo a seguir, o telhado da Pathé-Baby, que expusemos. À esquerda, o do Aljube, e à direita, o maciço central-horizontal da Baixa. Fantasmagórico, como tu percebes. Custa-me o total 160$00: o antro é pago a meias com o João Rodrigues, irmão ainda mais novo do Leonel, que, estás bem lembrado, ficou maluquinho debaixo do telhado da esquerda (…). Quereria que pudesses chegar a esta janela. João Rodrigues foi pois o primeiro locatário do “quartinho” com Cesariny – e só mais tarde chegaram Ernesto Sampaio e Fernanda Alves. É provável que o guache de João Rodrigues, “O ateliê” (colecção Fundação Cupertino de Miranda), evoque o sótão da Sé, com as duas torres “à mão”. Em Setembro de 1960, no momento em que já escrevera a Azeredo Perdigão a pedir bolsa de estudo para ir para Paris estudar Jarry, Ducasse e Rimbaud, ainda o tem. Prova-se numa carta para Seixas (30-9-1960, idem, 2014: 158): Vendi a uma lesma macho a esteira que me enviaste. Ajudou para a renda do meu quarto, Sé Catedral sur Mer. Também vendi um boneco meu. (…) O medo foi a parede vazia, 12 horas depois (os teus dois elefantes e os 4 caçadores estavam na parede). Na correspondência de Cesariny para Ana Hatherly há alguns elementos proveitosos para o conhecimento deste primeiro local de trabalho. Em carta escrita de Londres indica-se o nome, “Adelino Barra”, a profissão, “funcionário da Alfândega” e o endereço, “Rua S. Mamede ao Caldas, 7-4.º esq.”, do senhorio do “quartinho” da Sé. Diz assim (8-2-1969; inédita, espólio A. Hatherly B.N.P.): (…) foi o meu senhorio numa casa velha onde tive um quarto-ateliê-avião.
Para o ateliê da Calçada do Monte tenho este testemunho de Bernardo Pinto de Almeida (depoimento escrito inédito): (…) o ateliê que então ainda tinha na Graça, que ficava numa viela qualquer. Era um ateliê modesto, que tinha tudo a ver com ele. No memorial lusitano de Laurens Vancrevel que serviu de posfácio ao livro de correspondência de Cesariny encontra-se a seguinte descrição (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 453): Dos seus vários ateliês, recordamos sobretudo o da Calçada do Monte. Era um lugar escondido, a dar para um pátio interior bastante sombrio, num prédio antigo. Assim que se entrava o portão, passava-se pela oficina dum marceneiro; durante o dia, havia muito barulho por causa da serra mecânica e da lixadeira. Um grande cão de guarda, muito branco, que vivia num buraco escuro do pátio, ladrava furiosamente de cada vez que alguém entrava no corredor. Ao final da tarde e de noite, ficava tudo em silêncio – nem o cão fazia barulho. O ateliê tinha uma pequena mezzanine acessível através de uma escada de caracol, em ferro, que o Mário tinha pintado de azul-marinho. Em vários degraus tinham sido pintadas as assinaturas dos amigos que haviam ficado hospedados no ateliê. (…) Havia nomes de amigos famosos, como Francisco Aranda, Jonathan Griffin, Robert Green, Debra Taub, Ted Joans e muitos outros. No chão de cimento dispôs tapetes de algodão com riscas coloridas, as paredes estavam cobertas com pinturas e cartazes; as pinturas recentes acumulavam-se encostadas às paredes; um cavalete era o que mais se evidenciava. Havia uma pequena cozinha; e no solo um colchão coberto com um belo tecido às cores. Onde havia espaço, podiam ver-se ainda objectos fantásticos do Mário.
Sobre a oficina de Mário Cesariny recolhi ainda este testemunho de Eugenio Castro, do Grupo Surrealista de Madrid, que esteve cerca duma semana a viver na casa da Rua Basílio Teles em 1995 (inédito): (…) entrar en el estúdio de Mário Cesariny, situado en el barrio de Alfama, tuvo la importância de saber lo modesto que era, pues su tamaño era significativamente pequeño. De aquello que lo ocupaba me atrajo, muy sensiblemente, una suerte de libro encima del cual se erguía una vela que había depositado sobre sus hojas (o tal vez era la cubierta, dura?) la cera desprendida. Esa cosa es la que asocio, en el tiempo, al taller de Cesariny, y es lo que más me cautiva.
Tudo indica que as folhas Noa Noa estiveram para se chamar “A Phala”. Em carta de Agosto de 1988 a Laurens Vancrevel diz (2017: 394): A propósito, desisti de A Phala como título, e como subtítulo “Revista do Movimento Surrealista n.º 2”. Ficava muito pesado. Mudei-o. Agora é NOA NOA, como homenagem aquele que foi o primeiro a fugir do exército – o grande Sôr Gaugin. Sobre a folha Noa Noa dedicada a Laurens Vancrevel, com tradução de poema seu, Sobre a tinta os olhos/ Voor anker zijn blik, há informação em carta de Junho de 1989 para Laurens (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 397).
Para o fim do ateliê em 1975/76, que Cesariny chegou mesmo a abandonar nos primeiros dias de Janeiro de 1976, é ver o processo da Fundação Calouste Gulbenkian relativo ao pedido de bolsa em 28-7-1975 e já antes citado e descrito.
O amor único e ideal de Cesariny está no memorial lusitano de Laurens que fecha o livro Cartas para F. e L. Vancrevel e já foi indicado no capítulo “Operação do Sol” a propósito da paixão e do amor com Carlos Eurico da Costa.
A leitura do modernismo no livro de 1984 já vinha da segunda metade da década de 60. No texto do catálogo da exposição que fez com Cruzeiro Seixas em 1967 na galeria Divulgação, Porto, e da sua autoria, a crítica do modernismo está já presente (recolhido na primeira edição d’ As mãos na água…, 1972: 96): Cruzeiro Seixas e Mário Cesariny pertencem a uma tradição cultural que em Portugal se iniciou com o futurismo e prosseguiu lá fora com os movimentos dadaísta e surrealista, que absorveram ou largamente ultrapassaram o movimento inicial, enquanto entre nós se ia para o “modernismo”, para o “presencismo” e, um pouco mais para a direita, para o “neo-realismo”. Um ano depois, tomando como pretexto uma retrospectiva de Eduardo Viana no S.N.I., retoma o tópico com uma segurança reflexiva surpreendente, aí propondo “uma revisão crítica em perspectiva” do século XX português (J.L.A., Maio, 1968; recolhido na primeira edição d’ As mãos na água…, 1972: 111): O modernismo, como termo de reflexão, abarcou, na voz dos críticos e dos escassos ensaístas debruçados sobre esta época, o período iniciado pela tríade Amadeo – Santa-Rita – Almada, e teria continuado praticamente até ao segundo meio século, por extinção de gerações e chegadas de outras. Esta generalização tem tanto que se lhe diga que prudente seria abandoná-la em definitivo e proceder-se a uma revisão crítica em perspectiva que muito possivelmente faltou aos seus inventores. Mais tarde, numa folha que fez a propósito da exposição “Arte Moderna Portuguesa 1968-1978”, que decorreu na S.N.B.A., em Setembro, 1979, chamada Messieurs Dames (1979), afirmou para desfazer qualquer dúvida: je ne suis pas moderne. Nesse mesmo ano de 1979 na carta que escreveu aos directores da revista Sema disse: As vanguardas não servem para nada. As tais, revivalistas dos anos 60. E as dos anos 10 e 20 e pouco dos 30 nem quiseram que lhes chamassem vanguardas. Já o havia dito a Ana Hatherly numa carta de 27-2-1969 (inédita; espólio A. Hatherly B.N.P.), onde defende “as últimas filas”, “a gente que estava esquecida, mas poderosa, independente das turmas do tempo”. As vanguardas artísticas não motivaram Cesariny, que dedicou demasiada atenção ao primitivo, ao vernáculo, ao secreto, ao sem nome e até ao popular – as quadras que dedicou ao S. João testemunham esse olhar fora de qualquer folclore – para confiar nos fenómenos urbanos de superfície que se colavam apenas ao tempo histórico que foi o seu.
12 O VELHO DA MONTANHA E O VIRGEM NEGRA
Os poemas de “Políptica de Maria Koplas, dita Mãe dos homens” são apresentados como “dadaístas” pelo autor no texto “Um dádá português” (As mãos na água…1972: 118; o texto saiu da reedição de 1985): Quanto ao autor destas linhas, começou por uma História Dádá de Nossa Senhora (1943) e por um insulto ao comércio (Nicolau Cansado Escritor) e não pretende continuar. Já na cronologia d’ A intervenção surrealista (1997: 51) fizera idêntica leitura do poema, dizendo “Maria Koplas” – “uma História Dádá de Nossa Senhora das Dores”. Isto levou Maria de Fátima Marinho a ler o poema como dadaísta (1986: 307), quando na verdade se trata tão-só dum poema que antecede de muito pouco e prepara a adesão do autor ao neo-realismo. O “dadaísmo” inicial dos membros do grupo “Os Surrealistas” foi o neo-realismo, posto que interpretado de forma nova e criativa, com uma dimensão burlesca até desconhecida e que ficou bem patente nos poemas de Maria Koplas, nos de Cansado e ainda na “História antiga e conhecida” de Luiz Pacheco.
Sobre a visão que Cesariny desenvolveu sobre o lugar, a casa e a gente de Pascoaes paga a pena transcrever algumas linhas que ele escreveu para catálogo de exposição de João Vasconcelos (Lisboa, galeria S. Francisco, Out-1980; rep. Cartas para a Casa de P., 2012: 237): De cada vez que estive em Amarante senti-me em campo de forças que vão do descritivo ao indescritível. E único. Sobre o sorriso habitualmente calado e feminil da paisagem portuguesa crava-se a gargalhada convulsa do Marão. O masculino simples do mar que nos tolhe assume ali o superlativo: marão. E até o mero gato que apetecia afagar olha-te e cresce para quase tigre: S. JOÃO de Gatão! Ali pululam os dolméns. Ali viceja a erva do diabo, que é onde a névoa solidifica e estrangula. E desde que Pascoaes, o Velho da Montanha, fundiu os tempos todos num verbo único, a própria Casa de Pascoaes é um dólmen. Ali houve Raul Brandão e o seu// grito trágico disfarçado de Grande pintor de domingo. E Manuel D’ Assumpção, Rei Doido da pintura portuguesa. Desta pintura lógica! E a miséria, minha, de tentar ordenar, no quarto que D’ Assumpção ocupara, os meus escritos sobre Vieira da Silva… As paredes zuniam, o soalho alteava, o tecto queria sumir-se, fugir, e eu estendido mudo sob os três juntos magos e demónios: D’ Assumpção, Vieira, Pascoaes….
O momento em que Cesariny conheceu João Vasconcelos e Maria Amélia, casal que depois de Teixeira de Pascoaes herdou e viveu na Casa de Pascoaes, é incerto. Nas entrevistas com Maria Amélia ela nunca soube apontar um ano para o conhecimento, dizendo-me sempre que a chegada à Casa de Pascoaes de D’ Assumpção foi anterior à de Cesariny e de Seixas. A primeira carta de Cesariny para o lugar de Pascoaes é de 13-3-1968 e nela agradece convite para voltar à Casa, em que estivera com Eduardo de Oliveira em Março de 1950 (e a que regressou de feito ainda nesse mês de Março de 68). A primeira carta de Seixas para a Casa de Pascoaes parece porém ser anterior, pois no espólio inédito de Seixas da B.N.P. existe carta de João Vasconcelos de 7-11-1967 respondendo a uma anterior de Seixas. Pelos dados hoje disponíveis, tudo aponta para que o conhecimento de Cesariny e João Vasconcelos tenha acontecido na exposição da Primavera de 1967 que Seixas e Cesariny fizeram no Porto, na galeria Divulgação, frequentada por João Vasconcelos, João e Jeanne Pinto de Figueiredo e António Pinheiro Guimarães.
O ponto de vista de Cesariny sobre as sexualidades de Pessoa e de Pascoaes está numa carta para João Vasconcelos (?-9-1978, Cartas para a Casa de P., 2012: 50): Do Fernando Pessoa, conhece-se o comportamento sexual: teve o cuidado de pôr isso em escrito. Pôs que, se tivesse algum, seria homossexual. Do Pascoaes, nada se pode escrever, ou filmar; mas, pensando por cálculo de probabilidades, e segundo ouvi dizer – não sei se alguma vez lho disseram a si – há bastas mais hipóteses de histórias com um antigo caseiro. Sobre Pessoa diz ele que “se tivesse algum” – o que quer dizer que não tinha nenhum (comportamento sexual). Está encontrado o ponto de partida d’ O virgem negra…, isto numa carta de 1978, uma década antes do livro. Curiosa também numa carta para João Vasconcelos esta observação sobre Pessoa, depois aproveitada para o livro sobre Vieira e Arpad (31-10-1981, Cartas para a Casa de P., 2012: 50): Não sei se já lhe disse que venho descobrindo algumas coisas “novas”(!). Por exemplo: que o Pascoaes e o Pessoa são o mesmo poeta, sem tirar nem pôr. Os mesmos olhos, a mesma existência, o mesmo espaço-tempo. Só que enquanto um se fez, ou perfaz, o outro se desfaz, se desaparece. (…) pode dizer-se, a propósito deles, o dito anedótico que diziam de (oh, não me lembra agora o nome do grande pintor francês a quem, reconhecendo-se-lhe a grandeza, chamavam Madame Picasso, por mais terno, menos mata-brasas mas igualmente importante). Bom o que me acode dizer-lhe por agora é que o Pessoa é uma espécie de Madame Pascoaes.
Cesariny havia escrito em 1980 – texto datado de “Janeiro 1980” – aquele que é talvez o seu mais compreensivo texto sobre a experiência de Fernando Pessoa e o que com certeza mais se afasta do tom burlesco e da linhagem satírica d’ O virgem negra. Refiro-me a Fernando Pessoa poeta [4 pp. dactilografadas], editado por Nicolau Saião e que foi comunicação apresentada ao colóquio de Portland, em Fevereiro de 1980, “Surrealism and Anarchism”, e já atrás referenciado a propósito do encontro em 1978 entre Cesariny e Saião, que o editou numa edição de 25 ex., numerados e assinados pelo autor. Tive acesso a uma cópia do exemplar n.º 4 cedida gentilmente por Laurens Vancrevel. Apesar da importância, a peça não foi republicada e caiu no esquecimento. Tem por subtítulo: “Comunicação ao Congresso Internacional sobre Anarquismo promovido pelo ‘Lewis and Clark College’ – Universidade de Portland, Oregon, U.S.A., em 18-24 de Fevereiro 1980”.
A exposição de 1983 na universidade de Montréal, organizada por Luís de Moura Sobral, com um importante catálogo (nele se publicou a única carta que se conhece de André Breton para um português, Cândido Costa Pinto), foi outro ponto que afastou Cesariny e Seixas, com o primeiro a arrasar a exposição (J.L., 11-10-1983) e Seixas a apoiar. A exposição de Montréal cobriu um espaço de 1934 a 1960 e deu espaço a autores como António Paulo Tomaz e António Areal, estando por isso longe dos critérios historiográficos de José-Augusto França. A discórdia de Cesariny com a mostra assentou em dois pontos: a sua ligação à universidade e a noção de “surrealismo periférico” aplicada ao surrealismo português. Mais tarde, em 1997, a propósito da exposição “Le surréalisme et l’amour”, que teve lugar em Paris, na Primavera de 1997, Seixas e Cesariny aceitaram responder a um inquérito sobre o amor, na linha daquele que Révolution surréaliste havia lançado (1929). As respostas apareceram truncadas no catálogo da mostra, o que levou Cesariny a protestar, sendo a sua resposta completa publicada em forma de protesto ainda nesse ano numa revista parisina por André Coyné (v. bibliografia). O facto de Cesariny ter querido participar neste catálogo, por contraste com a guerrilha que fizera a Luís de Moura Sobral, levou Seixas a comentar [carta a Bernardo Pinto de Almeida, s/d (final de 2000); inédita; arquivo U.É.): Por certo o Bernardo conhece o pequeno escândalo quando da exposição “Le surréalisme et l’amour” levada a efeito com aparato em Paris, como por certo conhece outro pequeno escândalo, o da exposição organizada pelo Luís de Moura Sobral em Montréal. Que espantosa ingenuidade a do Cesariny, ao supor que a exposição “Le surréalisme et l’amour”, realizada em Paris, ia ser menos “exercício físico” que a de Montréal!
José-Augusto França e Cesariny não se suportavam. Edgardo Xavier testemunhou na galeria Tempo, segunda metade da década de 70, o mal-estar entre ambos e as brincadeiras de Cesariny. Houve porém pontes entre eles. Eurico Gonçalves foi uma. A primeira exposição individual que fez foi em 1954, tinha então 22 anos, na Galeria de Março, dirigida por França. O texto do catálogo pertenceu a Cesariny que o recolheu depois nas duas edições feitas em vida d’ As mãos na água…. Eurico permaneceu sempre próximo de França e de Cesariny mas foi um caso de excepção – como o seu irmão, Rui Mário Gonçalves. Seixas – mas Cesariny também – tinha consciência da proximidade dos dois irmãos ao G.S.L., como se vê neste passo duma carta para Ernesto Sampaio (5-8-2001; inédita; arquivo da UÉ): É inegável que da parte do Eurico e do Rui Mário há uma estranha simpatia pelo Grupo Surrealista de Lisboa. Mas o que é verdade é que nunca aconteceu entre nós um esforço gregário. A morte do António Maria Lisboa deixou um vazio imenso.
As relações de Seixas com França não foram melhores do que as de Cesariny. Numa carta para Bernardo Pinto de Almada diz o seguinte (20-5-1995; inédita; arquivo U.É.): E uma palavra ainda acerca da colecção do França, que ele diz ser “o único conjunto organizado que existe, não há outro em Portugal.” A falta que faz a certa gente um grão de sensibilidade! Este devorador de livros é disso trágico exemplo, e aquela parte da colecção que testemunha da sua permanência em Paris, confirma-o. A exposição deveria ser reduzida a umas 26 obras realmente significativas e não ser aquela demonstração de uso e abuso de poder. A questão entre Seixas, Cesariny e França mais do que pessoal – os contactos directos foram poucos – foi de critério historiográfico. A visão que tinham do surrealismo divergia – para França a importância deste movimento em Portugal situava-se em exclusivo entre 1948 e 1952, as datas do G.S.L., e para os outros dois começava sobretudo em 1949 e vinha até ao presente através de continuadores como Eurico Gonçalves, António Areal, Gonçalo Duarte, Escada, António Quadros, Paula Rego e Mário Botas.
Sobre a relação de Mário Cesariny com a Costa da Caparica antes da compra do andar (na Rua Gil Eanes, n.º 38-2.º J) tenho testemunho de José Manuel dos Santos que diz assim: Mesmo antes de ter um apartamento seu, o Mário já costumava ir com a irmã Henriette passar uma parte do verão à Costa da Caparica. Hospedavam-se na Torre das Argolas, em casa de um amigo espanhol, muito espanhol nos gestos e muito simpático no receber, o Paco, que era dono d’ “O Duche”, um bar “gay” que ficava logo à entrada da terra, quando se vem de Lisboa, e onde hoje é uma farmácia (isso quer dizer que não houve praticamente mudança de ramo…). Na Costa, o Mário juntava-se ao Francisco Relógio, que tinha lá um apartamento, perto do único Multibanco existente, e ao Artur Bual, que, creio, veraneava numa pensão antiga e tradicional. Conversavam nos restaurantes e nos cafés da Rua dos Pescadores. Ao dono de um deles, o Capote, o Mário deu uma pequena pintura, uma linha de água, que foi posta na parede, no meio de recortes de jornal que muito louvavam aquela comida louvável.
Numa carta ao casal Vancrevel do início da década de 80 diz-lhe (12-9-1982; Cartas para F. e L. Vancrevel, 2018: 331): (…) vim para a Costa da Caparica (praia) todo este mês de Setembro (estou numa casa perto da praia, casa bem bonita onde gostaria de vos ver). Uma das cartas que Seixas lhe enviou no escaldão de 1975 (6-8-1975; inédita; espólio C. Seixas B.N.P.) seguiu ao seu cuidado para a Costa da Caparica (Estrada dos Capuchos, vivenda n.º 732).
Sobre a assumpção do nome paterno Rossi existe o seguinte documento (recolhido na compilação Cesariny – poeta // pintor surrealista, 2007: 167): Eu, Mário Cesariny Rossi Escalona de Vasconcelos, que tenho assinado com o nome que consta do meu bilhete de identidade, ou seja Mário Cesariny de Vasconcelos, e que no que respeita a trabalhos literais ou e plástico tenho usado somente os nomes Mário Cesariny, ou somente Cesariny, com raras excepções para alguns trabalhos plásticos iniciados em Paris – haja embora outros – em 1947, alguns sem data e com assinatura Vasc., a partir do não 2000 passo ou passei a assinar Mário Cesarini-Rossi, ou apenas Cesarini-Rossi. Do que deixo, este, testemunho, escrito, para bom uso de quaisquer possíveis ou impossíveis dúvidas quanto à autenticidade dos meus trabalhos passados presentes ou futuros. (…) Feito na Costa da Caparica, em 13 de Julho ano 2000, na presença do Sr. professor Ernesto Martins. Mário Cesariny de Vasconcelos / Mário Cesariny / Mário Cesarini-Rossi
A fonte sobre a Igreja Velha de Amesterdão (Oude Kerk) é a carta para o casal Vancrevel de 26-7-1980 (em Cartas para F. e L. Vancrevel aparece mal datada; 2017: 274) e os testemunhos que Laurens me deu por escrito. Sobre esta igreja escreveu-me Laurens: Oude Kerk, ce bâtiment date du 14ème siècle, et fut agrandi beaucoup de fois. Para là, l’architecture est « organique », ce n’est pas un vrai bâtiment purement gothique, mais plus irrégulier. Le dernier changement important était réalisé au 16ème siècle.
Na primeira estadia em Londres, em casa de Dácio, houve visita ao veleiro Cutty Sark (pequena camisola), um “clipper” gigante (64 metros de comprimento, 11 metros de boca e mastro principal de 46 metros), construído na Escócia em 1868 e reformado em 1954, acabando por ser ancorado em Greenwich, Londres, tornando-se uma das grandes atracções da cidade. São conhecidas, e foram já divulgadas, fotos de Cesariny no barco (v. A Phala – Um século de poesia (1888-1988), boletim da editora Assírio & Alvim, 1988) vestindo camisa de flanela axadrezada, da autoria de João Cutileiro. Escreveu no reverso duma (recolhida na compilação Cesariny – poeta // pintor surrealista, 2007: 131): Eu Mário Cesariny no Museu do mar (Greenwich) Londres, 1965. A visão impressionante deste monstro marinho coincide no tempo com a criação do poema “O navio de espelhos”.
Sobre a relação do Café Royal com o “navio de espelhos” existe este passo numa entrevista (revista Actual, Expresso, 20-11-2004): O Royal era a grande época, no Cais do Sodré, antes do Gelo. Era feito de espelhos, era muito bonito. Um pouco [o navio de espelhos]. O dono do café era o Pepe Blanco, que simpatizava connosco e nos deu um espaço só para nós, um pequeno gabinete. Quando aquilo acabou, fizemos uma exposição. Tinha uma situação esplêndida; ali escrevi muitos poemas.
O encontro de literatura homossexual em Roterdão no final do Verão de 1988 tem como fonte a carta do final de Agosto, depois do grande incêndio do Chiado, ao casal Vancrevel (2017: 391-92): fui convidado para Doelen, Roterdão, para um Encontro Internacional de Literatura Homossexual. (…) Pediram-me para fazer uma palestra, e uma conversa pública, sobre um tema à minha escolha. (…) Ainda não sei o que posso ou quero propor-fabricar, e tive a ideia sinistra – mas também sedutora –, nestes dias em que Fernando Pessoa se tornou numa espécie de bandeira da C.E.E. – de falar sobre Fernando Pessoa homossexual, de que ninguém fala (…) A realização da palestra – desconheço o texto, porventura só oral – coincidiu com o final da feitura d’ O virgem negra.
Para a não realização do documentário sobre Mário Cesariny ver cartas a Maria Amélia Vasconcelos (31-5-1984; 29-6-1984; Cartas para a Casa de P., 2012: 79-81), as notas que então fiz e o testemunho oral que Maria Amélia me deu na Páscoa de 2011 e que está no epistolário publicado de Cesariny à Casa de Pascoaes.
O facto de se ter por admirador de Mário Soares, que conhecia desde o final de 1945, não o impediu de acabar um abstencionista convicto. É isso que está na carta a Laurens Vancrevel de Outubro de 1995 (Cartas para F. e L. Vancrevel, 2017: 434) e que no início da década seguinte reatou em entrevista (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): (…) eu nunca mais voto. São sempre os mesmos. Até admira, eu que sou amigo – amigo com quem poucas vezes falei – do Dr. Mário Soares, não é? (…) Não, não, não! Depois do 25 de Abril, se fosse preciso votar todos os dias, eu ia votar. Votei, votei, votei, mas há três ou quatro anos ou cinco deixei de votar. Olha, contaram-me ontem que houve um programa na televisão (…) [e] perguntaram a alguém que lá estava o que além de poeta e pintor é que achavam bem no Mário Cesariny? E sabes o que é que um respondeu? Ser um bom político. (ri) Bem, isso deve querer dizer não votar! Não me meter nos partidos.
Sobre a depressão psíquica, que levou ao isolamento de Cesariny no ano de 1985, há informação numa carta de Maria Amélia Vasconcelos, da Casa de Pascoaes, para Cruzeiro Seixas e já do final do Verão de 1985 (8-9-1985; inédita; espólio de Cruzeiro Seixas): Sei também que o Cesariny está numa grande depressão. Disseram-me duas amigas minhas que fazem compras em Lisboa no mesmo sítio de Henriette.
Sobre a paixão final dos últimos 20 anos de Mário Cesariny – os pré-rafaelitas – vale a pena registar e ler este apontamento de Cruzeiro Seixas, que não lia inglês mas cuja visão coincide em absoluto com a de William Morris (inédito; arquivo U.É.): Fiz [em África] uma colecção de utensílios de uso diário daquela gente, tão civilizada que cada um dos seus utensílios era uma “obra de arte” única, talhada pelas suas mãos! Pobres de nós, que vivemos numa civilização da estandartização.
A editora do livro Cartas a F. e L. Vancrevel faz a seguinte nota no livro sobre as relações finais de Cesariny e O’Neill (2017: 370): José Manuel dos Santos (…) lembra-nos, através do seu testemunho, como serviu de mensageiro àquele que foi o último diálogo entre O’Neill e Cesariny – sabendo que poderia mandar por José Manuel dos Santos uma missiva para O’Neill, já hospitalizado, Cesariny arrancou de um pequeno bloco de apontamentos uma folha, onde era visível o pequeno desenho de um esquiador, e escreveu para O’Neill: “Vê lá se te piras daí!” A resposta de O’Neill (…) foi entregue ao mensageiro através (…) dos seus olhos rasos de água. (…) morreria alguns dias depois.
12 NANIÔRA OU O TRIÂNGULO MÁGICO
Há uma bela carta de Mário Cesariny a Laurens Vancrevel sobre a insubmissão de Pedro Enrique Polo Soltero (11-8-1993, Cartas a F. e a L. Vancrevel, 426-7): Pedro Enrique Polo Soltero, um amigo dos nossos amigos de Madrid, acaba de ser acusado por um Tribunal Militar espanhol de insubmisso, quer dizer que ele recusa e nega-se a ir matar qualquer um, seja qual for a razão (…). O mesmo é dizer que ele se nega a cumprir serviço militar obrigatório que ainda está em vigor em Espanha. Arrisca-se a apanhar dois anos de prisão, numa casa de reclusão para delitos comuns, o que também significa estar no pior dos piores de todos os lugares maus do inferno espanhol. As cartas que Manolo Rodriguez Mateos escreveu a Seixas dão o seguimento da história. A 12-4-1994 diz (inédita; arquivo da U.É): Ahora Pedrito se está preparando para el juicio por insumisión al ejército, que se celebrará el día 21 de este mes. Pouco depois informa o resultado do julgamento (22-5-1994; idem): Hoy hemos conocido la sentencia para Pedro en su juicio por insumisión al ejército: tres meses de prisión.
Eugenio Castro, do Grupo Surrealista de Madrid, conheceu e esteve em casa de Mário Cesariny por intermédio de Manolo Rodriguez Mateos, o namorado de José Francisco Aranda desde o início da década de 60 (pelo menos). Tudo aponta para que a estadia tenha sido em 1995 (depoimento inédito): (…) me asalta la duda del año en que esto sucedió. Solo puedo guiarme aquí por la reiteración de un tema repetido en las pocas cartas que intercambiamos: el interés de Cesariny por los prerrafaelitas. De este modo, el año de 95 se presenta como el posible, mas solo posible. Supongo, de cualquier manera, que el cambio de una fecha a otra, en esta ocasión, no variará demasiado lo vivido allí. A propósito, sí que es nítida la imagen de ambos, bajo una luz clara, sentados en algún cuarto hojeando un libro o un catálogo dedicado a la Hermandad Prerrafaelita, destacando él, de ese colectivo, lo que le llevaría a escribir algún tipo de texto. Situo a estadia de Eugenio Castro em Lisboa, na casa da Rua Basílio Teles, no Outono de 1995. Castro estivera com Cesariny em Madrid, em casa de Manolo, na Primavera desse ano, altura em que o português leu na Residência de Estudantes poemas. Os contactos com o Grupo Surrealista de Madrid eram porém anteriores e em 1992 já estava em ligação directa com o grupo para publicação do inquérito sobre André Breton na revista Salamandra, o que sucedeu (n.º 6, 1993). É provável que tenha conhecido pessoalmente Castro na sua visita a Manolo na Primavera de 1990, no principesco andar da Rua Carlos III, depois do falecimento de Aranda em 20-7-1989.
Miguel Pérez Corrales, que vivia nas Canárias, conhecera Cesariny fora do âmbito madrileno e estava em contacto epistolar com ele desde 1979 – a primeira carta que recebeu da Rua Basílio Teles data de 9-11-1979. Ele contou assim a história no testemunho que me deu: El curso 78-79 me lo paso entero en Portugal. Entonces leía absorbentemente a Pessoa, Sá-Carneiro (estos dos sobre todo), Almada, Pessanha, Cesário Verde, etc. Pero es en el otoño de 1979 cuando cae en mis manos el libro de Mário Textos de Afirmação e de combate…, sin duda o libro que más portas me ha abierto, después de la Antología del humor negro de Breton. Pero más importante que esa función fuel a revelación de que el surrealismo no era un movimiento del pasado, sino que existía aún, que había quienes seguían reclamándose de él. No sé como obtuvo la dirección de Mário, pero debo haber sido yo quien le escribió, enviándole desde Canarias las obras surrealistas de mis paisanos. Extraño caso, ya que muy raramente he dado yo el primer paso en una relación intelectual, tal vez por timidez que es fácil llamar insular.
As cartas de Cesariny a Guy Girard foram por mim transcritas, anotadas e publicadas (revista A Ideia, 2018). Os dois não se chegaram a encontrar cara a cara.
Laurens Vancrevel e Cesariny promoveram um inquérito sobre Breton no final de 1991 (ou início de 1992) em resposta à exposição “André Breton e o surrealismo”, que teve lugar (com um catálogo monumental de 512 pp.) no Centre Georges Pompidou entre 25-4-1991 e 26-8-91 e que passou depois a Madrid, museu Rainha Sofia. O inquérito pretendeu-se um contraponto a esta homenagem oficial com uma única pergunta: “ Que deveis vós, pessoalmente, a André Breton?” Já na primeira metade do ano de 1991, Cesariny reagira à edição comemorativa pelos Correios franceses dum selo com o busto do surrealista. Protestou, juntando ao selo a frase “Merde à la poste surréaliste française” e fotocopiando o conjunto, que foi enviado e reproduzido (v. A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 36, Janeiro/Março, 1994). As respostas ao inquérito sobre Breton foram dadas na revista Salamandra (1993). Entre os portugueses responderam Lima de Freitas, Eurico Gonçalves, Ernesto Sampaio. A de Cesariny foi ainda reproduzida no boletim da editora Assírio & Alvim, A Phala (n.º 36, Janeiro/Março, 1994). Além de indicar o momento em que chegou à leitura de Artaud, 1948, a resposta coloca decisivamente os procedimentos surrealistas fora do “âmbito da literatura” (idem): (…) tal técnica não pertence ao âmbito da literatura, mas ao das técnicas xamânicas do êxtase e às evocações rituais de Osíris (…). É neste plano que deve ser entendido o seu diálogo final com os sinais pictóricos, com vida espiritual própria, como as Naniôras.
Para a estadia de Cesariny na Residência dos Estudantes há duas cartas de Juan Carlos Valera a Seixas (6-6-1995, 22-6-1995; inéditas; arquivo U.É.). Na primeira diz: El outro dia (31 de Mayo) recibí una invitación de M. Cesariny para asistir a la lectura de poemas que daba en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Cuando asistí me encontré con Eugenio Granell al que no conocía personalmente. Na segunda acrescenta: Mário Cesariny ha estado en casa de Manolo unas 2 semanas. Yo solo lo vi el día de su lectura de poemas en la Residencia de Estudiantes. Amable, encantador y fragilísimo. (…) Su voz fue rápida, pero audible, y el salón estaba lleno (…). Días después, Manolo hizo una “soirée” en su casa con los grupos “Salamandra”, J. Kleiman, Cesariny y otros hasta un total de 15 o 16 (…).
Sobre a presença de Pascoaes na Residência de Estudantes, em Madrid, há esta nota de Pinharanda Gomes (A saudade e o saudosismo, 1988: 189): Em 1923, Pascoaes proferiu, na Residência de Estudantes em Madrid, uma conferência sobre o mesmo tema (…) – D. Quixote e a Saudade – que prometeu publicar (cf. A Águia, vol. II, 3.º S., Janeiro/Julho, 1923 pp. 203-4). Que tenhamos visto, tal conferência não chegou a ser publicada em A Águia, que nas páginas citadas faz o relato da estada de Pascoaes em Madrid.
Na carta de Manolo Rodriguez Mateos a Seixas, escrita no rescaldo do encontro de Cesariny e Seixas pouco antes, em Dezembro, na exposição deste na galeria de Pereira Coutinho, há curiosíssima informação sobre a relação que na parte final da vida Cesariny tinha com o muito dinheiro que entretanto juntara (25-2-2004; inédita; arquivo U.É.): Hablé por teléfono hace poco con él. No me comentó nada de su encuentro contigo (…). Sí me dijo, que se sentía muy desanimado y sin ganas de hacer nada. También me comento que ahora tiene dinero y que no sabe en qué utilizarlo.
Sobre a presença de Cesariny num dos eventos de Ribeiro de Mello – a apresentação das traduções portuguesas do Anti-Duhring de Engels e do Grande livro de S. Cipriano e de outros livros da editora Afrodite – ficou registo escrito numa crónica pública de Fernando Dacosta (“Dar banho à literatura”, revista Notícia, 1-1-1972), acompanhada de fotografia em que capta a sua presença ao pé do editor
Quase uma década depois da morte de Dácio, Mário Cesariny viu assim a sua partida (Verso de autografia, 2004, s/n.º p.): O Virgílio Martinho morreu, morreu com um cancro. Mas houve uma coisa bonita. Eu estava em Londres, e o Ricarte-Dácio e o Virgílio Martinho combinaram uma coisa: se o Virgílio começasse a ter aquelas dores horríveis do cancro – acho que hoje já há mais remédio para isso, mas não altura não havia – o Dácio dava-lhe um tiro. Finalmente, o Virgílio Martinho morreu de cancro, mas sem dor – sem dor, morreu. Mas o Ricarte-Dácio ficou com o revólver ou a espingarda em casa. (…) sabes o que é que ele fez? Agarrou na espingarda, não sei por onde é que começou, mas matou a mulher, matou o filho, matou o gato e matou-se. Alguma gente, alguns amigos censuram sobretudo a morte do filho, mas o que é que o filho ia fazer? Ia pedir esmola para a rua? Eu acho isso tão discutível como belo, sublime, à romana, não é? Pum! Acabou! Virgílio Martinho faleceu em 1994 e Dácio no ano seguinte.
Para a presença de Cesariny no funeral de Al Berto leia-se o testemunho de José Manuel dos Santos (“O espelho vazio”, Público, 8-12-2006): Uma tarde, o Al Berto tinha morrido e eu fui à Basílica da Estrela. Quando entrei na capela mortuária, plena de gente, Cesariny estava sentado junto do corpo do poeta morto. Ao ver-me, ergueu-se e gritou, no silêncio: “Vens visitar um morto e não me vais visitar a mim, que ainda estou vivo!”
Philip West faleceu no final de Junho de 97. Manolo Rodriguez Mateos escreveu nesse mesmo dia a Seixas a dar-lhe a notícia (24-6-1997; inédita; arquivo U.É.): Estoy triste y nervioso porque cuando comenzaba esta carta, me ha telefonado Marian desde Zaragoza para decirme que nuestro querido amigo Philip acaba de fallecer. (…) Pepe le apreciaba mucho y Philip tuvo una actitud muy cariñosa conmigo cuando Aranda murió.
As metamorfoses de Lisboa foram logo sentidas na segunda metade da década de 80. Numa entrevista de 1988 diz (Semanário, 4-6-1988): Lisboa é para mim uma cidade fantasma. Mudou tudo, mudou muito. Eu não estou a reivindicar esse tempo, estou a só dizer. Ainda me lembro duma Baixa onde às onze da noite havia um movimento que há hoje às quatro da tarde. Agora é tudo escritórios, oficinas e empresas, e deixou de estar habitado. Tornou-se num deserto. O carinho pela Baixa da sua infância ficou assim expresso (O Independente, 20-5-1988): A Baixa desenhada pelo Marquês é fantástica. Tem as proporções certas – não humilha nem envergonha. A Baixa podia ser Nova Iorque no século XVIII.
Sobre o reencontro com Eugénio de Andrade no Porto, em 8-5-1999 ficou a seguinte notícia no jornal Público (Óscar Faria, “Mário Cesariny encontra Eugénio de Andrade na livraria Assírio & Alvim, no Porto”, 10-5-1999): Quando principiava a correr o boato sobre a ausência de Mário Cesariny de Vasconcelos, anteontem, na sessão de lançamento da reedição de Pena capital, o poeta encarregou-se de o desmentir com a sua presença na Assírio & Alvim do Porto à hora marcada. (…) À sua espera, no exterior da loja, encontrava-se Eugénio de Andrade, que lhe ofereceu um longo e afectuoso abraço. Nada aí se diz sobre o que dividira os dois poetas em 1951. Arnaldo Saraiva no texto que dedicou a Cesariny depois da sua morte, “(Des)encontros com Eugénio” (J.L., 20-12-2007), e em que refere o grave atrito da década de 50, fala assim do reencontro dos dois: (…) as magníficas fotos tiradas nesse ano [1999] na inauguração da portuense Assírio & Alvim, em que eles aparecem juntos e eufóricos como se tivessem a idade em que se conheceram.
Sobre a ida de Cesariny ao Salão do Livro de Paris de 2000 encontra-se esta notícia no jornal Público (27-11-2006): Em 2000, quando o Salão do Livro de Paris teve Portugal como país-tema, Cesariny que não fora integrado na delegação oficial, viajou com Manuel Rosa e Manuel Hermínio Monteiro, da Assírio & Alvim. “ A certa altura [conta Manuel Rosa] havia uma recepção na embaixada. Mas perdemo-nos de carro, à volta do Arco do Triunfo, a chover, de noite. E o Mário, que não queria ir ao Salão, muito contente, ia dizendo poemas do Apollinaire, do Baudelaire e cantava canções anarquistas.” As canções que os operários do pai lhe cantavam em miúdo.
Manuel Rosa deu o seguinte testemunho sobre a estadia em Paris em Março de 2000 e a procura que então fizeram das versões do poema de Guilgamesh (6.ª, revista suplemento do D.N., 29-12-2006): “Da última vez que viajámos juntos (Paris, 2000), fomos várias vezes à Bibliothèque Nationale e a alfarrabistas, pesquisar versões [da epopeia de Guilgamesh] que ele sabia existirem e nunca tinha encontrado antes. Mandámos fotocopiar, reuniu-se todo esse espólio, mas depois perdeu a vontade de encontrar, no meio disso tudo, a suas própria versão. Só saíram aqueles fragmentos em 2001 (…). Para obtê-los, ia visitá-lo à casa da Caparica, no Verão, depois do jantar, e ele ditava-me dos seus apontamentos, ou de cor, as partes que queria. Eu levava para composição, no dia apresentava-lhe as provas e ele corrigia. Depois não se conseguiu mais nada. Ele já estava com a depressão… que o levou à desistência final. Também não tinha expectativas editoriais; a única coisa a interessar-lhe bastante que se fizesse depressa era o livro de artista Fora de Horas e algumas reedições.
Manolo Rodriguez Mateos deixou numa carta a Cruzeiro Seixas um testemunho directo sobre a presença de Cesariny em Cáceres em Maio de 2000 (7-6-2000; inédita; arquivo U.É.): También me extrañó que Mário, al que encontré muy mejorado, fuese capaz de levantar se tan pronto para salir del hotel sobre las nueve y media de la mañana y aguantar luego las charlas de unos y de otros. Desde luego, al último día lo encontré bastante cansado pero contente. Ficou instalado no Hotel V Centenário (nome que tanto detestava). O jantar de 24 de Maio decorreu na Torre de Sande, na Cidade Monumental, e o almoço do dia seguinte (onde estive e de ficou fotografia de Manuela Correia) foi no restaurante El figón, na Praça San Juan. A fonte para estas indicações é Ana Oliveira, então funcionária do Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças da Junta de Extremadura e que acompanhou o evento.
Sobre o Parque dos Poetas em Oeiras veja-se a notícia no jornal Público (18-8-2000): “Não gosto, não quero e não autorizo”. É nestes termos que o Poeta Mário Cesariny rejeita a ideia de lhe ser erguida uma estátua no Parque dos Poetas, em Oeiras, algo que o arrepia. Seixas comentou assim a notícia em carta para António Domingues (26-8-2000; inédita; arquivo da U.É.): Todas as estátuas são uma coisa aterradora, ou apenas o são as do escultor Francisco Simões? Mais tarde escreveu a Herberto Helder (30-1-2001; idem): Ele já marcou aquele território como seu, chegando a ameaçar ir lá com um grupo de amigos partir aquilo tudo à martelada como o Breton fazia nos anos 20! A mim me parece que há não poucas coisas a partir à martelada antes das esculturas do tal Jardim dos Poetas. Sem embargo de não ter tomado expressão pública, ficando-se por umas tantas cartas privadas, a questão do Parque dos Poetas foi mais um ponto a dividir Seixas e Cesariny.
Sobre a exposição “O Surrealismo em Portugal 1934-1952” no Chiado em Maio de 2001, as peripécias e o fogo cruzado a que deu lugar leiam-se as anteriores anotações ao capítulo “As Pirâmides de Teotihuacan”.
A exposição de Seixas e Raul Perez Perez (“As mãos são a paisagem que nos olha: pintura e desenho de Cruzeiro Seixas e Raul Perez”) que teve lugar em Dezembro de 2003 na galeria S. Mamede já então dirigida por Pereira Coutinho (filho), foi o reatar das relações entre os dois, Seixas e Perez, que tinham esfriado ao longo da década anterior. Leia-se este passo de Seixas em carta a Perez (26-2-2002; inédita; arquivo U.É.): Julgo que há uns 5 anos deixou de me contactar, sem eu saber o que de facto se passou. (…) Se tem algo a dizer dirija-se a mim directamente por carta, por telefonema, ou frente a frente. No desejo de que as coisas tanto quanto possível se esclareçam lhe escrevo este bilhete. A diferença de idade entre os dois era quase um quarto de século – Perez nascido em 1944 e Seixas em 1920. O conhecimento de ambos acontecera na transição da década de 60 para a de 70, quando Seixas tomou conta da orientação artística da galeria S. Mamede e chamou para a galeria jovens criadores como Perez e Mário Botas.
O que caracteriza o reencontro de Dezembro de 2003 entre Seixas e Cesariny na galeria S. Mamede foi este ter ido de propósito à exposição para o encontrar. Outros encontros anteriores terão existido, em exposições ou livrarias, mas fruto do acaso. Todos com resultado idêntico: vistoso afecto por parte de Mário e muita desconfiança pelo lado de Seixas. Leia-se este passo duma carta para Juan Carlos Valera (26-12-1995; inédita; arquivo U.É.): Vamos lá ver se o Cesariny não vai sabotar esta iniciativa, como tem feito noutras oportunidades que se têm oferecido. Comicamente já por duas vezes em locais públicos e em encontros de acaso ele vem direito a mim, e abraça-me efusivamente! Um espanto! Eu não posso deixar de me sentir completamente frio, pois o seu teatro já não me toca.
Após o encontro na galeria S. Mamede em Dezembro de 2003, Manolo Rodriguez Mateos escreveu a Seixas, sugerindo novos encontros que não tiveram lugar até Novembro de 2006 (25-2-2004; inédita; arquivo U.É.): Recibimos el catálogo de tu expo. Y de R. Pérez en S. Mamede, así como las fotografía con Mario. Me alegré al verlas y enseguida pensé que terminaba una zona tan oscura de vuestra relación personal. Al leer tu carta, me di cuenta, que podía quedarse solo en un gesto social, sin más trascendencia. Decías en tu carta anterior, que le habías enviado un escrito sugiriéndole un encuentro y por lo que me dices en tu última carta, deduzco que Mario no te ha respondido y sería –creo y – triste, que su acercamiento se quedara solo en esa visita a la galería. (…) Y qué tal quedaría, que le devolvieses la visita, apareciendo tu por su casa, o por un lugar donde pudierais coincidir, en compañía de algún amigo común, para hablar y concretar la recuperación de vuestra antigua amistad? Comprendo que después de tantos años de separación inamistosa, sea difícil dar algún paso, pero como él se animó al de S. Mamede, podías ti ahora dar otro que no fuera escrito, sino personal.
O papel suporte da frase “Amigo Seixas/ Não podes imaginar quanto te estimo”, repetida por escrito várias vezes, em lápis de cor azul, o mesmo que usou em cartas escritas em 1942, foi reproduzido no livro De Mário Cesariny para Artur Manuel do Cruzeiro Seixas (Assírio & Alvim, 2009: 14-15).
Para a morte de Henriette ler o testemunho que José Manuel dos Santos me deu: Quando soube que a Henriette estava doente, o Mário ficou com os olhos apertados (…). Mas depois foi como se o cancro o ouvisse e se tivesse ido embora. Mais tarde, foi uma punção que apressou o fim. A Henriette fez o exame e voltou para casa. A seguir, sentiu-se mal e voltou para o Instituto Português de Oncologia. Aí, a morte não demorou a encontrá-la. Foi em Março de 2003 [sic], uns dias depois dos anos dela, feitos a 10, momento em que ainda esteve bem e contente, a comer o bolo de uma festa feliz. O Mário recebeu essa notícia que não era esperada como quem dá ao corpo uma força que não tem (…). O velório foi na igreja de São Sebastião da Pedreira e, no dia seguinte, a cremação foi no cemitério do Alto de São João. O Mário não esteve nem na igreja nem no cemitério. Ficou em casa, onde a Henriette continuava muito mais presente do que na igreja ou no cemitério. Nessa noite, fui à Igreja com a minha irmã e, a seguir, lá a casa, onde encontrámos a Ilda, o Manuel Rosa e o Bernardo Pinto de Almeida. O Mário estava alucinado de alarme, aperto e desolação. (…) Aquela morte expatriava-o, despovoava-o, desertificava-o. O seu riso era o de Artaud e às vezes o que dizia parecia vir de uma peça de Beckett. (…) A sua estatura era uma sombra gigante na parede alta do quarto. Foi assim que o vi. É assim que o vejo. É assim que o lembro – inteiro, íntegro, imenso (…).
A morte de Henriette foi datada pelo irmão de 16-3-2004 mas o Assento de Óbito (n.º 5449) indica 17-3-2004, às 12 horas e 15 minutos.
Para a ida de Jorge Sampaio à Rua Basílio Teles contei com o seguinte testemunho escrito de José Manuel dos Santos: Foi no final de Novembro de 2005. Acompanhei Jorge Sampaio à Rua Basílio Teles, num fim frio de uma tarde triste. Antes, tínhamos passado pela Galeria 111, onde estava o velório do Manuel de Brito, que morrera por aqueles dias. Nessa ocasião, entregava-se também ao autor de “Pena Capital” o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores, que lhe fora atribuído. Do Campo Grande para Palhavã, o trânsito movia-se com a lentidão de uma tinta já seca. A certa altura, Sampaio, para continuar fiel à sua pontualidade britânica, saltou do carro e lá fomos a pé em passo acelerado. Cesariny recebeu-nos com um casaco de malha castanho-claro e a fumar. Estava sempre a fumar e esteve sempre a fumar. Quando, sentados num sofá da sala, conversavam e ele fumava o cigarro e as palavras, o Presidente comentou: “ Fuma muito!”. Ele respondeu: “Já agora, não vale a pena desistir”. Sampaio deu uma gargalhada. Quando lhe impôs as insígnias do grau maior da Ordem da Liberdade, Cesariny afirmou: “Para mim, a Ordem da Liberdade é a Ordem do 25 de Abril. Esta é a Ordem das pessoas de bem do nosso país”. (…) A seguir, agarrou e beijou o metal que tinha sido posto no seu peito e gritou: “A Santa Liberdade!” José Manuel dos Santos contou ainda outra história sobre o tabaco em Cesariny (revista Relâmpago, n.º 26, 2010: 151): (…) um dia, em Espanha, num colóquio – contou-me Ana Hatherly –, ele não parava de fumar. Então um dos anfitriões reparou: “Maestro fuma mucho!” Ele imediato e fulminante retorquiu: “Mucho, no! Siempre!”
E até ao final fumou assim – sempre! A derradeira fotografia captou-o na cama, já sem se levantar, deitado, mas a fumar (revista Tabu, O Sol, 11-12-2006). Sobre o tabaco registe-se ainda este dito (O Independente, 20-5-1988): O fumo dos cigarros é o luxo dos pobres. Na mesma ocasião, Cesariny contou o seguinte caso: Cada época tem os seus puritanismos. Agora é o tabaco. Há uns dias ia de táxi e ouvi uma descompostura medonha. O condutor era um rapaz novo e começou a praguejar – porque os senhores são assassinos, prejudicam o próximo, portam-se como suicidas. Tive de o mandar parar e saí. Paguei só para não ter de o ouvir mais.
Ficou fotografia de Cesariny de laço cor de laranja atravessado no peito com Jorge Sampaio na sala de estar da casa, os retratos da família por trás, no jornal Correio da Manhã (27-11-2006). Sobre a Ordem da Liberdade disse numa entrevista final (revista Tabu, O Sol, 7-10-2006): Recebi com alegria a Ordem da Liberdade, porque era a Ordem da Liberdade. Liberte chérie! Reforçou porém na mesma entrevista que o “reconhecimento” público lhe era indiferente: Não dou muita atenção a isso, sabe?!
Anos antes de receber o prémio Vida Literária, mostrou-se corrosivo contra a acumulação de prémios literários (O Independente, 20-5-1988): O David Mourão-Ferreira recebeu quatro [prémios] no mesmo ano. Ora quatro prémios pela mesma coisa dá uma imagem de país de imbecis e doidos varridos. Isto contado em França dava cancelamento de passaporte.
Em 1962 já havia tomado posição pública contra os prémios literários numa carta dirigida ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores e assinada também por Ernesto Sampaio e Virgílio Martinho. A carta, nunca publicada, foi na altura policopiada e enviada a vários jornais. Transcreve-se uma parte (documento existente no espólio de Luís Amaro B.N.P.): Os escritores abaixo assinados, confiados no elevado espírito responsável pela boa formação da S.P.E., a propósito do júri eleito para a atribuição do “Grande Prémio de Poesia”, vêm por este meio impor um voto de desconfiança a essa eleição, e pedem que se proceda a novo escrutínio./ Os abaixo assinados: acusam a incapacidade literária, nalguns casos tocando a indigência mental, do dito júri; fazem notar a desqualificação que o mesmo representa para os concorrentes; discordam do título com que já se levou ao público ledor a proposta distinção, assim apresentada à gritaria em torno das correrias de cavalos; reservam o direito, em nome da modernidade, de dar pública forma a este documento. Nesta carta os prémios literários são comparados a “corridas de cavalos”.
No meio surrealista internacional a notícia dos dois prémios – EDP e Vida Literária – e da ordem honorífica passou despercebida, mas ainda assim ouviram-se críticas. Miguel Pérez Corrales, que estava em contacto epistolar com Cesariny desde 1979 e que chegou a merecer as honras duma folha Noa Noa, não deixou de anotar o seguinte no número que a revista La página (2013) consagrou ao poeta: Mário Cesariny é hoje um autor consagrado, cujos únicos tropeções foram dados no final da vida: em 2002, aceitou o prémio da Fundação EDP (Electricidade de Portugal, melhor dito, Empresa Destruidora de Portugal), que lhe publicou um livro com o texto original do agressor do Navio de Espelhos, e em 2005 o da Caixa Geral de Depósitos, com a agravante de ao mesmo tempo receber em sua casa um descerebrado presidente da república campeão do ultra-politicamente correcto, para ser condecorado com a Grã-Cruz (!) da Ordem da Liberdade.
Três anos depois foi a vez de Seixas ser convidado para receber uma ordem honorífica. Diante do convite ainda escreveu para Laurens ao fim de muitos anos de silêncio o seguinte [s/d (2009); inédita, arquivo U.É.): Daqui, o pouco ou o muito que tenho a dizer-vos é que a Pátria (ou coisas dessas) resolveu pendurar-me ao peito uma condecoração pela mão do Presidente da República. Quero dizer-te que tudo farei para que tal não aconteça. Acabou porém por aceitar e por receber a 10-6-2009 das mãos de Aníbal Cavaco Silva o colar de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada.
O’Neill por sua vez recusou a Ordem de Santiago da Espada no segundo mandato de Ramalho de Eanes. Clara Ferreira Alves, que o entrevistou no final da vida, disse assim (Expresso, 21-9-1985): Quiseram dar-lhe uma medalha, a Ordem de Santiago da Espada. Respondeu, por escrito, que não aceitava porque se havia entre ele e o país uma dívida, era ele quem devia. “Sou contra, era a forma mais simpática de dizer não.” Só depois de morto o conseguiram medalhar.
“O forte e o leal Seixas” está numa carta (25-11-1949) de Mário Henrique Leiria a Mário Cesariny publicada no anexo do trabalho de Maria de Fátima Marinho (1986: 668).
A autenticação do quadro falso está em testemunho que Bernardo Pinto de Almeida me deu: (…) ligou-me porque estava na dúvida de aceitar a condecoração do Sampaio. Porque era surrealista e isso talvez não lhe ficasse bem. Eu disse-lhe que a condecoração só condecorava quem a dava, no seu caso, e ele acabou por aceitar. De outra vez liguei-lhe eu, já para o fim, porque me mostraram um quadro evidentemente falso, mas certificado por trás por ele numa letra que identifiquei como a sua. Ficou aflito e contou-me: “É que apareceu aqui um jovem casal que tinha comprado este quadro que é falso. Mas eu gostei tanto deles que o autentiquei…”
Para os encontros de Sergio Lima com Mário Cesariny contei com o testemunho escrito de Lima: (…) minha primeira estada com Mário ocorreu no mês de Março 1994 imediatamente antes de minha ida à Universidad de La Laguna/Tenerife/Canárias (…). O segundo encontro, 1996, ocorreu em Dezembro, dias 15 e 16, e estivemos pessoalmente com ele (Miguel Pérez Corrales e eu) por duas vezes. (…) O último encontro com Mário foi em Junho de 2006, antes de irmos (Fátima Roque, Célia e eu) para o Congresso dedicado a Óscar Domínguez.
Para a tarde de 2-11-2006 contei com o testemunho pessoal escrito de Miguel de Carvalho e o mesmo para o dia 11, em que Cesariny se levantou para evocar a partida de António Maria Lisboa. Miguel de Carvalho ainda voltou a estar uma vez na Rua Basílio Teles e o seu testemunho para esse último encontro é assim: A última vez que estive com Mário foi na semana seguinte ao do aniversário do [António Maria] Lisboa. Mário estava muito debilitado, deitado na cama. Na companhia da Lu, sua funcionária doméstica, ela e eu tentámos sentá-lo na borda da cama afim de podermos conversar, mas Mário apenas acenava com a mão, em jeito de negação, tão pouco tinha vontade de conversar. Retirei-me de seguida. Subentendi aquele aceno como uma despedida para uma partida definitiva que se avizinhava.
Para as horas finais da noite da partida leia-se o testemunho que José Manuel dos Santos me deu: O Mário morreu quando o dia ia chegar, por volta das cinco horas, acompanhado pelo casal de empregados que o cuidava, a Lurdes e o Manuel Inácio. Foram eles que avisaram o Manuel Rosa e a Ilda David, que tinham lá estado até à uma da manhã. A agonia foi serena e sonolenta. O Manuel e a Ilda contam que o moribundo se distanciava do mundo e depois voltava a ele para perguntava as horas. Parecia uma passagem do drama estático ’”O Marinheiro”, de Fernando Pessoa.
O Assento de Óbito de Mário Cesariny de Vasconcelos (Conservatória do Registo Civil de Loures – Assento n.º 658) indica a hora precisa do falecimento – “5 horas e 30 minutos”.
Cerca de três anos depois da sua partida tive o seguinte sonho com a sua morte (?-10-2009): “Cesariny morre de pincel na mão, a pintar. Traça energicamente no chão grandes figuras geométricas – quadrados, triângulos círculos –, usando três cores escaldantes – vermelho, amarelo e laranja! As formas e as cores noivam entre si e recordam os versos que ele escreveu “EU SOU O NOIVADO / DO TRIÂNGULO DA ESFERA E DO QUADRADO” (“Mário Sacramento”, O virgem negra…).
Sobre o quarto da Rua Basílio Teles que ele ocupou durante décadas e o “catre” que aí tinha leia-se o testemunho que Eugenio Castro me deu, ele que nele esteve cerca duma semana: Yo dormía en lo que se me presenta como el estudio-alcoba de Cesariny. De él, lo que más ha quedado impregnado en la memoria es la humildad del sitio, que asocio, todavía hoy, a una cierta austeridad. Es este clima lo que mejor retengo, junto a la imagen de una cama sencillísima, pegada a una pared, donde yo dormía. Que en otra pared hubiese colgado él una pintura que yo le había regalado, en algún momento anterior, en Madrid, no dejaba de suponer una alegría para mí, la cual no me quiero hurtar de referir aquí.
Sobre a “alma” da casa em que Cesariny viveu mais de seis décadas e na qual faleceu, Castro registou-me o seguinte: La casa de Mário Cesariny en la calle Basílio Teles tenía el efecto de un fuerte encontronazo de tiempos. Lo que fluía en el exterior, con su velocidad y banalidad posmodernas, no afectaba para nada lo que se había fijado en el interior. Un espacio que oscilaba entre lo decimonónico [o arcaico] y la intemporalidad de un “archivo”, bibliotecario y humano, que contenía un vivir surrealista.
Manolo Rodriguez Mateos, um dos mais antigos amigos de Cesariny então vivo (no início da década de 60 já o conhecia), foi avisado do falecimento por Miguel de Carvalho: Recebi a notícia da sua morte na manhã de 26 de Novembro por telefone pela voz da Lu. Fiquei incumbido de comunicar o sucedido aos seus amigos em Madrid e Cuenca. Manolo e Valera prontificaram-se a vir até Lisboa no dia seguinte. Combinámos juntos ir ao funeral. Na Biblioteca do Palácio das Galveias, reunimo-nos para a última despedida. Estava presente a filha (de quem não me recordo o nome) de Francisco Aranda com Salette Tavares, que veio com Manolo e comigo à cerimónia.
Com fortuna pessoal – trabalhara desde novo no imobiliário –, Manolo quis então comprar o andar da Rua Basílio Teles para o conservar tal como estava, criando uma casa museu dedicada a Cesariny – e com certeza a Aranda, que continuava a ter família em Lisboa. Com destino já traçado para o andar, o senhorio recusou vender.
O testamento final que revogou os anteriores foi feito a 16-7-2004 na casa da Rua Basílio Teles perante a notária do 22.º cartório notarial de Lisboa. O artigo respeitante à Casa de Pia reza assim: Lega à Casa Pia de Lisboa, na Avenida das Descobertas, todas as quantias que se encontrem depositadas em quaisquer instituições bancárias, em seu nome, deduzindo delas as que forem destinadas a fazer frente a despesas porventura necessárias no cumprimento do presente testamento (…). As quantias apuradas deram a soma de 1.038.290,54 euros. Os testamentos públicos anteriores – todos lavrados no 22.º cartório notarial de Lisboa – haviam sido feitos antes do falecimento da irmã Henriette (2-7-1996; 14-10-2003; 28-1-2004).
14 EPÍLOGO
Sobre o voo da alma no momento da morte e as técnicas xamânicas que Cesariny praticou através do automatismo psíquico recupere-se a seu favor a apropriação que ele fez de Mircea Eliade na “Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva” e que diz o seguinte (2017: 315-6): “A técnica por excelência xamânica consiste na passagem de um plano cósmico a outro. O xamã é detentor do segredo da ruptura dos níveis. Existem três grandes planos cósmicos ligados por um eixo central, o Pilar do Céu. Este eixo passa por uma “abertura”, um “buraco”, por onde o espírito do xamã pode subir ou descer em voos celestes ou descidas infernais”. [Citação apenas existente na versão publicada em 19 projectos de prémio Aldonso Perdigão… (1971) e edições sequentes.]
ABREVIATURAS
LIVROS & PUBLICAÇÕES
Alguns Mitos maiores…
Alguns mitos maiores alguns mitos menores propostos à circulação pelo autor
As mãos na água…
As mãos na água a cabeça no mar
Cartas de M.C. para A. de L.
Um sol esplendente nas coisas – Cartas de Mário Cesariny para Alberto de Lacerda
Cartas de M.C. para C.S.
Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas
Cartas para a Casa de P.
Cartas para a Casa de Pascoaes
Cartas para F. e L. Vancrevel
Um rio à beira do rio – Cartas para Frida e Laurens Vancrevel
Contribuição ao registo de nascimento…
Contribuição ao registo de nascimento, existência e extinção do Grupo Surrealista de Lisboa
Discurso…
Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano
Louvor e simplificação…
Louvor e simplificação de Álvaro de Campos,
O virgem negra…
O virgem negra, Fernando Pessoa explicado às criancinhas naturais & estrangeiras por M.C.V.
19 projectos de prémio Aldonso Perdigão…
19 projectos de prémio Aldonso Perdigão seguidos de Poemas de Londres
Textos de afirmação e de combate…
Textos de afirmação e combate do movimento surrealista mundial
The ted oxborrow’s…
The ted oxborrow’s perpetual mention food magazine. Portuguese section of the Illinois-Vladivostock area
JORNAIS
D.L. – Diário de Lisboa
D.N. – Diário de Notícias
D.P. – Diário Popular
J.L. – Jornal de Letras, Artes e Ideias
J.L.A. – Jornal de Letras e Artes
J.N. – Jornal de Notícias
OUTROS
B.C.P. – Banco Comercial Português
B.P.A. – Banco Português do Atlântico
B.N.P. – Biblioteca Nacional de Portugal
G.S.L. – Grupo Surrealista de Lisboa
J.U.B.A. – Jardim Universitário de Belas Artes
M.U.D. – Movimento de Unidade Democrática
P.C.P. – Partido Comunista Português
R.T.P. – Rádio Televisão Portuguesa
S.N.B.A. – Sociedade Nacional de Belas Artes
S.N.I. – Secretariado Nacional de Informação
U.É. – Universidade de Évora
CRONOLOGIA
1923
Nasce na Estrada da Damaia, na freguesia de Benfica, em 9 de Agosto, às 19 horas, filho de Viriato de Vasconcelos, oficial e industrial de ourivesaria, natural de Tondela, e de Maria Mercedes Cesariny Escalona de Vasconcelos, doméstica, natural de Hervàs, entre Cáceres e Plasência. É o mais novo dos quatro filhos do casal.
1934
Entra no Liceu Gil Vicente, em Lisboa, que frequenta por um ano, concluindo com aproveitamento em todas as disciplinas.
1935
Entra na Escola António Arroio, no curso de cinzelagem. Inicia-se como aprendiz no ofício do pai, com casa, oficina e escritório na rua da Palma n.º 24. Conhece Cruzeiro Seixas. Dentro em pouco inicia estudos de música na Academia de Amadores de Música, cerca do Chiado. Primeiras discordância com o pai.
1938
Transfere-se na Escola António Arroio para o curso de Habilitação à Escola Superior de Belas Artes, ramo de Arquitectura, que frequenta até ao ano lectivo de 1942-3. Há certificado de aprovação no curso. Na Escola António Arroio conheceu e conviveu ao longo destes anos com Cruzeiro Seixas, Pedro Oom, Fernando José Francisco, António Domingues e alguns outros. Não tardará a mudar de residência para um segundo andar na Rua Basílio Teles, em Lisboa.
1942-43
Retoma os estudos de música com Fernando Lopes Graça, que conheceu por mediação da pianista Maria da Graça Amado Cunha, que passava o Verão nas praias do Norte (Póvoa e Moledo do Minho), onde a família de Cesariny (a mãe e as três irmãs) também veraneavam. Acentuam-se as discordâncias com o pai. A partir de 1942, primeiras pinturas, poemas e desenhos. Escreve os versos de “A Poesia Civil” e de “Burlescas, Teóricas e Sentimentais”, recolhidas em antologias posteriores (1961 e 1972). Café Herminius, ao cimo da Almirante Reis, no cruzamento com a praça do Chile, onde se reúnem ou aparecem José Leonel Martins Rodrigues, Fernando José Francisco, Cruzeiro Seixas, Fernando Azevedo, Júlio Pomar, Pedro Oom, António Domingues e outros. Pinta o quadro “Quando o pintor é um caso à parte”, que se perdeu e de que fez uma réplica em 1970. O mesmo fará em 1972 com uma tentativa de reconstituição do quadro “História do arco da velha” de José Leonel Martins Rodrigues. Conhece António Pedro.
1944-45
Adere ao neo-realismo e ao P.C.P., adesão que mantém até à Primavera de 1947. Participa no M.U.D., nascido em Outubro de 1945, com certidão legal de vida, um mês antes das eleições de Novembro para a Assembleia Nacional (o movimento não concorre porém às eleições, alegando falta de condições). Escreve “Nicolau Cansado Escritor”, publicado na antologia de 1961, Poesia (1944-1955). Cesariny aludirá, mais tarde, à perda de textos que constituíam essa “biografia” de um momento da falta de espaço português. Conferência no Barreiro, “A Arte em crise”, repetida em Évora com a participação de Mário Ruivo e Júlio Pomar. Publica artigos – que mais tarde classificará de bastante maus – no suplemento “Arte” do jornal A Tarde, do Porto, onde colaboram também Fernando José Francisco, José Leonel, Vespeira, Pomar, Oom e outros. Colabora ainda nas revistas Seara Nova e Aqui e Além.
Relações próximas com Fernando Lopes Graça; chega a dirigir o grupo coral deste em visitas a fábricas e sociedades de recreio (inclusive na primeira audição do hino do MUD). Conhece José Cardoso Pires, Luiz Pacheco e Alexandre O’Neill. Escreve os poemas do livro Nobilíssima Visão (1959), primeira edição, dedicada a Fernando Lopes Graça, já que a segunda, 1976, funciona como antologia de textos escritos entre 1945-46 (poemas de Nobilíssima Visão e de “Nicolau Cansado Escritor”, a que junta Um Auto para Jerusalém e Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos), já sem a dedicatória.
1946
Escreve Um auto para Jerusalém e o poema Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos, de que apenas sobreviveu uma parte e que apresentará como “despedida da teorética neo-realista e primeiro exercício de constatação de que, em realidade abjecta, não há nada para reabilitar, sendo a única estrada de fortuna a da vagabundagem social, moral e política”. Conhece António Paulo Tomaz.
1947
Adesão ao surrealismo na Primavera. Tem com Alexandre O’Neill, António Domingues e João Moniz Pereira a ideia de formar um grupo surrealista português. Colagem com fotografia da cabeça de De Gaulle. Visita em Paris, em Setembro, André Breton, por indicação de Cândido Costa Pinto. Primeiras adesões ao Grupo Surrealista de Lisboa: Fernando Azevedo e Marcelino Vespeira. Mais tarde: António Pedro (que substitui Cândido Costa Pinto) e José-Augusto França. Oficina numa água-furtada da avenida da Liberdade, com Alexandre O’Neill e António Domingues. Experimentação dos processos surrealistas, encarados como processos de libertação da alma. Pinta “O operário” e “Uma homenagem a Victor Brauner” (o que voltará a fazer em 1966 na morte do pintor romeno). Dirá que o exemplo de Brauner, vida e obra, foi o que mais directa e longamente influenciou o seu pendor para certo esquematismo mágico.
1948
Em Agosto desliga-se do grupo surrealista criado em Lisboa no ano anterior. Escreve grande parte dos poemas do Discurso sobre a Reabilitação do Real Quotidiano e de Alguns Mitos Maiores Alguns Mitos Menores Propostos à Circulação pelo Autor. Conhece António Maria Lisboa, Carlos Eurico da Costa, Henrique Risques Pereira e Fernando Alves dos Santos, todos mais novos do que os elementos do grupo formado na Escola António Arroio e no café Herminius. Desenha-se a ideia dum novo grupo surrealista em Lisboa, oposto ao de António Pedro e José-Augusto França.
1949
Na Primavera, criação colectiva do manifesto A Afixação Proibida, composto segundo as liberdades e certas formas do acaso do cadavre-exquis. Formação do grupo “Os Surrealistas”. Conhece Isabel Meyrelles, Mário Henrique Leiria, Carlos Calvet e João Artur Silva. Primeira sessão de “O surrealismo e o seu público em 1949” na Casa do Alentejo, com António Maria Lisboa, Henrique Risques Pereira, Carlos Eurico da Costa, Fernando Alves dos Santos e Artur do Cruzeiro Seixas; I Exposição dos Surrealistas, na antiga sala do Pathé-Baby, com os mesmos e António Paulo Tomaz, Mário Henrique Leiria, Fernando José Francisco, Carlos Calvet e João Artur Silva. António Maria Lisboa em Paris, onde conhece e convive com Vieira da Silva, Arpad Szenes e D’ Assumpção. Em Dezembro conhece Eugénio de Andrade.
1950
II Exposição dos Surrealistas na Galeria da Livraria “A Bibliófila”. Estreia em livro, Corpo Visível (composto em Lisboa, Tipografia Ideal; frase de Sade na contracapa), edição subsidiada por Eugénio de Andrade. Em Março vai ao cineteatro de Amarante com Eduardo de Oliveira e Eugénio de Andrade ouvir comunicação de Teixeira de Pascoaes sobre Guerra Junqueiro. No mesmo dia sobe pela primeira vez à casa de Pascoaes, freguesia de Gatão, onde conhece a mãe do Poeta. Acompanha António Maria Lisboa nas leituras públicas que este faz do manifesto Erro Próprio em Lisboa (Casa da Comarca de Arganil) e no Porto (Fenianos). Lamentará a ausência de Teixeira de Pascoaes neste último clube. Caso amoroso com Carlos Eurico na Casa da Barca do Lago de Eduardo de Oliveira. Partida de Isabel Meyrelles para Paris.
1951
Primeira exposição individual em casa de Herberto de Aguiar, na Foz do Douro. Polémica privada com Eugénio de Andrade a propósito da edição do livro As palavras interditas e afastamento dos dois.
1952
Partida de Cruzeiro Seixas para o Oriente e depois para África. A editora Contraponto, de Luiz Pacheco, publica Discurso sobre a Reabilitação do Real Quotidiano. Escreve A Bruxa, o Papagaio e a Solteira, peça para marionetes. Prefacia o livro de Carlos Eurico da Costa, Sete Poemas da Solenidade e um Requiem. Conhece José Francisco Aranda, amigo e estudioso de Buñuel, que se liga às actividades dos surrealistas portugueses. A partir de elementos multímodos e com o apoio de notas de António Maria Lisboa tomadas ao vivo, escreve o primeiro texto sobre Vieira da Silva, “Carta Aberta a Maria Helena Vieira da Silva”, que levará ao encontro dos dois ainda nesse ano. Convive com Manuel de Lima. Conhece Eurico Gonçalves. Morte de Teixeira de Pascoaes.
1953
Problemas policiais. São-lhe aplicados pelos serviços da Secção Central da Polícia Judiciária de Lisboa cinco anos de liberdade vigiada, por “suspeito de vagabundagem”. Publica na Contraponto Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos. Começa a traduzir Rimbaud (Une saison en enfer). Escreve Titânia, História Hermética em Três Religiões e um só Deus Verdadeiro, com Vistas a mais Luz como Goethe queria, que só verá a luz em 1977. Frequenta o Café Royal, ao Cais do Sodré. Morte de António Maria Lisboa.
1955
Trabalha como redactor no jornal O Volante, dirigido por Campos Júnior, trabalho que mantém até 1958. Começam os encontros no Café Gelo.
1956
Exposição na livraria Parceria António Maria Pereira, Lisboa, de capas para a obra póstuma A Verticalidade e a Chave, de António Maria Lisboa, editada pela Contraponto. Na mesma chancela edita Manual de Prestidigitação. Reuniões no Café Gelo; encontros com D’ Assumpção, Virgílio Martinho, António José Forte, Ernesto Sampaio, Manuel de Castro, Herberto Helder, Gonçalo Duarte, Raul Leal e outros. Convívio com Natália Correia, que lhe foi apresentada por Isabel Meyrelles.
1957
Edita Pena Capital, edição da Contraponto.
1958
Manifesto em folha volante, Autoridade e Liberdade são uma e a mesma coisa. Cesariny classificá-lo-á: insulto ao Governo no ano da candidatura à Presidência da República do General Humberto Delgado. Dá início à colecção “A Antologia em 1958” com a publicação de dois opúsculos: um próprio, Alguns Mitos Maiores Alguns Mitos Menores postos à Circulação pelo Autor, e outro de António Maria Lisboa, Exercício sobre o Sono e a Vigília de Alfredo Jarry, seguido de O senhor Cágado e o menino – edições, diz Cesariny, possibilitadas pela venda dum guache oferecido por Maria Helena Vieira da Silva. Oficina ao pé da Sé de Lisboa e da prisão do Aljube com João Rodrigues, Ernesto Sampaio e Fernanda Alves. Realiza figurinos para as peças Dois Reis e um Sono de Natália Correia e Manuel de Lima e O Rei Veado de Carlo Gozzi. Cadavres-exquis com João Rodrigues, Gonçalo Duarte, Ernesto Sampaio e outros. Primeira exposição individual em Lisboa na Galeria do Diário de Notícias.
1959
Publica Nobílissima Visão. Expõe no Porto, na galeria Divulgação, “Poesia e Pintura”. Continua a publicação da colecção “A Antologia em 1958”, que publica até 1963 uma dezena de cadernos (Virgílio Martinho, António José Forte, Natália Correia, Luiz Pacheco, Pedro Oom, Jean Schuster e outros). Organiza o primeiro número da revista Pirâmide, de Carlos Loures e Máximo Lisboa, onde colabora com o texto “Mensagem e Ilusão do Acontecimento Surrealista”, mais tarde recolhido em A Intervenção Surrealista. Morte de Benjamin Péret.
1960
Por intermédio de Luís Amaro, publica a versão portuguesa de Une Saison en Enfer, de Jean-Arthur Rimbaud, a que junta prefácio e notas. Faz um primeiro pedido de bolsa à Fundação Calouste Gulbenkian para estudar três poetas franceses (Lautréamont, Rimbaud e Jarry), que é indeferido por ser entregue fora de prazo.
1961
Publica Poesia 1944-1955 (com desenho de João Rodrigues), Planisfério e outros poemas, livro dedicado a Vieira da Silva e Arpad, e Antologia Surrealista do Cadáver-Esquisito (colaborações escritas de Mário Cesariny, Alexandre O’Neill, António Domingues, Mário-Henrique Leiria, Carlos Calvet, João Artur Silva, António Pedro, Fernando Azevedo, João Moniz Pereira, Pedro Oom, Henrique Risques Pereira, António Maria Lisboa, Mário Sá-Carneiro, Alfredo Margarido, Carlos Eurico da Costa, José Sebag, Herberto Helder, João Rodrigues, Ernesto Sampaio e Gonçalo Duarte; pictóricas de Mário-Henrique Leiria, Cruzeiro Seixas, Simon Watson Taylor e Mário Cesariny).
1962
Organiza a segunda edição, em dois volumes, na editora de Francisco da Cunha Leão, dos poemas e textos de Ossóptico, Erro Próprio, Isso Ontem Único, A Verticalidade e a Chave de António Maria Lisboa. Fim das reuniões do Café Gelo (o grupo passa efemeramente pelo Café Nacional). Começa a pensar num segundo pedido de bolsa à Fundação C. Gulbenkian, desta vez voltado para o estudo da pintura de Vieira da Silva.
1963
Expõe na loja de Carlos Battaglia. Organiza o livro Surreal/Abjeccion-ismo. Vieira da Silva escreve à Fundação C. Gulbenkian a apoiar pedido de bolsa de Mário Cesariny. Ida a Madrid de avião para colóquio internacional presidido por Pierre Emmanuel. Revê Francisco Aranda e conhece Manolo Rodriguez Mateos.
1964
Faz pedido bolsa à Fundação C. Gulbenkian com o objectivo de escrever uma obra sobre a pintura de Vieira da Silva. Parte para Paris em Março depois da entrega do pedido. Estadia em casa de Isabel Meyrelles. Regresso de Cruzeiro Seixas de África em Abril/Maio. Vê em Grenoble uma primeira grande retrospectiva da pintura de Vieira. Primeira estadia em Londres com Alberto de Lacerda, Ricarte-Dácio de Sousa e Luís Amorim de Sousa. Conhece Christopher Middleton. Regresso a Madrid no Verão para estar com Manolo e Aranda. Colhe ao vivo na oficina de Vieira em Yèvre-le-Châtel elementos sobre a sua pintura. Cria os poemas d’ A Cidade Queimada e o “Diário da Composição” que a eles se associa. Cruzeiro Seixas vai para Paris (Setembro) e assiste à prisão do amigo num cinema de bairro. É condenado a dois meses de cadeia no estabelecimento prisional de Fresnes. Em Novembro parte para Londres, onde é recolhido por Ricarte-Dácio, funcionário diplomático português apaixonado pelo surrealismo. O pedido de bolsa é deferido; vinda a Portugal no Natal com Ricarte-Dácio.
1965
Regresso a Londres depois do Ano Novo. Organiza uma antologia da poesia Dádá que não encontrou editor. Conhece Roland Penrose e Michael Hamburger. Reencontra Simon Watson Taylor, que conhecera nas acções surrealistas de Lisboa da década de quarenta. Corresponde-se com Jean-Louis Bédouin, a propósito da história do surrealismo em Portugal. Obtém dilatação de prazo na bolsa concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian. Publica A Cidade Queimada, na editora Ulisseia, de Vítor Silva Tavares e Edite Soeiro, com ilustrações Cruzeiro Seixas.
1966
Em Janeiro, vem a Lisboa ao lançamento d’ A Cidade Queimada. Convívio com João Pinto de Figueiredo. No final do Inverno, já sem bolsa, regressa de Inglaterra e ganha um subsídio da Fundação C. Gulbenkian para indagações finais em Lisboa. É pronunciado no processo movido a Natália Correia e a outros poetas por participação na Antologia da Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, publicada no final do ano por Fernando Ribeiro de Melo, processo que se arrasta até 1970. Conflitos graves com Luiz Pacheco. Primeiras alusões ao poema acádico-sumério Guilgamesh. Edição d’ A Intervenção Surrealista, súmula portuguesa das actividades surrealistas. Morte de André Breton.
1967
Em Janeiro, comemorando os 20 anos do surrealismo em português, expõe na Galeria Buccholz, onde lê versões suas de textos de Agustin Espinosa, Luis Cernuda, Luis Buñuel, Octávio Paz, Francis Picabia, Aldo Pellegrini, Arrabal, Henri Michaux, Hans Arp, Kurt Schwitters, Raul Hausmann, Ricardo Huelsenbeck, Marcel Duchamp, Georges Ribemont-Dessaignes, André Breton, Benjamin Péret, L. T. Mesens, John Cage e outros. Uma segunda leitura, projectada para a semana seguinte com textos de poetas portugueses, é proibida pela polícia. Palestra sobre a obra de Vieira da Silva, com projecção de diapositivos. Expõe com Cruzeiro Seixas na Galeria Divulgação, Porto. Conhece João Vasconcelos e Maria Amélia, herdeiros da Casa de Pascoaes. Manuel de Castro regressa da Alemanha. Recusa-se a assinar uma folha volante sobre Sade. Possível regresso à casa de Pascoaes, em Amarante, onde estivera em 1950. Organiza a participação portuguesa na XIII Exposição Internacional Surrealista, S. Paulo, Brasil, e a colaboração portuguesa no número da revista A Phala. Inicia correspondência epistolar com Sergio Lima. Número do J.L.A. dedicado à exposição de S. Paulo. Publica Cruzeiro Seixas. Trabalha como redactor no J.L.A. Suicídio de João Rodrigues.
1968
Estadia em Março na Casa de Pascoaes. Tenta escrever o livro sobre a pintura de Vieira da Silva. Número do J.L.A. dedicado ao movimento Dádá. Faz notas críticas e recensões no J.L.A. Traduz para a Editorial Estampa, propriedade então de Carlos Eurico da Costa. Conflitos graves com Virgílio Martinho, Ernesto Sampaio, Luiz Pacheco e Fernando Ribeiro de Mello. Novo pedido de bolsa na Fundação C. Gulbenkian, que foi indeferido. Vieira da Silva possibilita-lhe novo estágio em Londres, para indagações plásticas, através da oferta dum guache. Contactos com Helder Macedo e Luís Amorim de Sousa. Conhece Jasmim de Matos. Corresponde-se com Octávio Paz e Ana Hatherly. Visita Bruno da Ponte em Edimburgo. Traduz em Londres as Iluminações de Rimabud.
1969
Regressa de Londres no final do Inverno. Primeiros contactos com Laurens e Frida Vancrevel. Primeira exposição na galeria S. Mamede com trabalhos pintados em Londres. Conhece Édouard Roditi. Suicídio de D’Assumpção em Lisboa. Com Cruzeiro Seixas, participa na exposição internacional surrealista organizada por Laurens Vancrevel em Scheveningen, Holanda. Conflitos no grupo surrealista de Paris e ruptura de Jean Schuster, testamenteiro de André Breton.
1970
Escreve o texto do catálogo de Cruzeiro Seixas para a primeira exposição deste na galeria S. Mamede. Viagem a Paris com Francisco Pereira Coutinho. Conhece Micheline e Vincent Bounoure. Ausente do julgamento é condenado a multa e prisão no processo judicial movido contra a Antologia da Poesia Portuguesa Erótica e Satírica. Apresenta e organiza o catálogo da exposição Vieira da Silva na Galeria S. Mamede. Viagem de Laurens e de Frida Vancrevel a Portugal. Conferência na Fundação Gulbenkian sobre a pintura de Vieira da Silva. Conhece António Tabucchi. Corresponde-se com John Lyle. Contactos epistolares com Franklin e Penelope Rosemont, do grupo surrealista de Chicago.
1971
Organiza e com Cruzeiro Seixas edita o livro Reimpressos Cinco Textos de Surrealistas em Português. Publica 19 Projectos de Prémio Aldonso Ortigão seguidos de Poemas de Londres, na Livraria Quadrante. Corresponde-se com Édouard Jaguer. Morte de Manuel de Castro.
1972
Publica a recolha antológica Burlescas, Teóricas e Sentimentais e a tradução das Iluminações e de Uma Cerveja no Inferno de Rimbaud. Publica ainda As Mãos na Água a Cabeça no Mar, recolha de panfletos, folhas, recensões, apresentações de catálogo e outros textos de intervenção. Organiza e com Cruzeiro Seixas edita o volume Aforismos de Teixeira de Pascoaes. Aluga com João Vasconcelos oficina em Lisboa, na Calçada do Monte, em Lisboa. Com pedido de Natália Correia, organiza e prefacia uma antologia da obra de Pascoaes, Poesia de Teixeira de Pascoaes. Pinta duas homenagens a Teixeira de Pascoaes. Em Amesterdão, visita Laurens e Frida Vancrevel, e conhece Her de Vries, K. Tonny, Ted Joans e Rik Lina. Colabora na revista do núcleo surrealista holandês Brumes Blondes. Prefacia o catálogo da exposição de Raul Perez na galeria S. Mamede. Convive com Jonathan Griffin, tradutor de Fernando Pessoa. Faz o primeiro contrato de exclusividade com a galeria S. Mamede.
1973
Com Cruzeiro Seixas, volta a Amesterdão e conhece Moesman e Van Leusdan. Nova exposição na galeria S. Mamede. Com José Francisco Aranda, Cruzeiro Seixas e Manolo Rodriguez Mateos visita em Tenerife Pedro Garcia Cabrera, Maud, Eduardo Westerdahl e Domingo Perez Minik. Colaboração na revista Phases, de que é correspondente em Portugal. Renova o contrato de exclusividade com a galeria S. Mamede. Viagem a Londres com Cruzeiro Seixas.
1974
Prefacia o catálogo da exposição de Anne Ethuin na Galeria S. Mamede. Traduz e prefacia Os Poemas de Luis Buñuel, de José-Francisco Aranda. Publica Contribuição ao registo de nascimento existência e extinção do grupo surrealista de Lisboa com uma carta acrílica do mês de Agosto de mil novecentos e 66 / número da besta / editado em trezentos exemplares por mário cesariny e cruzeiro seixas no quinquagésimo aniversário da recusa de duchamp em terminar o grande vidro e no do nascimento sempre possível ainda que sempre improvável de sete novos justos ignorados. Publicação de Pacheco versus Cesariny, folhetim epistolar organizado por Luiz Pacheco. Publica em resposta Jornal do Gato. Organiza em Junho, na Galeria S. Mamede, a exposição “Maias para o 25 de Abril”, com a presença de 68 autores e 186 obras. Começa a trabalhar no livro Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial. Participa na “Poetry international” de Roterdão. Conhece Octávio e Marie José Paz. Corresponde-se com Franklin Rosemont. Participa na Exposição Internacional do Movimento Phases, Museu de Ixelles, Bruxelas. Prefacia Imagem Devolvida – Poema Mito, livro de Mário Henrique Leiria. Morte de Pedro Oom. Morte de Maria Mercedes Cesariny Escalona de Vasconcelos. Conhece José Manuel dos Santos e Graça Lobo.
1975
Participa com comunicação no I Congresso dos Escritores Portugueses. Proporá a suspensão de todos os cânones criados ao português escolástico e a criação na Universidade de uma cadeira de revolução da língua portuguesa. Solidariza-se com a direcção e a redacção do jornal República. Fecho das actividades da galeria S. Mamede. Primeiros conflitos com Cruzeiro Seixas. Panfleto contra José-Augusto França. Convite de Franklin Rosemont para organizar a representação portuguesa na Exposição Surrealista Mundial de Chicago. Dificuldades financeiras e pedido de bolsa de apoio à Fundação C. Gulbenkian, que é deferida.
1976
Na companhia de Graça Lobo, deslocação a Chicago. Colabora no terceiro número da revista Arsenal – Surrealist Subversion. Visita Eugenio Granell em Nova Iorque, de quem se tornará amigo próximo e declarado admirador, chegando mesmo a afirmar que a pintura de Granell, é a mais original do século XX espanhol. Com convite de Joan Ponsá y Call visita o México, onde reencontra Octávio Paz. No choque da viagem, requererá ao Governo português o lugar de adido cultural na Embaixada de Portugal no México, petição que não deve ter sido atendida. Pinta uma série de cartões dedicados aos pintores e aos poetas do Orpheu e uma “Anti-homenagem a José Gomes Ferreira”. Primeira linha de água oficial, dando origem a um novo conjunto de pintura sua. Conhece Manuel Hermínio Monteiro e Manuel Rosa. Enrique Carlón funda em Espanha o Círculo Surrealista de Gijón. Morte de Manuel de Lima.
1977
Pinta “Cinco Memorizações do México”. Publicação de Titânia e A Cidade Queimada (com alterações novas no “Diário da Composição”). Publicação do livro Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial (1924-1976). Participa na exposição do movimento Phases na Galeria da Junta de Turismo, Estoril. Como em 1966, no livro A Intervenção Surrealista, diz: encontrar a verdade em corpo e em alma é o único fim da boca humana, o único trabalho que deve prosseguir. Colaboração com o jornal de Vera Lagoa, O Diabo. Conhece Edgardo Xavier. Convívio com Francisco Relógio. Exposição na galeria Tempo, de obras inéditas, patrocinada pela Secretaria de Estado da Cultura. Conflitos com José-Augusto França.
1978
Edição da obra de António Maria Lisboa, Poesia de António Maria Lisboa, primeiro trabalho com a editora Assírio & Alvim. Colaboração com o jornal de Helena Roseta, O Jornal Novo. Ruptura com Cruzeiro Seixas. A galeria S. Mamede retoma a actividade. Prefacia o catálogo de Vieira da Silva na mostra de litografias e serigrafias que a pintora faz nesta galeria. Participa em várias exposições. Conhece Manuela Correia e Nicolau Saião. Morte de António Areal.
1979
Traduz e anota o volume Enquanto Houver Água na Água e Outros Poemas, de Breyten Breytenbach, poeta sul-africano que conheceu no Festival de Roterdão, em 1974. Participa em várias exposições. Díptico de grandes dimensões: “A Teixeira de Pascoaes:/ O Universo Menino/ O Velho da Montanha/ O Rei do Mar”. Começa a sua correspondência epistolar com Miguel Pérez Corrales. Panfletos contra a revista Sema (n.º 1).
1980
Publica Primavera Autónoma das Estradas. Colabora com poema e pintura no volume Pascoaes – No Centenário de Teixeira de Pascoaes. Morte de Mário-Henrique Leiria. Estadia em Amesterdão e visão da Igreja Velha (Oude Kerk). Participa com comunicação escrita, Fernando Pessoa poeta, no congresso organizado pela universidade de Portland (Oregon) e dedicado às relações entre surrealismo e anarquismo.
1981
Organiza o evento e o catálogo Três poetas do Surrealismo – António Maria Lisboa, Pedro Oom e Mário-Henrique Leiria na Biblioteca Nacional. Publica ou republica Manual de Prestidigitação, que reorganiza parte da criação poética feita entre 1942 e 1956. Abre pesquisas na Biblioteca Nacional sobre a literatura de cordel. Participa em várias exposições.
1982
Traduz e anota Heliogabalo ou o Anarquista Coroado de Antonin Artaud. Continua as investigações na Biblioteca Nacional. Publica Seis Poemas do Livro Inédito Climas Ortopédicos de Mário Henrique Leiria, separata da revista Biblioteca Nacional. Republica Pena Capital, que continua a reorganizar a criação poética anterior, desta vez com uma pequena soma final de inéditos. Projecta a edição das obras de Teixeira de Pascoaes na editora Assírio & Alvim. Participa em várias exposições. Conhece Bernardo Pinto de Almeida.
1983
Publica Horta de Literatura de Cordel, resultado das pesquisas feitas. Publica ainda, Sombra de Almagre (poema e serigrafia). Colabora com dois poemas na revista anarquista A Ideia (recolhidos na secção final de Pena Capital, 2004). Participa em várias exposições. Polémica em torno da exposição “Le surréalisme portugais”, na Universidade de Montréal, organizada por Luís de Moura Sobral. Cruzeiro Seixas deixa Lisboa e vai viver para S. Brás de Alportel. Morte de João Vasconcelos e de Mário Botas.
1984
Publica Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o Castelo Surrealista, Assírio & Alvim, resultado de 20 anos de pesquisas e 32 de adesão. Comparece na festa dos 10 anos da revista anarquista A Ideia. Sai a primeira obra de Teixeira de Pascoaes na Assírio & Alvim, São Paulo. Programa da R.T.P. sobre Mário Cesariny, da responsabilidade de Maria Elisa e Artur Albarrã, que não chega ao fim. Participa em várias exposições. É um dos organizadores da exposição internacional “Surrealismo e pintura fantástica”. Relações próximas com Enrique Carlón. Morte de João Pinto de Figueiredo. Interesse pela confraria pré-rafaelita inglesa.
1985
Publica a segunda edição de As Mãos na Água A Cabeça no Mar. Participa em várias mostras. Quebra psíquica e isolamento em casa. Convívio com Nuno Félix da Costa. Morte de Arpad Szenes.
1986
Publica a sua tradução de Fragmentos de Novalis. Escreve as onze notas de extensão ao texto de Joaquim de Carvalho, “Reflexões sobre Teixeira de Pascoaes” (1954). Participa em várias exposições. Regresso a Londres com Nuno Félix da Costa. Morte de Alexandre O’Neill e de Gonçalo Duarte.
1987
Aparece a segunda edição de Os Poetas Lusíadas, Assírio & Alvim, trazendo como introdução o estudo de Joaquim de Carvalho e as suas notas. Participa em várias exposições. Começa a trabalhar com a galeria Neupergama de Torres Novas. Começa a compor os poemas d’ O virgem negra. Aparece o primeiro número da revista Salamandra em Madrid.
1988
Participa em várias exposições. Acaba de compor os poemas d’ O virgem negra. Morte de António José Forte.
1989
Publica O Virgem Negra. Participa em várias exposições. Cruzeiro Seixas regressa a Lisboa. A Fundação Cupertino de Miranda, através da Lusotur e do engenheiro João Meireles, interessam-se por criar uma colecção centrada no surrealismo em Portugal. Morte de João Moniz Pereira e de José Francisco Aranda.
1990
Estadia em Madrid em casa de Manolo Rodriguez Mateos. Contactos com o grupo editor da revista Salamandra. Participa em várias exposições. Morte de António Dacosta. Enrique Carlón publica o número único da revista Kula.
1991
Reedição de Nobilíssima visão. Publica Dois Poemas de Jonathan Griffin vertidos para Português por Mário Cesariny e Philip West. Participa em várias exposições. Inquérito internacional sobre André Breton com a ajuda de Laurens Vancrevel. O grupo editor da revista Salamandra (Madrid) usa pela primeira vez a designação de Grupo Surrealista de Madrid.
1992
Participa em várias exposições. Morte de Maria Helena Vieira da Silva e de Fernando Alves dos Santos. Correspondência com Guy Girard do grupo surrealista de Paris, que prolonga até 1994. Participa na exposição do Grupo Surrealista de Madrid na sala Áncora. Conhece José Manuel Rojo, do Grupo Surrealista de Madrid.
1993
Participa em várias exposições. Publicação do Inquérito internacional sobre André Breton na revista Salamandra (Madrid). Morte de Natália Correia.
1994
Reedição de Titânia, História Hermética em Três Religiões e Um Só Deus Verdadeiro com Vistas a Mais Luz como Goethe Queria, com importante nota final inédita. Participa em várias exposições. Morte de Virgílio Martinho.
1995
Publica Uma Combinação Perfeita. Participa em várias exposições. Conhece Helena Barbas, a quem pede ajuda para tradução dos pré-rafaelitas ingleses. Estadia em Madrid em casa de Manolo Rodriguez Mateos e Pedro Polo Soltero e leitura de poemas na Residência de Estudantes. Eugenio Castro, do Grupo Surrealista de Madrid, passa alguns dias na casa da Rua Basílio Teles. Suicídio de Ricarte-Dácio de Sousa.
1996
Publica Corpo Imóvel (ilustrações Pedro Oom) e António António. Participa em várias exposições. Morte de Vincent Bounoure.
1997
Reedição d’ A Intervenção Surrealista. Participa em várias exposições. Bernardo Pinto de Almeida, director artístico da Fundação Cupertino de Miranda, prepara a criação do Centro de Estudo do Surrealismo. Morte de Philip West.
1998
Reedição de Aforismos de Teixeira de Pascoaes. Participa em várias exposições. Morte de Carlos Eurico da Costa.
1999
Reedição de Pena Capital, com dedicatória a Ricarte-Dácio de Sousa, que se mantém em 2004. Participa em várias exposições.
2000
Publica Tem dor e tem puta. Participa em várias exposições. Sem ser convidado, vai a Paris em Março com os seus editores ao Salão do Livro de Paris. Pesquisas finais sobre o poema acádico-sumério Guilgamesh. Estadia em Cáceres para leitura de poemas e palestras. Doença de Manuel Hermínio Monteiro.
2001
Fogo cruzado em volta da exposição “O surrealismo em Portugal (1934-1952)”. Bernardo Pinto de Almeida demite-se da direcção artística da Fundação Cupertino de Miranda e é substituído por Perfecto E. Cuadrado. Projecto de filmagens com Miguel Gonçalves Mendes. Participa em várias exposições. Morte de Ernesto Sampaio, de Manuel Hermínio Monteiro e de Eugenio Granell.
2002
Reedição de Poesia de Teixeira de Pascoaes, incluindo desta vez os Aforismos. Recusa participar na mostra “O surrealismo em Portugal (1934-1952)” em Madrid. Cinquentenário da morte de Teixeira de Pascoaes em Amarante. Recebe aos 79 anos o Grande Prémio EDP pela obra pictórica; foi o primeiro prémio que recebeu, sem embargo expor e publicar desde 1949-50. Participa em várias exposições.
2003
Aparece o documentário, orientado por Perfecto E. Cuadrado, Ama como a Estrada Começa. Convívio com Jorge Perestrelo. Reencontra Cruzeiro Seixas na galeria S. Mamede em Dezembro na vernissage da exposição “As mãos são a paisagem que nos olha: pintura e desenho: Cruzeiro Seixas e Raul Perez”. Participa em várias exposições. O grosso do seu espólio pictórico é levado para a Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão.
2004
Aparece o filme de Miguel Gonçalves Mendes, Autografia, com apresentação na Cinemateca. Reedição do Jornal do Gato e de Horta de Literatura de Cordel. Grande retrospectiva da sua obra plástica no Museu da Cidade de Lisboa e publicação do livro catálogo Mário Cesariny. Publicação de Verso da Autografia, conversas com Miguel Gonçalves Mendes. Participa em várias exposições. Morte de Henriette Cesariny de Vasconcelos.
2005
Conhece Miguel de Carvalho. Recebe em casa, das mãos de Jorge Sampaio, Presidente da República, a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. Reedição de Manual de Prestidigitação. Recebe no mesmo dia e no mesmo sítio o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores. Participação em várias exposições. Convive com Carlos Cabral Nunes, dono da galeria Perve. Morte de Maria José Teixeira de Vasconcelos.
2006
Morte de Édouard Jaguer. Participa em várias exposições. Últimos cadáveres esquisitos verbais com Miguel de Carvalho. Último encontro com o casal Vancrevel (Abril) e com Sergio Lima (Junho). Últimos cadáveres esquisitos pictóricos com Fernando José Francisco e Cruzeiro Seixas. Encontra a 2 de Novembro, na Galeria Perve, pela última vez, Cruzeiro Seixas e Fernando José Francisco. Morre poucos dias depois, na madrugada de 26 de Novembro, na casa onde vivia há mais de seis décadas.
Quadro Genealógico
de MÁRIO CESARINY
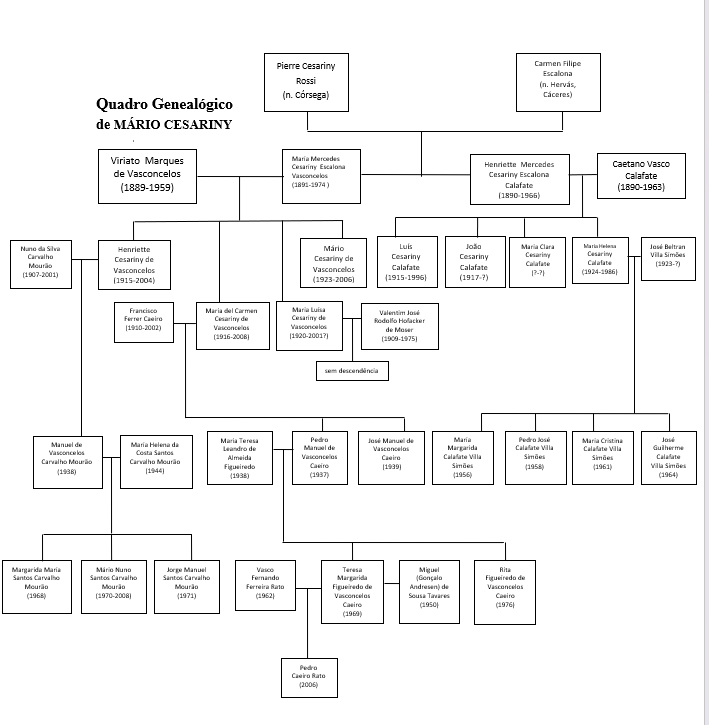
BIBLIOGRAFIA & FONTES
1 DE MÁRIO CESARINY
LIVROS & OPÚSCULOS
Corpo visível [folheto; poema recolhido em Pena capital], Lisboa, edição de autor, 1950 [edição fac-similada, extra-texto de Cruzeiro Seixas, Fundação Cupertino de Miranda/Assírio e Alvim, 2010].
Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano, Lisboa, Contraponto, s/d [1952].
Louvor e simplificação de Álvaro de Campos, Lisboa, Contraponto, 1953; 2ª ed. (com nota de António Ramos Rosa sobre o realismo do poema), Contraponto, Dezembro, 1953 [edição fac-similada das duas edições, Fundação Cupertino de Miranda/Assírio e Alvim, 2008].
A afixação proibida [com António Maria Lisboa, Henrique Risques Pereira e Pedro Oom; reproduzido em A intervenção surrealista], Lisboa, Contraponto, 1953.
Manual de Prestidigitação, Lisboa, Contraponto, 1956.
Pena Capital, Lisboa, Contraponto, s/d [1957].
Alguns mitos maiores alguns mitos menores propostos à circulação pelo autor, Lisboa, “A Antologia em 1958”, 1958.
Nobilíssima visão, Lisboa, Guimarães Editores, 1959.
Planisfério e outros poemas, Lisboa, Guimarães Editores, 1961.
Poesia (1944-1955) [contém: “A poesia civil” (“Políptica de Maria Koplas, dita mãe dos homens”, “Nicolau Cansado escritor”, “Um auto para Jerusalém”, “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos”); “Discurso sobre a Reabilitação do real quotidiano”; “Pena capital”; “Estado Segundo”; “Alguns mitos maiores alguns mitos menores propostos à circulação pelo autor”], retrato do autor por João Rodrigues, Lisboa, Delfos, 1961.
Um auto para Jerusalém [peça dramática extraída duma narrativa de Luiz Pacheco, 1946], Lisboa, Minotauro, 1964.
A cidade queimada, ilustrações de Cruzeiro Seixas, Lisboa, Ulisseia, 1965; 2.ª ed., com serigrafias de António Inverno sobre desenhos do autor, Lisboa, Assírio & Alvim, 1988; 3.ª ed., com fotografia do autor por Manuel Rosa e desenhos do autor, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
Cruzeiro Seixas [sem qualquer referência a Cruzeiro Seixas, este livro, ou parte dele, foi reeditado em As mãos na água a cabeça no mar], Lisboa, Editora Lux, 1967.
19 projectos de prémio Aldonso Perdigão seguidos de Poemas de Londres, Lisboa, Livraria Quadrante, s/d [1971].
Burlescas, teóricas e sentimentais [(antologia) contém: “A poesia civil (1942-1944) – “Burlescas, teóricas e sentimentais (“Loas a um rio”, “Romance da praia de Moledo”, “Políptica de Maria Koplas dita mãe dos homens”, “Outros poemas”)”; “Nobilíssima visão” (1945-1946), “Alguns mitos maiores alguns mitos menores propostos à circulação pelo autor” (1947-1954); “Pena capital” (1948-1956); “Planisfério e outros poemas” (1958-1960); “A cidade queimada” (1964)], Lisboa, Presença, 1972.
As mãos na água a cabeça no mar [reunião de artigos, reflexões e notas], Lisboa, edição de autor, 1972; 2.ª ed. [muito acrescentada], Lisboa, assírio & Alvim, 1985; 3.ª ed., Porto, Assírio & Alvim, 2015.
Nobilíssima visão [contém: “Nobilíssima visão” (mexidas significativas); “Nicolau Cansado escritor”, “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos”, “Um auto para Jerusalém” (mexidas significativas)], Lisboa, Guimarães Editores. 1976; 2.ª ed., título alterado [Nobilíssima visão (1945-1946); os mesmos livros revistos e alterados], Lisboa, Assírio & Alvim, 1991.
Titânia e A Cidade queimada, com collage do autor, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1977.
Primavera autónoma das estradas [contém: “encontrado perdido” (1947); “Les hommages excessives (1947; edição inglesa, 1973)”; “Adozites” (1947-8); “Lógica do café Royal” (1948-1954); “O lorinhão escorreito” (1958-1961); “La ville brullé” (1964); “Exposição I e II” (1967); “Consultório do Dr. Pena e do Dr. Pluma” (1968), “Alguns anos depois” (1964-1979)], Lisboa, Assírio & Alvim, 1980; 2.ª ed., revista pelo autor, com fotografia de João Cutileiro (Londres; erro na data, 1961) e posfácio crítico de Perfecto E. Cuadrado, Porto, Assírio & Alvim, 2017.
Manual de prestidigitação [contém: “Burlescas, teóricas e sentimentais” (“Burlescas, teóricas e sentimentais”, “Políptica de Maria Koplas dita mãe dos homens”, “Cantiga de S. João”)” (1942-1944); “Visualizações” (1942-1944); “Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano” (1947-1952); “Alguns mitos maiores alguns mitos menores propostos à circulação pelo autor” (1947-1954); “Manual de Prestidigitação” (1949-1956)], Lisboa, Assírio & Alvim, 1981; 2.ª ed. [revista], Lisboa, Assírio & Alvim, 2005; 3.ª ed., Biblioteca Editores Independentes, 2008; 4.ª ed., Porto, Assírio & Alvim, 2017.
Pena capital [contém: “Pena Capital”; “Estado segundo”; “Planisfério e outros poemas”; “Poemas de Londres”; “O inédito em 1982”], Lisboa, Assírio & Alvim, 1982; 2.ª ed. [com novos poemas finais e dedicatória inicial a Ricarte-Dácio de Sousa], Lisboa, Assírio & Alvim, 1999; 3.ª ed. [com novos poemas e sempre com a dedicatória a Dácio], Lisboa, Assírio & Alvim, 2004.
Sombra de almagre [folheto; poema recolhido nas ed. finais da colectânea Pena Capital], com serigrafia assinada e numerada pelo autor, Lisboa, edição de Isaac Holly, 1983.
Vieira da Silva, Arpad Szenes ou o castelo surrealista – pintura de Vieira e de Szenes nos anos 30 e 40 em Lisboa [edição especial com serigrafias dos dois pintores], com pintura de Mário Cesariny no frontispício “O castelo surrealista”, Lisboa, Assírio & Alvim, 1984.
O virgem negra, Fernando Pessoa explicado às criancinhas naturais & estrangeiras por M.C.V. who knows enough about it seguido de louvor e desratização de Álvaro de Campos pelo mesmo no mesmo lugar. Com duas cartas de Raul Leal (Henoch) ao heterónimo e a gravura da universidade de Lisboa. Escrito & compilado de Jun. 1987 a Set. 1988, Lisboa, Assírio & Alvim, 1989; 2.ª ed., título alterado (O virgem negra, Fernando Pessoa explicado às criancinhas naturais & estrangeiras por M.C.V.) e vários acrescentos, Lisboa, Assírio & Alvim, 1996; 3.ª ed. (segue a 2.ª), Lisboa, Assírio & Alvim, 1989.
Titânia – história hermética em três religiões e um só deus verdadeiro com vistas a mais luz como Goethe queria, com a mesma collage de 1977, Lisboa, Assírio & Alvim, 1994.
Uma combinação perfeita [livro collage], Lisboa, Edições Prates, 1995.
António António [livro collage], Açores, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 1996.
Tem dor e tem puta [o colofão diz: “livro-album de poemas, colagens, pintura e desenho (…) elaborado em homenagem ao pintor, poeta e investigador americano Edouardo Roditi (…) edição patrocinada por Ernesto Martins, com intuito de comemorar os 50 anos de existência da Biblarte”], Lisboa, Litografia Tejo, 2000, tiragem 150 exs, “todos assinados pelo autor, Cesariny, Cesarini-Rossi”.
Verso de autografia [entrevista], ed. Miguel Gonçalves Mendes, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004.
Drama, apresentação Bernardo Pinto de Almeida, coordenação José da Cruz Santos, direcção gráfica Armando Alves, Porto, Sétima Face Edições, 2004.
Timothy McVeigh – o condenado à morte [livro collage], Lisboa, Galeria Perve, 2006
Uma grande razão – os poemas maiores [antologia; selecção Herberto Helder], textos: José Manuel dos Santos e Maria Bochicchio, Lisboa, Assírio & Alvim, 2007.
Poemas de Mário Cesariny – escolhidos e ditos por Mário Cesariny, Lisboa, Assírio & Alvim, 2007.
Fora d’ Horas [livro collage; primeira publicação na revista A Phala, n.º 1, 2007], Lisboa, Assírio & Alvim, 2009.
De Mário Cesariny para Artur Manuel do Cruzeiro Seixas, ilustrações Cruzeiro Seixas, edição Perfecto E. Cuadrado, posfácio Ernesto Sampaio, edição Lisboa, Assírio & Alvim, 2009.
Conto do sábado de aleluia [versão dactilografada por Fernando Azevedo do mais significativo cadáver esquisito verbal feito no seio do Grupo Surrealista de Lisboa no dia 28-3-1948 e colaborado por Alexandre O’Neill, António Pedro, Fernando Azevedo, João Moniz Pereira e Mário Cesariny; apresentado como inédito absoluto, havia sido dado a conhecer já por Cesariny na recolha Antologia surrealista do cadáver esquisito (1961) numa versão mais completa, “Conto de um sábado de aleluia”, a que acresce a informação: “cadáver esquisito heterodoxo por leitura em voz alta de cada parte escrita pelos intervenientes até à composição final”; depois reproduzido no livro Primavera autónoma das estradas (1980)], edição Cristina Azevedo, Famalicão, Centro de Estudos do Surrealismo, 2010.
Les hommages excessives [versão inédita manuscrita e transcrita; reedição da versão anterior de 1973 e 1981; extra-texto inicial de Fernando Lemos (fotografia de Fernando Azevedo e Marcelino Vespeira)], edição Perfecto E. Cuadrado, Famalicão, Centro de Estudos do Surrealismo, 2012.
Poesia [contém: “Manual de prestidigitação” (ed. 2005); “Pena capital” (ed. 2004 – com alterações do editor e saídas de poemas; a dedicatória a Ricarte-Dácio de Sousa desapareceu); “Nobilíssima visão” (ed. 1991 – com alterações do editor e saída de poemas); “A cidade queimada” (ed. 2000); “Primavera autónoma das estradas” (ed. 2017 – com alterações do editor e saída de poemas); “O virgem negra” (ed. 1996); “Outros poemas”], edição, prefácio e notas Perfecto E. Cuadrado, fotografia na capa Eduardo Tomé, Porto, Assírio & Alvim, 2017.
EPISTOLÁRIOS
Uma carta, [carta António Maria Lisboa a Mário Cesariny; reproduzida em Poesia de António Maria Lisboa, 1977], Lisboa, colecção “A Antologia em 1958”, 1963.
Contribuição ao registo de nascimento, existência e extinção do Grupo Surrealista de Lisboa [com cartas de Alexandre O’Neill, António Domingues, Cândido Costa Pinto, João Moniz Pereira, Victor Brauner e Mário Cesariny], Lisboa, edição de M. Cesariny e Cruzeiro Seixas, 1974; 2.ª ed., in As mãos na água a cabeça no mar (1985; 2015).
Pacheco versus Cesariny [com cartas de Luiz Pacheco, Mário Cesariny, Manuel de Lima, Virgílio Martinho, António José Forte, Bruno da Ponte e outros], org. Luiz Pacheco, Lisboa, Estampa, 1974; 2.ª ed. Lisboa, Estampa, s/d; 3.ª ed., com nota
Jornal do gato – contribuição ao saneamento do livro Pacheco versus Cesariny edição pirata da editorial estampa colecção direcções velhíssimas [com cartas de Luiz Pacheco, Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, Manuel de Lima, António José Forte, Virgílio Martinho, Vitor Silva Tavares e outros], Lisboa, edição do autor, 1974; 2.ª ed., Lisboa, Assírio & Alvim, 2004.
Gatos comunicantes – correspondência entre Vieira da Silva e Mário Cesariny (1952-1985), edição e notas Sandra Santos e António Soares, apresentação José Manuel dos Santos, Lisboa, Assírio & Alvim/Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, 2008; 2.ª ed., Lisboa/Famalicão, Documenta/Fundação Cupertino de Miranda, 2018.
Cartas para a Casa de Pascoaes, edição e notas António Cândido Franco, Lisboa/Famalicão, Documenta/Fundação Cupertino de Miranda, 2012.
Cinco cartas de Mário Cesariny, edição e notas António Cândido Franco, Évora, Licorne, 2013.
Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas, edição Perfecto E. Cuadrado, António Gonçalves e Cristina Guerra, Lisboa/Famalicão, Documenta/Fundação Cupertino de Miranda, 2014.
Um sol esplendente nas coisas – Cartas de Mário Cesariny para Alberto de Lacerda, edição de Luís Amorim de Sousa, Lisboa/Famalicão, Documenta/Fundação Cupertino de Miranda, 2015.
Um rio à beira do rio – cartas para Frida e Laurens Vancrevel, edição Maria Etelvina Santos e Perfecto E. Cuadrado, posfácio e comentários de Laurens Vancrevel, Lisboa/Famalicão, Documenta/Fundação Cupertino de Miranda, 2017.
FOLHAS & PANFLETOS[1]
Homenagem a Cesário Verde [postal; poema recolhido nas edições de Pena capital], Lisboa, Contraponto (?), 1955.
Caca, cuspo e ramela [folheto volante (impressão tipográfica)], Lisboa, colecção “A Antologia em 1958”, s/d [1959].
“O Pacheco cretino quer que eu seja o Papa dele…” [folha volante (impressão tipográfica), sem título; nunca reproduzida em livro pelo autor; foi reproduzida no livro Cartas para a casa de Pascoaes], Lisboa, edição do autor, Maio, 1968.
Comunicado [folha volante, dactilografada, distribuída à imprensa na exposição de M.C. em Fevereiro de 1973 na galeria S. Mamede e reproduzida nos jornais O Século (14-2-1973), Diário de Lisboa (15-2-1973), República (15-2-1973), Diário Popular (22-2-1973)], Lisboa, Fevereiro, 1973.
Jornal do Gato n.º 2 [caderno agrafado (7 pp. + 2 (capa e “declaração de princípios”); redigido por M.C. mas com colaboração variada e muitos cadáveres esquisitos; publicado a propósito da exposição da Galeria Ottolini dedicada ao cadáver esquisito], Lisboa, tiragem especial, Fevereiro de 1975.
O França é pior do que a NATO [folha volante (impressão fotográfica)], Lisboa, Bureau Surrealista, Junho, 1975.
“Esta fotografia…” [folha volante (impressão tipográfica); fotografia de M.C. na Rua da Misericórdia], Lisboa, Bureau Surrealista, Setembro, 1978.
Erratas, gralhas e omissões no livro Poesia de António Maria Lisboa estabelecido por Mário Cesariny de Vasconcelos para a editora Assírio & Alvim [título indicado em bibliografia de Cesariny na revista La Página (ano XXV, n.º 2, 2013); desconhecido na B.N.P.; há referência a esta folha em carta inédita a Manuel S. Lourenço (12-3-1978) em que diz: “Junto um papel que a propósito deste último, livro [Poesia de António Maria Lisboa], fiz imprimir.”; a folha não se encontra no espólio de Lourenço da B.N.P.], Lisboa, edição do autor, 1978 (?).
Todo o mijo do mundo [texto Manuel Lourenço; folha volante (impressão tipográfica)], Lisboa, Bureau Surrealista, tiragem 100 ex., Equinócio – Outono 1978.
Zoology [folha volante], Lisboa, Bureau Surrealista, Janeiro, 1979.
A bird can dream even flying… [gravura de Martin Stejskal; texto de Philip West; fotografia de M. Cesariny (?); folha volante (impressão tipográfica)], Lisboa, Bureau Surrealista, Janeiro, 1979.
Nota à página 164 do livro Vitorino Nemésio de José Martins Garcia, ed. Arcádia, Dez., 1978 [texto de Mário Cesariny com reprodução da página do livro; folha volante], Lisboa, “editada em 15 (quinze) cópias rank-xerox assinadas e numeradas pelo autor”, Março, 1979.
Intervenção sobre cartaz de saída da revista Sema [texto e intervenção de M. Cesariny; folha volante], Lisboa, “edição cincoenta exemplares numerados e rubricados António Areal”, Março, 1979.
Aos directores da revista da revista Sema ou a que se pretende – Abril 1979 [carta e desenhos de M. Cesariny; manuscrito; 5 pp. + capa], Lisboa, edição rank-xerox, “tirada a 15 exemplares numerados 1 a 15 e rubricados António Areal”, Abril, 1979.
“Messieurs Dames” [texto de M. Cesariny; folha volante (manuscrita) a propósito da exposição “Arte Moderna Portuguesa 1968-1978 na ocasião do XVIII Congresso FIDEM”, S.N.B.A., Setembro, 1979], Lisboa, 1979.
La confusión [texto, pintura e colagem (“Luis Buñuel sonha com o Marquis de Sade, 1966”) de J. F. Aranda; folha volante (impressão tipográfica)], Lisboa, Bureau Surrealista, 1979.
Edições esquentamento – colecção blenorragia, n.º 1, [dactilografado; caderno policopiado, 8 pp.; cartas de Pedro Oom do Vale (21-3-1968) e de Vitor Silva Tavares (7-11-1974; 22-11-1974) para M. Cesariny e deste para Vitor Silva Tavares (11-11-1974; 23-11-1974)], Lisboa, ed. rank-xeroz, 50 ex., 1980.
A múmia de Estaline quer ir aos Jogos Olímpicos [M. Cesariny com A. J. Silverberg, Inácio Matsinhe e Nicolau Saião; folha volante], Lisboa, Bureau Surrealista, Janeiro, 1980.
Notícias da Cultura [texto de M. Cesariny; folha volante (dactilografado e fotocopiado); sobre a intervenção de Maria Lúcia Lepecki no Congresso de Estudos Surrealistas da universidade de Belo Horizonte, 1979], Lisboa, Bureau Surrealista, Maio, 1980.
Fernando Pessoa Poeta [caderno policopiado; comunicação de M. Cesariny ao colóquio “Surrealismo e anarquismo” da Universidade de Portland, E.U.A., org. Pietro Ferrua], Portalegre, ed. Nicolau Saião, 25 exemplares, Maio, 1980.
O rio fiel [folha volante (dactilografado e fotocopiado); M. Cesariny com A. J. Silverberg e Nicolau Saião,], Lisboa, Bureau Surrealista, Agosto, 1980.
Poetas do Surrealismo em Português, [texto de M. Cesariny; folheto; 80 exs; foi reproduzido no Diário de Notícias, 8-1-1981 e mais tarde no Jornal de Letras, Artes e Ideias, 20-12-2007], Lisboa, Bureau Surrealista, Novembro, 1980.
John Lyle [texto de], [folha volante], Lisboa, Bureau Surrealista, 1984.
Inscrições Incriptions [folha volante (manuscrita); tiragem de 60 exs.; poema de M. Cesariny recolhido na cortina final da colectânea Pena capital], Lisboa, Noa Noa Surrealist Bureau Editions, Inverno, 1989.
Now’s the Time [folha volante; transcrição comentada por M. Cesariny de página da revista Arsenal, n.º 4, Chicago, 1988; tiragem 50 ex.], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Janeiro, 1989.
La ville est notre forêt (extrait)/ Misto je nás les (fragment) [folha volante (manuscrita); poema de Petr Král em versão francesa e checa com ilustração alquímica; tiragem 50 ex.], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Abril, 1989.
“Frase de Ithel Colquhoun” [folha volante (manuscrita); fotografía de I. C. e frase em inglês e português; tiragem 50 ex.], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Abril, 1989.
“The pagan blood returns” – Jack Dauben [folha volante; reprodução de convite para exposição de J. Dauben; tiragem 50 ex.], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Maio, 1989.
Sobre a tinta os olhos/ Voor anker zijn blik [folha volante; poema bilingue de Laurens Vancrevel (dactilografado em neerlandês e manuscrito em português – tradução M. Cesariny); tiragem 50 ex.], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Julho, 1989.
Miguel Pérez Corrales (Santa Cruz de Tenerife) [folha volante; reprodução de fotografia; tiragem 50 ex.; não distribuído por faltar a legenda na foto], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Julho, 1989.
“The Valley of the Kings” – Philip West (Zaragoza, England) [folha volante; reprodução de desenho de P. West; tiragem 50 ex.], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Julho, 1989.
Manifiesto de los surrealistas argentinos – el 9 noviembre 1985 en la semana surrealista de S. Pablo, Brasil [folha volante; caligrafia de M. Cesariny; tiragem 50 ex.], Lisboa, Noa Noa Surrealist Editions, Julho, 1989.
Ancora oggi non mi considero un surrealista – Cruzeiro Seixas, 1978 [folha volante; caligrafia de M. Cesariny; tiragem 50 ex.], Lisboa, The ted oxborrow’s perpetual mention food magazine. Portuguese section of the Illinois-Vladivostock area, Julho, 1989.
Debra Taub: The tomb of Luís de Camões. Vasco da Gama [folha volante; collage com túmulo da igreja dos Jerónimos (“Luís de Camões” riscado e substituído por “Vasco da Gama”; s/tiragem], Lisboa, Noa-Noa Surrealist Editions, Agosto, 1989.
A interrupção do pensamento índio [tradução de M. Cesariny das páginas finais do último capítulo (“La pensée interrompue de L’Amérique indienne”) do livro de Jean Marie Le Clézio, Le rêve mexicain – ou la pensée interrompue (1988); opúsculo (8 pp.); impressão tipográfica; s/tiragem], Lisboa, The ted oxborrow’s perpetual mention food magazine. Portuguese section of the Illinois-Vladivostock area, Fevereiro, 1991.
Merde à la poste surréaliste française – A.B. [folha volante; com colagem de selo (efígie de André Breton); caligrafia manual de M. Cesariny; s/tiragem], Lisboa, s/d (1992?; selo de 1991).
Hermínio [14 poemas de Manuel Hermínio Monteiro e poema-objecto de M. Cesariny (“Memória para Manuel Hermínio Monteiro”); opúsculo (8 pp.); impressão tipográfica; s/tiragem], Lisboa, The ted oxborrow’s perpetual mention food magazine. Portuguese section of the Illinois-Vladivostock area [seguido da seguinte nota: “Special Number edited by Manuela S. Correia, Lisbon, September, 2001].
ORGANIZAÇÃO DE ANTOLOGIAS
Antologia surrealista do cadáver esquisito, Lisboa, Guimarães Editores, colecção “Poesia & Verdade”, 1961; 2.ª ed., Lisboa, Assírio & Alvim, 1989.
Surreal/Abjeccion-ismo [poemas, textos, fotografias, desenhos, pinturas], capa de João Rodrigues e orientação gráfica de Marcelino Vespeira, Lisboa, Minotauro, 1963; 2.ª ed., fac-similada, Lisboa, Salamandra, 1993.
A intervenção surrealista [textos, pinturas e fotogramas], orientação gráfica e capa de Cruzeiro Seixas, Lisboa, Ulisseia, 1966; 2.ª ed., Lisboa, Assírio & Alvim, 1997.
Reimpressos cinco textos colectivos de surrealistas em português, Lisboa, edição de M. Cesariny e Cruzeiro Seixas, 1971.
Textos de afirmação e combate do movimento surrealista mundial, Lisboa, Perspectivas & Realidades, 1977.
Horta de literatura de cordel, Lisboa, Assírio & Alvim, 1983.
ORGANIZAÇÃO DE EDIÇÕES
Exercício sobre o sonho e a vigília de Alfred Jarry seguido de O senhor cágado e o menino, António Maria Lisboa, Lisboa, colecção “A Antologia em 1958”, s/d [1958].
Poesia, António Maria Lisboa, Lisboa, Guimarães Editores, colecção “Poesia & Verdade”, 1962.
Erro Próprio [tem texto introdutório de M.C.], António Maria Lisboa, Lisboa, Guimarães Editores, colecção “Ideia Nova”, 1962.
Aforismos de Teixeira de Pascoaes, Lisboa, edição de M. Cesariny e Cruzeiro Seixas, 1972; 2.ª ed., Lisboa, Assírio & Alvim, 1998; 3.ª ed. integrada em Poesia de Peixeira de Pascoaes [2002].
Poesia de Teixeira de Pascoaes, prefácio e selecção de M.C., Lisboa, Estúdios Cor, 1972; 2.ª ed. [revista e com acrescentos], Lisboa, Assírio & Alvim, 2002.
Poesia de António Maria Lisboa, edição, prefácio, notas e recolha de M.C., Lisboa, Assírio & Alvim, colecção “documenta poética”, 1977.
TRADUÇÕES [em livro]
Arte de Morrer [sem nome de tradutor], J. Francisco Aranda, Lisboa, edição do autor, 1957.
Uma época no Inferno [nota final do trad.], Jean-Arthur Rimbaud, Lisboa, Portugália Editora, 1960.
A subida de Hitler ao poder, Alfred Grosser, com nota de E.C. [Carlos Eurico da Costa?], Lisboa, Editorial Estampa, 1968.
Iluminações e Uma cerveja no Inferno [pref., notas e reprod. de pinturas do trad.], Jean-Arthur Rimbaud, Lisboa, Estúdios Cor, 1972.
Os poemas de Luis Buñuel, edição de José Francisco Aranda, Lisboa, Arcádia, 1974.
Enquanto houver água na água e outros poemas, Breyten Breytenbach, com nota introdutória de Laurens Vancrevel e estudo de Adriaan Van Dis, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1979.
Heliogábalo ou o anarquista coroado [nota final do trad.], Antonin Artaud, Lisboa, Assírio & Alvim, 1982; 2.ª ed., 1991.
“Fragmentos”, Novalis, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987.
Dois poemas de Jonathan Griffin vertidos para português por Mário Cesariny e Philip West – dois poemas de Mário Cesariny vertidos para inglês por Jonathan Griffin – com uma bibliografia sumária da obra poética de Jonathan Griffin e a reprodução-foto de ambos em Londres, ano 1984, Lisboa, suplemento da revista Colóquio/Letras, n.º 120, Abril-Junho de 1991, Novembro, 1991.
Hamlet – tragédia cómica, Luis Buñuel, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
História do soldado – em duas partes, C.-F. Ramuz, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002.
LIVROS TRADUZIDOS
Preface (excerpts) – A short prophetic interlude (homage to André Breton) [trechos introdutórios do livro Textos de afirmação e combate do movimento surrealista mundial], tradução de Manuel S. Lourenço, 4 fls. dactilografadas, arquivo Fundação Cupertino de Miranda.
Burnt City, versão August Willemsen, in revista Het moment, n.º 5, Verão, 1987.
Ortofrenia y otros poemas, versão Perfecto E. Cuadrado, Madrid, Cuaderna de Poesía Portuguesa, 1989.
Manual de Presdigitación, versão Xulio Ricardo Trigo, Barcelona, Icaria Editorial, 1990.
Labyrinthe du chant. Anthologie, prefácio José Pierre, tradução Isabel Meyrelles, Bordeux, L’escampette, 1994.
Un país de bondad y bruma [antología], versões Perfecto E. Cuadrado, Badajoz, Junta de Extremadura/Espacio-Espaço Escrito, 1998.
De profundis amamus, tradução Perfecto E. Cuadrado, Mérida, Junta de Extremadura, cuadernos “La estirpe de los argonautas”, 2001.
Antología poética, tradução Vicente Araguas, Madrid, Visor, 2004.
PREFÁCIOS
“A volta do filho prólogo”, Sete poemas de solenidade e Um requiem, Carlos Eurico da Costa, Lisboa, Edições Árvore, 1952.
“Nota-prefácio”, Imagem devolvida, Mário-Henrique Leiria, Lisboa, Plátano Editora, 1974.
“Prefácio”, Circunstancias atenuantes, J. Franscisco Aranda, Zaragoza, Editora Pórtico, 1990.
“Notas ao prefácio de Joaquim de Carvalho a Os poetas lusíadas”, Os poetas lusíadas, Teixeira de Pascoaes, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987.
ENTREVISTAS
s/a [Ponte, Bruno da], “Mário Cesariny: A nossa literatura actual é a pior possível”, Lisboa, Jornal de Letras e Artes, 29-8-1962.
s/a [Ponte, Bruno da], “Entrevista com Mário Cesariny”, Lisboa, Jornal de Letras e Artes, 19-1-1966.
Horta, Maria Teresa, “Conversa com Mário Cesariny”, Lisboa, A Capital – suplemento “Literatura & Arte”, 4-8-1971.
s/a, “Cesariny: solo de vinte anos”, Lisboa, A Capital, 27-4-1972.
Guerra, Álvaro, [com Cruzeiro Seixas e Mário Henrique Leiria], “O diálogo em 1972”, suplemento “artes e letras”, Lisboa, República, 14-12-1972.
Esteves, Álvaro, “Não me considero um dramaturgo mas acho curiosa a experiência tentada por João d’Ávila – afirma Mário Cesariny”, República, Lisboa, 18-3-1975.
Belard, Francisco, “Fulgor e morte do surrealismo e uma tarde com Mário Cesariny”, Lisboa, A Luta – jornal socialista, 10-2-1978.
Duarte, António, “Os pigmeus não escrevem sempre nas páginas do Diário de Notícias”, Lisboa, Tempo, 13-9-1979.
Vale, Francisco, “Não vamos dizer surrealismo vamos dizer poesia”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 3-8-1982.
s/a [Manuel Hermínio Monteiro], “Três perguntas a Mário Cesariny”, Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 1, Abril/Junho, 1986.
Cardoso, Miguel Esteves e Portas, Paulo, “Já não há povo que queira ser povo”, Lisboa, O In dependente, 20-5-1988.
Elisa, Maria, “Mário Cesariny de A a Z”, Lisboa, Semanário, 18-10-1986.
Barroso, Eduardo Paz, “Mário Cesariny – Um marinheiro comovente nos mares do surrealismo”, Porto, Jornal de Notícias, 24-5-1988.
Almeida, Bernardo Pinto de, “Mário Cesariny: Almirante de um navio de espelhos”, Porto, O Primeiro de Janeiro, 25-5-1988.
Silva, A. Sérgio S., “Cesariny: “Fernando Pessoa? Um Emprego público”, Lisboa, Semanário, 4-6-1988.
Cautela, Afonso, “A aventura de um poeta – “Morri duas vezes, à terceira é de vez” [com a resposta de Mário Cesariny a Salles Lane, datada de 14-2-1981], Lisboa, A Capital, 19-8-1989.
Molina, César António, “Mário Cesariny: do surrealismo não resta nada” [título enganador; a frase está descontextualizada], Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 20-2-1990.
Sepúlveda, Torcato, “Mario. Cesariny: “Emanava de Breton um poder magnético”, Lisboa, Público, 24-5-1991.
– “Reedição de “Titânia”, de Mário Cesariny – O Diabo anda por aqui a cheirar”, Lisboa, Público – suplemento “Leituras”, 12-11-1994.
Santos, Agostinho, “Cesariny reinventa o mundo”, Porto, Jornal de Notícias, 22-2-2001.
Faria, Óscar, “Mário Cesariny – amor, liberdade, poesia”, Lisboa, Público, 19-1-2002.
França, Elisabete, “Histórias reais e surreais”, Lisboa, Diário de Notícias, 1-7-2002 [foi retomada numa versão mais longa, com o mesmo título, no mesmo jornal (suplemento/revista 6.ª), em 29-12-2006].
Belar, Francisco e Guerreiro, António, “Sou um poeta esgotado…”, Lisboa, Expresso – suplemento “Actual”, 20-11-2004.
Duarte, Ricardo e Nunes, Maria Leonor, “Um sopro de liberdade”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 24-11-2004.
Horta, Bruno, “Não sei o que seria se tivesse nascido numa democracia”, Lisboa, Público, 30-11-2004.
Horta, Bruno, “Cesariny: o surrealismo falhou”, Lisboa, Público, 1-12-2004.
Nunes, Vladimiro, “A última entrevista de Mário Cesariny”, Lisboa, revista Tabu, O Sol, 7-10-2006.
Bochicchio, Maria, “A Maravilha do acaso” [entrevista dada alguns meses antes da morte], Lisboa, Expresso, 1-12-2006.
Franco, António Cândido, “Pascoaes nas palavras de Cesariny” [entrevista dada a 26-12-1997], Lisboa, in Teixeira de Pascoaes nas palavras do surrealismo em português, Évora, Licorne, 2010.
Carvalho, Miguel de, “Na conversa com Mário Cesariny” [inédita; entrevista dada em 25-10-2006 (Exposição d’ “Os Surrealistas” em Junho de 1949; Cadáver Esquisito; Soror Mariana Alcoforado) e em 11-11-2006 (José Francisco Aranda)].
ALGUNS DISPERSOS[2]
“O artista e o público” [assinado Mário Cesariny de Vasconcelos], Porto, A Tarde – suplemento “Arte”, 30-6-1945.
“Futurismo e Cubismo I” [assinado Mário Cesariny de Vasconcelos], Porto, A Tarde – suplemento “Arte”, 21-7-1945.
“Futurismo e Cubismo II” [assinado Mário de Vasconcelos (sic)], Porto, A Tarde – suplemento “Arte”, 29-7-1945.
“Aprendizagem na arte” [assinado Mário Cesariny de Vasconcelos], Porto, A Tarde – suplemento “Arte”, 18-8-1945.
“Orozco” [assinado Mário Cesariny de Vasconcelos], Porto, A Tarde – suplemento “Arte”, 15-9-1945.
“Carácter duma pintura nova” [assinado Mário Vasconcelos], Porto, A Tarde – suplemento “Arte”, 6-10-1945.
“Nota sobre 3 músicos” [assinado Mário de Vasconcelos], Porto, A Tarde – suplemento “Arte”, 20-10-1945.
“Notas sobre o neo-realismo português” [assinado Mário de Vasconcelos], Lisboa, Aqui e Além – revista de divulgação cultural, n.º 3, Lisboa, Dezembro, 1945.
“Notas sobre o neo-realismo português (conclusão do número anterior)” [assinado Mário de Vasconcelos], Lisboa, Aqui e Além – revista de divulgação cultural, n.º 4, Lisboa, Abril, 1946.
“XXI Concerto de Sonata” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 16-3-1946.
“XXII Concerto de Sonata” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 20-4-1946.
“XXIII Concerto de Sonata” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 25-5-1946.
“Concerto de Sonata no Instituto Francês e no Salão de Festas “O Século” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 1-6-1946.
XXV Concerto de Sonata e I Concerto de Orquestra Sinfónica J.U.B. A.” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 13-7-1946.
“Fernando Lopes Graça – Música Portuguesa” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 31-8-1946.
“Gravitação na Música Portuguesa” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 26-10-1946.
“Música” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 30-11-1946.
“XXVII Concerto de Sonata” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 1-2-1947.
“Sociedade Nacional de Belas-Artes – Canções Populares Portuguesas” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 8-2-1947.
“Música de Jazz” [assinado Mário César; é um dos mais curiosos textos da época, a coincidir com a aproximação ao surrealismo], Lisboa, Seara Nova, 29-3-1947.
“XXIX Concerto de Sonata no Salão de Festas de “O Século” – Sequeira Costa no Tivoli – No Tivoli: Benjamino Gigli” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 12-4-1947.
“Fernando Lopes Graça em França – XXX Concerto de Sonata na Sociedade Nacional de Belas-Artes” [assinado Mário César], Lisboa, Seara Nova, 26-4-1947.
“Em toda a parte” [“poesias de Mário Cesariny”; mais tarde publicados em Manual de prestidigitação], Coimbra, revista Vértice, n.º 69, Maio, 1949.
“De Gide a Jean-Paul Sartre, passando por Sófocles” [assinado Mário Cesariny de Vasconcelos], Lisboa, Notícias do Império, n.º 2, Fevereiro, 1954.
“Artes plásticas – A primeira exposição da escola de arte de cerâmica de Viana do Castelo” [assinado Mário Cesariny], Lisboa, Notícias do Império, n.º 3, Fevereiro, 1955.
“Os artistas de teatro ao volante… “Rogério Paulo não gosta das estradas molhadas” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 5-9-1955.
“Os artistas de teatro ao volante… “Irene Isidro efectuou um autêntico “rallye” trans-africano com 30 000 quilómetros de percurso e três meses de viagem” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 5-10-1955.
“Os artistas de teatro ao volante… Eugénio Salvador afirma: “O maior mal do trânsito em Lisboa é a ‘indisciplina’” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 5-11-1955.
“Os artistas de teatro ao volante… “Seria capaz de capaz de aproveitar o trânsito lisboeta para uma complicada encenação teatral” diz-nosPaulo Renato” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 5-12-1955.
“Os artistas de teatro ao volante… “Quanto menos árvores houver… melhor” diz-nos António Silva” [não assinado], Lisboa, O Volante, 25-12-1955.
“Os artistas de teatro ao volante… “O meu carro é o melhor do mundo”afirma Carmen de Almeida” [não assinado], Lisboa, O Volante, 25-12-1955.
“Os artistas de teatro ao volante… “Estar depressa onde quero e me apetece, eis o maior prazer que me proporciona o meu carro” diz-nos Humberto Madeira” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 25-1-1956.
“Os artistas de teatro ao volante… “Os metropolitanos são coisas que já não se usam” diz-nos Raul Solnado” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 15-2-1956.
“Os artistas de teatro ao volante…Erico Braga, o “gentleman” do teatro português fala-nos dos seus êxitos no automobilismo e da polícia de trânsito de Lisboa” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 25-2-1956.
“Os artistas de teatro ao volante… “Embora guie desde muito novo deixo aos outros a mania das velocidades” diz-nos Curado Ribeiro” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 25-3-1956.
“Os artistas de teatro ao volante… “Uma campanha de estacionamento também era muito necessária” diz-nos Varela Silva, jovem actor do “Nacional” e apreciado declamador” [não assinado], Lisboa, O Volante, 25-4-1956.
“Os artistas de teatro ao volante… “Ando sempre a pensar nas músicas e sou multado por causa disso” confessa o maestro Fernando de Carvalho” [não assinado], Lisboa, O Volante, 7-8-1956.
“Os artistas de teatro ao volante… Leónia Mendes acha bem que a polícia de trânsito aplique multas mas… João Aleixo já fez onze vezes a volta a Portugal” [não assinado], Lisboa, O Volante, 25-8-1956.
“O Museu romântico de Madrid – delicada evocação do século XIX espanhol” [assinado Mário Cesariny], Lisboa, O Volante, 25-12-1956.
“Corridas em Monsanto. Fernando Espírito Santo ganhou a “taça Fangio” destinada ao melhor vespista” [assinado Mário Vasconcelos], Lisboa, O Volante, 15-6-1957.
“Cantiga por S. João” [assinado Mário Vasconcelos; com fotografia de M. Cesariny], Lisboa, O Volante, 15-8-1957.
“Os prémios do Rally de Setúbal foram distribuídos pelo Centro Paroquial de S. João de Deus” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 15-6-1958.
“O Dr. Guiseppe Montano, director-geral da “Ducati”, confiou a “O Volante” as suas impressões sobre a vitória desta marca em Vila Real” [assinado M.V.], Lisboa, O Volante, 25-7-1958.
[sobre a estreia poética de Fernando Grade, “poeta, de corpo presente”], Síntesis – cuadernos ibéricos de cultura, información y crítica, n.º 1, Lisboa, Novembro, 1963.
“Nota sobre a nota de Carlos Loures” [assinado Mário Cesariny], Lisboa, Jornal de Letras e Artes, 2-3-1966.
“Ode a outros e a Maria Helena Vieira da Silva/ Ode à certains et à Maria Helena Vieira da Silva” [trad. Isabel Meyrelles], O Rosto deserto, poema em francês de Isabel Meyrelles, “traduzido para português por Natália Correia (…) com um desenho de Artur Cruzeiro Seixas”, s/l, edição da autora (?), 1966.
“João Vasconcelos e Justino Alves na Galeria Alvarez” [assinado M.C.], Lisboa, Jornal de Letras e Artes, Abril, 1968.
“Natália Correia e Mário Cesariny tomam posição” [texto assinado por M.C. e N.C. sobre os acontecimentos de Custóias de 1-1-1976 e do Movimento Unitário dos Trabalhadores Intelectuais], Lisboa, O Dia, 3-1-1976.
“John Heatfield na Escola de Belas-Artes de Lisboa”, Lisboa, O Século – suplemento Calendário, 28-2-1976.
“Quando eu morrer batam em latas”, Lisboa, O Século – suplemento Calendário, 24-4-1976.
“Arte Negro-Africana no Museu de Etnologia de Belém”, Lisboa, O Século – suplemento Calendário, 2-10-1976.
“O México e a máscara – reflexões em torno das máscaras mexicanas da colecção do eng. Victor José Moya”, Lisboa, O Século – suplemento Calendário, 18-12-1976.
“Livro de memórias”, Lisboa, O Diabo, 30-8-1977.
“Um poema” [apresentação de Zbynek Havlicek (1922-1969) e trad. de poema seu; foi recolhido, sem a nota de apresentação na colectânea Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial], Lisboa, O Diabo, 20-9-1977.
“Livro de registos”, Lisboa, O Diabo, 18-10-1977.
“Nasceu este ano na URSS um ciclo de heróis – comunicação de Mário Cesariny na conferência ‘Pelos direitos humanos contra o julgamento de Moscovo’”, Lisboa, Jornal Novo, 2-8-1978.
“Homenagem aos marretas”, Lisboa, Jornal Novo, 7-8-1978.
“Apólogo do grupo surrealista de Pisa”, Lisboa, Jornal Novo, 21-8-1978.
“A previsão é calor”, Lisboa, Jornal Novo, 26-8-1978.
“Poesia americana contemporânea – Emílio Adolfo Westphalen” [nota biográfica e tradução de dois poemas, Lisboa, Jornal Novo, 9-12-1978.
“Comunicado”, Pascoaes – No Centenário do Nascimento de Teixeira de Pascoaes, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1980.
“Raul Brandão e a Pintura”, Catálogo da exposição ícono-bibliográfica comemorativa da morte de Raul Brandão, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1980.
“Seis Poemas do Livro Inédito Climas Ortopédicos de Mário Henrique Leiria”, Revista da Biblioteca Nacional, 1982.
“Cesariny phala de O’Neill”, Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 2, Julho/Setembro, 1986.
“A visita de Nora Mitrani”, Lisboa, Semanário, 29-8-1987.
“Resposta a inquérito sobre a poesia portuguesa”, Lisboa, A Phala – Um século de poesia (1888-1988), boletim da editora Assírio & Alvim, edição especial, Dezembro, 1988.
“Iluminações, Uma cerveja no inferno – A tradução e o nome”, Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 17, Fevereiro/Março, 1990.
“Manual de Presdigitación” [introdução à edição espanhola de Manual de Prestidigitacção (1981)], Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 22, Janeiro/Março, 1991.
“Depoimento oral de Mário Cesariny a propósito da ed. de Nobilíssima visão”, Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 25, Outubro/Dezembro, 1991.
“resposta a inquérito sobre André Breton” [em castelhano], Madrid, revista Salamandra, n.º 6, 1993.
“O que devo a Breton” [tradução do texto saído na revista Salamandra, n.º 6] Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 36, Janeiro/Março, 1994.
“Proposta de Mário Cesariny” [sobre as gravuras rupestres de Foz Côa], Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 43, Março, 1995.
“Um marinheiro com cornos – uma história verdadeira de Mário Cesariny e Petr Kral”, Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 45, Agosto/Setembro, 1995.
“Antonin Artaud” [com Enrique Carlón nos 50 anos da morte de A.A.], Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 65, suplemento, 1998.
“Memórias descritivas”, Figuras e figurações, doze poemas escritos em 1994 por Octávio para doze collages de Marie José paz, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
“Epopeia de Guilgamesh (excerto)”, Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 85, Abril, 2001; Rosa do Mundo – 2001 poemas para o futuro, org. Manuela Correia, Lisboa, Assírio & Alvim, 2001.
“Orpheu e a literatura de vanguarda” [texto inicialmente publicado no Diário Popular (11-4-1957), não recolhido em As mãos na água a cabeça no mar], Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 89, Outubro/Novembro, 2001.
“Pastor – Evangelho em 1 prólogo e 3 quadros”, Lisboa, Relâmpago – revista de poesia, n.º 26, Lisboa, Fundação Luís Miguel Nava, Abril, 2010.
ALGUMA EPISTOLOGRAFIA DISPERSA
para jornal D.N. [“Contestada pelo poeta Mário Cesariny a posição da Associação Portuguesa de Escritores”], Lisboa, Diário de Notícias, 15-5-1974.
para Paulo António Paranaguá e para Franklin Rosemont [“Duas Cartas de Mário Cesariny”, Londres, 7-1-1969; Lx., Outubro, 1970], Lisboa, Expresso, 25-1-1975.
para os directores e proprietários da revista Sema, [a propósito da saída do primeiro número desta revista], Lisboa, Aos directores da revista da revista Sema ou a que se pretende – Abril 1979 edição rank-xerox, Abril, 1979, 5 pp. + capa.
para Vitor Silva Tavares (11-11-1974; 23-11-1974)], Lisboa, Edições esquentamento – colecção blenorragia, n.º 1, ed. rank-xeroz, 50 exs., 1980.
Para jornal J.L. [“A universidade continua mal cheirosa”; a propósito da exposição na Universidade de Montreal de Luís de Moura Sobral], Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 11-10-1983.
Para jornal D.N. [“Uma carta de Mário Cesariny – Ausências e encontros numa exposição”], Lisboa, Diário de Notícias, 22-12-1984.
para Salles Lane [14-2-1981], Lisboa, A Capital, 19-8-1989.
para Sergio Lima [“Lx., Jan. 91], in Aluvião Rei, Sérgio Lima, extra-texto, Lisboa, & etc, 1992.
Para jornal Público [“Este governo já acabou”; a propósito de Foz Côa], Lisboa, Público, 21-10-1995.
para Manuel Hermínio Monteiro [s/d (Verão de 1995)], Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 45, Julho-Setembro, 1995.
para Manuel Hermínio Monteiro [s/d (Inverno de 2001); sobre a prisão em Fresnes], Lisboa, A Phala, boletim da editora Assírio & Alvim, n.º 84, Março, 2001.
para Cruzeiro Seixas [cinco cartas (1942, 1950, 1953, 1965); rep. Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas (v.)], transcrição de António Poppe, Lisboa, suplemento “Mil Folhas”, Público, 8-12-2006.
para Perfecto E, Cuadrado [três cartas; 15-6-1990, 6-3-1991 e s/d), Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 20-12-2006.
para Fernando Lopes Graça [três cartas; s/d (Primavera de 1948?); s/d (1946); 22-1-1960], Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 3-1-2007.
para Sergio Lima [Lisboa, 16-9-1988], A Phala – revista do movimento surrealista, n.º 2, São Paulo, 2013.
para Afonso Cautela [2-11-1982], apresentação A. Cândido Franco, Évora, revista A Ideia, n.º 71-72, 2013.
para Ana Maria Pereirinha [14-12-1989], apresentação Ana Maria Pereirinha, Braga, Delphica – letras & artes, n.º 2, 2014.
Para Pedro Oom [2-4-1968], Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas, Lisboa, Documenta, 2014.
para Sérgio Lima [5-7-1967], recolha A. Cândido Franco, Évora, revista A Ideia, n.º 75-76, 2015.
para Nicolau Saião [s/d (Dezembro de 1993], apresentação A. Cândido Franco, Évora, revista A Ideia, n.º 75-76, 2015.
para Miguel Pérez Corrales [s/d (Dezembro de 1993)], apresentação A. Cândido Franco, Évora, revista A Ideia, n.º 75-76, 2015.
para André Breton [Paris, 14-9-1947], apresentação A. Cândido Franco, Três cartas inéditas para André Breton, Évora, Licorne, 2015.
para Virgílio Martinho [Sesimbra, 21-10-1963], apresentação A. Cândido Franco, Évora, revista A Ideia, n.º 77-80, 2016.
para Natália Correia [Londres, 16-8-1965], apresentação Cristina Dias, Évora, revista A Ideia, n.º 81-83, 2017.
para Guy Girard [sete cartas; Lisboa, 1992-94], apresentação A. Cândido Franco, Évora, revista A Ideia, n.º 84-86, 2018.
ALGUNS INÉDITOS
12 desenhos, fragmento de manifesto e texto teórico em seis páginas [1949 (?)], espólio Mário Henrique Leiria, E22/322, B.N.P.
Prefácio ao livro de Mário Henrique Leiria, Claridade dada pelo tempo, com cinco poemas datados de 1950 [poemas publicados na antologia Surreal/Abjeccion-ismo], 3 pp. dactilografadas, s/título, espólio Mário Henrique Leiria (E22/1), B.N.P.
“Nós reduziremos a arte à sua expressão mais simples, que é o Amor – Evidência surrealista”, manifesto [Mário Cesariny de Vasconcelos, Mário Henrique Leiria, Carlos Eurico da Costa, Cruzeiro Seixas], uma folha manuscrita (caligrafia de M. H. Leiria), Outubro 1951, espólio Mário Henrique Leiria, E22/116, B.N.P.
Cinco poemas [“Cantares de amante”; “Os olhos semelhantes”; “As lágrimas quentes de beijos”; “Poema”; “Desprende-te de mim”; acompanham a carta inédita a Eugénio de Andrade de 11-11-1951], espólio Adolfo Casais Monteiro (E15/2276), B.N.P.
“Ao club acreditar”, manifesto colectivo [Mário Cesariny de Vasconcelos, Carlos Eurico da Costa, Mário Henrique Leiria,], uma folha manuscrita (caligrafia de M.C. de Vasconcelos), Dezembro 1951, espólio Mário-Henrique Leiria, E22/316, B.N.P.
“Comunicação ao Congresso de Estudos Surrealistas de Belo Horizonte – 1979” [15 pp. manuscritas], espólio de Luís Amaro (N5/9437), B.N.P.
EPISTOLOGRAFIA INÉDITA
para Cruzeiro Seixas [telegrama (27-3-1947); 8-4-1963; telegrama (4-10-1965; telegrama (21-6-1966); 26-6-1972; 3-10-1972; 6-11-1977], espólio de Cruzeiro Seixas (N38/cx. 7 e 8), B.N.P.
para António Paulo Tomaz [duas cartas; s/d (1946?) e 30-1-1949], espólio de Cruzeiro Seixas (N38/cx. 7 e 8), B.N.P.
para Mário Henrique Leiria [s/d (início de Maio de 1949); ao “Amigo desconhecido”; assinada por Mário Cesariny Vasconcelos, Carlos Eurico da Costa, Pedro Oom, António Maria Lisboa, Henrique Risques Pereira e Fernando Alves dos Santos], espólio M. Henrique Leiria (E22/116), B.N.P.
para Simon Watson Taylor [Nov. 1950; uma folha manuscrita], espólio Mário-Henrique Leiria (E22/118), B.N.P.
para Eugénio de Andrade [11-11-1951; a propósito da publicação do livro As palavras interditas, carta acusatória de plágio; teve resposta de Eugénio Andrade a 25-11-1951], espólio Adolfo Casais Monteiro (E15/2276), B.N.P.
para João Gaspar Simões [26-6-1952; “Carta Manifesto a propósito de dois artigos de João Gaspar Simões sobre Sete poemas de solenidade e um requiem de Carlos Eurico da Costa”; assinada por Mário Cesariny Vasconcelos, Artur Cruzeiro Seixas, Carlos Eurico da Costa e Henrique Risques Pereira; dactilografada, 8 pp.], espólio Luís Amaro (N5/9303), B.N.P.
para João Palma-Ferreira [quatro cartas, 9-10-1958 a 2-1-1976], espólio João Palma-Ferreira (N2/318-321), B.N.P.
Para Azeredo Perdigão [2-9-1960], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (EDU 00273).
para António Ramos Rosa [uma carta; Novembro, 1960], espólio A. Ramos Rosa (N7/cx.15), B.N.P.
para a Sociedade Portuguesa de Escritores [2-4-1962; assinada também por Ernesto Sampaio e Virgílio Martinho; a propósito dos prémios literários; dactilografada, 1 pp.], espólio Luís Amaro (N5/9409), B.N.P.
para Natércia Freira [duas cartas, s/d (Março, 1964 e Dezembro, 1970)], espólio Natércia Freire (E48/cx. 5), B.N.P.
para Natália Correia [nove cartas, 1965-1977], Biblioteca Pública de Ponta Delgada, espólio de Natália Correia.
para Artur Nobre Gusmão [1-9-1965], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 01095).
para Artur Nobre Gusmão [5-4-1966], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 01095).
para Artur Nobre Gusmão [29-4-1966], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 01095).
para José Cardoso Pires [manuscrita; 7-8-1966], espólio José Cardoso Pires (E53/cx.26), B.N.P.
para Ana Hatherly [13 cartas; 12-1-1969 a Julho de 1974], espólio Ana Hatherly (N57/cxs. 5 e 7), B.N.P.
para Paula Rego [s/d (carimbo do correio de Paris: 13-3-1970)], espólio de Cruzeiro Seixas (N38/cx. 7 e 8), B.N.P.
para Cruzeiro Seixas [s/d (carimbo do correio de Paris: 13-3-1970)], espólio de Cruzeiro Seixas (N38/cx. 7 e 8), B.N.P.
para Alfredo Margarido [s/d (Primavera de 1970?)], espólio Alfredo Margarido (E61/cx. 2), B.N.P.
para Fernando Azevedo [s/d (Primavera, 1970)], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 00140).
para Francisco Pereira Coutinho [sete cartas; 17-10-1971 a 24-6-1987], arquivo da galeria S. Mamede, pasta “Cesariny”.
para Artur Nobre Gusmão [2-4-1975], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 00140).
para Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian [2-4-1975], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 00140).
para João Gaspar Simões [três cartas e um postal; 13-1-1976 a 5-1-1986], espólio João Gaspar Simões (E16/871-874), B.N.P.
para Lucília Alvoeiro e Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian [s/d (início Janeiro, 1977], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 00140).
para Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian [22-10-1977], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 00140).
para Manuel S. Lourenço [quatro cartas; 6-12-1977 a Abril de 1978], espólio Manuel Lourenço (E62/539-543), B.N.P.
para Mário Soares, uma carta [manuscrita; Junho, 1991], Fundação Mário Soares, arquivo Mário Cesariny.
para Jeanne Pinto de Figueiredo [manuscrita; s/d], espólio João Pinto de Figueiredo (N25/cx.8), B.N.P.
2 SOBRE MÁRIO CESARINY
LIVROS
Almeida, Bernardo Pinto de, Mário Cesariny – a imagem em movimento [com 34 obras plásticas], Lisboa, Caminho, 2005.
Azevedo, Fernando José Fraga de, Texto literário e ensino da língua – a escrita surrealista de Mário Cesariny, Braga, Universidade do Minho, 2002.
Belo, Duarte, Em casas como aquela, fotografias de Duarte Belo e texto introdutório de José Manuel dos Santos, Lisboa, Documenta, 2014.
Corrales, Miguel Pérez e Cuadrado, Perfecto E., Mário Cesariny, revista La página, ano XXV, n.º 2, Tenerife, 2013.
Franco, António Cândido, Três cartas inéditas para André Breton [Mário Cesariny e Cândido Costa Pinto], Évora, Licorne, 2015.
Mãe, Valter Hugo, A palavra que detona, Famalicão, Fundação Cupertino de Miranda, 2013.
Marinho, Maria de Fátima, O surrealismo em Portugal e a obra de Mário Cesariny de Vasconcelos [sobretudo o cap. III “O surrealismo na obra de Mário Cesariny de Vasconcelos”; anexo final com epistolografia inédita de Pedro Oom (1949; 1968) e Mário Henrique Leiria (1949-1950; 1970-1973), textos colectivos inéditos (cadáveres esquisitos e diálogos automáticos) e individuais inéditos de António Pedro, Mário Henrique Leiria, Pedro Oom, Cruzeiro Seixas e Alfredo Margarido], Maia, edição da autora [30 ex.], 1986.
– O surrealismo em Portugal [reedição do trabalho anterior], Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987.
Mário Cesariny [com cronologia inicial elaborada pelo autor e textos de Raul Leal, Natália Correia e Lima de Freitas], Lisboa, Secretaria de Estado da Cultura, 1977.
Mário Cesariny [com 252 obras plásticas; catálogo da exposição organizada pela Fundação EDP em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa no Museu da Cidade (Pavilhão Preto) em Dezembro de 2004; org. João Lima Pinharanda e Perfecto E. Cuadrado; valiosa antologia final de textos críticos sobre a pintura de M.C. (colaborações: Raul Leal, Rui Mário Gonçalves, Nelson Di Maggio, Cruzeiro Seixas, Rocha de Sousa, João Gaspar Simões, Natália Correia, Mário de Oliveira, Eurico Gonçalves, Cartaxo e Trindade, Lima de Freitas, Manuel Lourenço [“Mário Cesariny: as fogueiras gelam”], Laurens Vancrevel, Edouard Jaguer, Bernardo Pinto de Almeida, Maria Helena Vieira da Silva, Alexandre Melo, João Pinharanda, António Rodrigues, Al Berto, Francisco Relógio, Ernesto Sampaio, Luísa Soares de Oliveira, António Barahona], Lisboa, EDP/Assírio & Alvim, 2004.
Mário Cesariny navio de espejos [catálogo de exposição; coord. Anabela Sousa e João Pinharanda], Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006.
Martins, Ernesto [coordenador], Cesariny – poeta // pintor surrealista (conjunto de artigos recolhidos de jornais e revistas de artes plásticas e literárias deste insigne pintor/poeta) [tem cópia do quarto e último testamento de M.C. feito a 16-7-2004 e fotografias raras de família (avô Pierre)], tiragem 6 exs., Lisboa, Ernesto Martins, 2007
Martins, Fernando Cabral, Mário Cesariny e O Virgem Negra ou a morte do autor e o nascimento do actor, Lisboa, Documenta, 2016.
Paiva, Susana, Monsieur Cesariny, fotografias e texto final de Susana Paiva, Coimbra, Debout sur L’Oeuf, 2015.
Rocha, Michele C., António Maria Lisboa e Mário Cesariny – territórios de convergência intertextual, Famalicão, Fundação Cupertino de Miranda, 2013.
Sousa, Rui, A presença do abjecto no surrealismo português, Lisboa, Esfera do Caos, 2016.
Tabucchi, Antonio, La Parola Interdetta, Turim, Einaudi, 1971.
Tchen, Adelaide Ginga, A aventura surrealista, Lisboa, Colibri, 2001.
POLICOPIADOS
Costa, Carla Sofia Pires, A metáfora na poesia surrealista de Mário Cesariny, dissertação de mestrado, Covilhã, Universidade da Beira Interior, 2008.
Vasconcelos, Diana Isabel Fontes, O Poeta Mago – presenças da magia na obra poética de Mário Cesariny de Vasconcelos, dissertação de mestrado, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 2009.
Oliveira, Marlene Alexandra Teixeira, O sistema de informação de Mário Cesariny – estudo analítico, organizativo para a sua dinamização [trabalho sobre o espólio da Fundação Cupertino de Miranda; tem informação útil e reprodução de documentos importantes mas contém erros graves sobre o casamento de Henriette Cesariny de Vasconcelos por certo por confusão com a tia Henriette Cesariny Escalona], Porto, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2010.
Almeida, Emília Isabel Monteiro Pacheco Pinto de, Para a consideração de um plano de criação poética na obra de Mário Cesariny, dissertação de mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2011.
Gomes, Júlia Pinheiro, Fernando Pessoa revisited: uma leitura de O virgem negra de Mário Cesariny, dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, Universidade Federal, 2016.
Macedo, Vasco de Carvalho Figueiredo, Um quintal novo para as galinhas do poeta – ensaio sobre Mário Cesariny, dissertação de mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2018.
REVISTAS & PUBLICAÇÕES
A Phala [colaboração de Herberto Helder (“Herberto Helder fala de Mário Cesariny”), João Miguel Fernandes Jorge, Fernando Pinto do Amaral, Manuel Hermínio Monteiro, Ernesto Sampaio (“O não e o sim em Mário Cesariny”), Joaquim Manuel Magalhães, tábua bibliográfica], boletim da editora Assírio & Alvim, n. 9, Abril-Junho, 1988.
Espaço/Espacio Escrito – revista en dos língoas [pasta dedicada a M.C.; cronologia; 5 poemas inéditos; colaboração: Al Berto, Alfredo Margarido, António Quadros, António Rodrigues, Antonio Tabucchi, Armando Silva Carvalho, August Willemsen, Bernardo pinto de Almeida, Carlos Felipe Moisés, E.M. de Melo e Castro, Edouard Jaguer, Eugénio Lisboa, Eurico Gonçalves, Fernando J. B. Martinho, Fernando Pinto do Amaral, Hermínio Monteiro, João Camilo dos Santos, Joaquim Matos, José-Augusto França, Laurens Vancrevel, Luís de Moura Sobral, Maria de Fátima Marinho, Maria Helena Vieira da Silva, Miguel Pérez Corrales, Natália Correia, Nuno Júdice, Olga Gonçalves, Sergio Lima, Petr Král, Pierre Rivas, Xesús González Gómez], n.º 6/7, Badajoz, Inverno, 1991.
Mil folhas [“Mário Cesariny: Cartas inéditas [para Cruzeiro Seixas] textos e desenhos de 30 autores”; capa: António Poppe; colaboração (entre outros): António Barahona, Cruzeiro Seixas (“Uma chama, esse Mário), Bernardo Pinto de Almeida, Carlos Calvet (“Uma carta”), Fátima Maldonado, Ilda David, Jaime Rocha, João Pinharanda, José Manuel dos Santos, Luis Manuel Gaspar, Manuel António Pina (“Carta a Mário Cesariny no dia da sua morte”), Manuel Gusmão, Manuel Rosa (escultura), Miguel Gonçalves Mendes (“Caro Mário”), Óscar Faria, Vítor Silva Tavares], suplemento do jornal Público, Lisboa, 8-12-2006.
6.ª [“Mário Cesariny 1923-2006”, ilustração da capa: André Carrilho; editorial: Nuno Galopim; colaboração (entre outros): Torcato Sepúlveda (“O comunismo do génio”), Fernando Martinho (“Estelas para Mário Cesariny”), Perfecto E. Cuadrado (sobre a realização do filme “Ama como a estrada começa”), Pedro Mexia, Rui Mário Golçalves (“Intensamente livre”), Henrique Cayatte Isabel Lucas, Elisabete França (“As veredas editoriais”), José Mário Silva, Ana Marques Gastão (entrevista a Cruzeira Seixas), Elisabete França (entrevista a M.C.), inéditos de M.C. (versos manuscritos da Epopeia de Guilgamesh; desenhos)], revista suplemento do Diário de Notícias, Lisboa, 29-12-2006.
Diacrítica [secção inicial dedicada a M.C., “Sob o signo da vanguarda”; textos de Carlos machado, Fernando Azevedo e Maria de Fátima Marinho], n.º 21/23, Braga, Universidade do Minho, 2007.
Um postal para Mário Cesariny: viagem a Arcturus, org. Carlos Martins, Nicolau Saião, Hugo Guerreiro, Estremoz, Câmara Municipal, Março de 2007.
Relâmpago – revista de poesia [número dedicado a M.C.; textos de António Carlos Cortez, Fernando Azevedo, Fernando Martinho, Fernando Cabral Martins; carta de Eugenio Granell para M.C.; depoimentos: António Barahona, Armando Silva Carvalho, Cruzeiro Seixas, Fernando Lemos, Fernando Pinto Amaral, Gastão Cruz, Helder Macedo, José Manuel dos Santos, Luís Amorim de Sousa, Maria Emília Correia (“Rosas e arame, homens e arame”), Perfecto E. Cuadrado; biobliografia de António Martins Soares], n.º 26, Lisboa, Fundação Luís Miguel Nava, Abril, 2010.
PROCESSOS
Livro de Termos das Escolas n.º12/21, folha 78 (comprova a conclusão de “provas do exame do 2.º grau de Ensino Primário Elementar em 18 de Julho de 1934”).
Liceu Gil Vicente, “Processo individual n.º 22024 – do aluno Mário Cesariny de Vasconcelos (1.ª Classe, Turma A, ano 1934/35)”.
Escola de Artes Decorativas António Arroio, “Processo individual do aluno Mário Cesariny de Vasconcelos (1935/1942)”.
PIDE (1945-1972), SC, Reg. 130498, NT 8059; SC, Ci(1), 2884, NT 1252; SC, E/GT 4939, NT 1609; SC, DPI 90-58/59 NT 6650; Del. P, PI 22401, NT 3807.
Galeria S. Mamede, contratos notariais entre Francisco Pereira Coutinho e Mário Cesariny de 11-3-1972 e 1-10-1973.
PANFLETOS & FOLHAS
Domingos, Paulo da Costa, Judicearias [com textos de Bernardo Pinto de Almeida, António Guerreiro e outros], Lisboa, Frenesim, 2005.
Martinho, Virgílio, Funções de Cesariny [folha, ed. tipográfica; s/tiragem], Maio, 1968.
Mello, Fernando Ribeiro, As avelãs de Cesariny [folha, ed. tipográfica; s/tiragem; resposta ao panfleto de M.C. de Maio de 1968], Junho, 1968.
Pacheco, Luiz, “Cesariny ou do picto-abjeccionismo” [folha policopiada; incluído em Pacheco versus Cesariny], 1959.
– Cesariny muito cansado [folha policopiada; incluído em Pacheco versus Cesariny], Primavera de 1962.
– Cesariny, o Esfrangalhador… Homessa!” [folha policopiada; incluído em Pacheco versus Cesariny], Primavera de 1962.
CARTAS
Isabel Meyrelles para Cruzeiro Seixas [cartas de 6-12-1952, 11-12-1960 10-10-1964, 6-11-1964; inéditas], espólio de Cruzeiro Seixas, B.N.P.
Maria Helena Vieira da Silva para Azeredo Perdigão [7-9-1960; inédita], arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (EDU 00273).
Maria Helena Vieira da Silva para Azeredo Perdigão (Janeiro, 1964; transcrita em Gatos comunicantes, 2008), arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (SBA 01095).
Eduardo de Oliveira para Cruzeiro Seixas [17-2-1965; inédita], arquivo da U.É.
Luiz Pacheco para Natália Correia [26-8-1966; inédita], espólio de Natália Correia, B.N.P./Biblioteca Pública de Ponta Delgada.
Pedro Oom para Mário Cesariny [22-10-1965; 15-8-1966], Três poetas do surrealismo, Lisboa, B.N.P., 1981.
– [21-3-1968; com notas anexas], Edições esquentamento – colecção blenorragia, n.º 1, Lisboa, 1980.
Francisco Pereira Coutinho para Mário Cesariny [26-1-1974; inédita], arquivo da galeria S. Mamede, pasta “Cesariny”.
Cruzeiro Seixas para Mário Cesariny [27-7-1975; 6-8-1975; 15-8-1975; inéditas], espólio de Cruzeiro Seixas, B.N.P.
Cruzeiro Seixas para Édouard e Simone Jaguer [cartas de 8-12-1976; 29-1-1985; s/d (início de 2001); 17-2-2003; inéditas], espólio de Cruzeiro Seixas, U.É.
Isabel Meyrelles para Cruzeiro Seixas [cartas de 3-3-1983; 8-3-1984; 24-1-1994; 20-12-1994; 29-5-1996; 30-7-1997; 15-3-2004; inéditas], espólio de Cruzeiro Seixas, U.É.
Cruzeiro Seixas para José Franscisco Aranda [carta de 14-2-1987; inédita], espólio de Cruzeiro Seixas U.É.
Juan Carlos Valera para Cruzeiro Seixas [16-9-1994; 6-6-1995; 22-6-1995; 31-1-1998; 17-8-1999; 15-10-1999; inéditas], arquivo da U.É.
Cruzeiro Seixas para Bernardo Pinto de Almeida [cartas de 2-1-1996; 7-1-1996; 8-4-1996; 20-5-1997; s/d (final de 2000); 19-4-2001; 19-2-2002; inéditas], espólio de Cruzeiro Seixas, U.É.
Cruzeiro Seixas para Isabel Meyrelles [cartas de 17-1-1988; 25-5-1997; 20-8-1997; 6-9-1997; 28-12-1997; 5-4-2001; inéditas], espólio Cruzeiro Seixas, U.É.
Manolo Rodriguez Mateos para Mário Cesariny [11-11-1999; inédita], arquivo da U.É.
Cruzeiro Seixas para Rui Mário Gonçalves [cartas de 3-9-2000; 14-2-2002; inéditas], espólio de Cruzeiro Seixas, U.É.
Manolo Rodriguez Mateos para Cruzeiro Seixas [25-2-2004; inédita; com muitos dados sobre o encontro na galeria S. Mamede em Dezembro de 2003], arquivo da U.É.
Bernardo Pinto de Almeida a José-Augusto França, [19-4-2006; inédita], arquivo do autor.
Cruzeiro Seixas para Laurens e Frida Vancrevel [s/d (2009); inédita], espólio de Cruzeiro Seixas, U.É.
ALGUNS DISPERSOS
Almeida, Bernardo Pinto de, “Cesar in Y”, Porto, O Primeiro de Janeiro, 25-5-1988.
– “Mário Cesariny explicado aos nativos ou: O Virgem Negra, modo de usar”, Lisboa, A Phala, boletim da Assírio & Alvim, n.º 51, Assírio & Alvim, Dezembro, 1996.
– textos em catálogos: “Os novos primitivos”, Porto, coooperativa Árvore, 1984; Lisboa, “O Mar-i-o Cesariny”, EMI-Valentim de Carvalho, 1988; “Regresso a 1947”, Torres Novas, Neupergama, 1997.
– “Todos os rostos, o rosto”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 20-12-2006.
– “Mário Cesariny”, in “Lógica do Café Royal: o surrealismo ou a outra cena da arte portuguesa”, in Arte portuguesa no século XX – uma história crítica, Matosinhos, Cardume editores, 2016, pp. 225-230.
Andrade, António Diogo, “Um trabalhador apoia manifesto de Natália Correia e Mário Cesariny sobre Custóias e Caxias”, Lisboa, O Dia, 7-1-1976.
Baptista-Bastos, Armando, “Obituário de um só-realista. César-in fecto feito”, Lisboa, O Ponto, 19-2-1981.
Belo, Duarte, “Impossível parar”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 20-12-2006.
Carapinha, Rogério, “Pintura – As cores quentes do negócio”, Lisboa, revista Flama, 9-3-1973.
Cardoso, Miguel Esteves, “Diário de Bordo, Lisboa, O Independente, 4-8-2000.
Carvalho, Armando Silva, “Fragmento de Cesariny”, Lisboa, Diário de Notícias, 29-12-2006.
Carvalho, Gil de, “Cesariny”, Lisboa, A Phala – Um século de poesia (1888-1988), boletim da editora Assírio & Alvim, edição especial, Dezembro, 1988.
Castrim, Mário, “”Mário Cesariny, 1971”, Lisboa, Diário de Lisboa, 14-2-1971.
César, Amândio, “Manual de prestidigitação – poemas de Mário Cesariny de Vasconcelos”, Lisboa, Diário Ilustrado, 30-3-1957.
Cipriano, Rita, “Os gatos ainda esperam por Mário Cesariny”, Lisboa, Observador, especial aniversário, n.º 1, 2016.
Corrales, José Miguel, “Los Noa Noa de Mário Cesariny”, Tenerife, revista La Página, ano XXV, n.º 2, 2013.
Coelho, Alexandre Lucas, “Mário Cesariny (1923-2006) – Viveu à altura da obra e a obra esteve à altura da vida”, Lisboa, Público, 27-11-2006.
– “E se Mário Cesariny voasse até aos Prazeres… Funeral ontem em Lisboa”, Lisboa, Público, 28-11-2006.
Correia, Maria Emília, “Um sábio”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 24-11-2004.
Correia, Natália, “Cesariny e o enfarte”, Mário Cesariny, Lisboa, Secretaria de Estado da Cultura, 1977.
Coyné, André, “Censure: les surréalistes aussi!” [recolhido em Portugal é um ente… De l’être du Portugal, Lisboa, Fundação Lusíada, 1999; contém a resposta completa de M.C. ao inquérito “Le surréalisme et l’amour”, exposição em Paris, Pavillon des Arts, 6 de Março a 18 de Junho de 1997], Paris, revista Éléments, n.º 89, 1997
Cruz, Gastão, “Crítica de Poesia – Planisfério de Mário Cesariny de Vasconcelos”, Lisboa, Jornal de Letras e Artes, n.º 6, 8-11-1961.
– “Considerações sobre a nova poesia e a nova crítica”, Lisboa, Jornal de Letras e Artes, n.º 16, 17-1-1962.
– “Seis portugueses – I parte – Carlos de Oliveira, Sophia Andresen, Mário Cesariny”, Lisboa, Diário de Lisboa, 9-7-1964.
– “A cidade queimada, de Mário Cesariny de Vasconcelos”, Lisboa, Diário de Lisboa, 3-3-1966.
– “Gastão Cruz: não existem poetas descomprometidos”, entrevista de Fernando Dacosta, Funchal, O Comércio do Funchal, 12-4-1970.
– “Mário Cesariny, poeta realista”, A Poesia portuguesa hoje, Lisboa, Plátano, 1973.
Cuadrado, Perfecto E., “Introdução em Três Movimentos” [abordagem de fundo do surrealismo em português (complementa-se com a entrevista que o autor deu por ocasião da saída do livro: Público, 10-4-1999), A Única Real Tradição Viva – Antologia da Poesia Surrealista Portuguesa, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998.
– “Os grandes libertadores do amor”, Porto, Jornal de Notícias, 27-11-2006.
Dacosta, Fernando, “Dar banho à literatura” [com fotografia de Ribeiro de Mello e M. Cesariny], Lisboa/Luanda, revista Notícia, 1-1-1972.
D’ Anunciação, Pedro, “Fernando José Francisco (1922-2007) – o artista esmagado de amor”, Lisboa, Sol, 12-1-2008.
Domingos, Paulo da Costa, “Louvor e simplificação do surrealismo ou o surrealismo segundo S. Gastão”, Lisboa, & etc, n.º 19, Janeiro, 1974.
Faria, Almeida, “Um surrealismo de trazer por casa”, revista Sema, n.º 1, Primavera, 1979.
Faria, Óscar, “Mário Cesariny encontra Eugénio de Andrade na livraria Assírio & Alvim no Porto – A morte não existe”, Lisboa, Público, 10-5-1999.
– “Exposição do surrealismo provoca polémica – Famalicão ‘reviu’ mostra do Chiado”, Lisboa, Público, 7-11-2001.
– “Sai tudo, diz Mário Cesariny – Exposição do Surrealismo”, Lisboa, Público, 5-12-2001.
Ferreira, João Palma, “Nobilíssima visão, por Mário Cesariny”, Lisboa, Diário Popular, 6-8-1959.
Fonseca, Francisco, “Mário Cesariny apadrinha Grupo Surrealista de Barcelos”, Lisboa, Público, 16-1-2005.
França, Elisabete, “Comemoração 80.º aniversário – Parabéns, Mário Cesariny!”, Lisboa, Diário de Notícias, 9-8-2003.
– “Vida Literária para Cesariny: ‘Toda a vida fiz infracções’”, Lisboa, Diário de Notícias, 4-11-2005.
– “Vida literária com Ordem da Liberdade – hoje um prémio consagra o poeta-artista e o cidadão é condecorado”, Lisboa, Diário de Notícias, 30-11-2005.
– “Última morada – O gato não faltou ao funeral de Cesariny”, Lisboa, Diário de Notícias, 28-11-2006.
– “Testamento – Milhões de euros doados por Mário Cesariny à Casa Pia vão para Escola de Artes”, Lisboa, Diário de Notícias, 6-4-2007.
Franco, António Cândido, “Pascoaes e Cesariny. Os vasos comunicantes” [recolhido em Trinta anos de dispersos sobre Teixeira de Pascoaes, Lisboa, Imprensa Nacional, 2014], Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 727, 26 de Agosto, 1998, p. 23.
– “Homenagem a Mário Cesariny”, revista A Ideia, n.º 63, Ourém, Março, 2007.
– “Mário Cesariny: os critérios da edição da sua poesia”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 31-1-2018.
– “Sobre uma antologia de Mário Cesariny”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, -3-2018.
– “Mário Cesariny e a revolução de 1974”, revista A Ideia, n.º 84/86, Évora, 2018.
– “O neo-realismo de Mário Cesariny”, revista A Ideia, n.º 84/86, Évora, 2018.
Freitas, Lima de, “Mário Cesariny – pintor surrealista” [rep. em Mário Cesariny, Lx., Secretaria de Estado da Cultura, 1977], Lisboa, Diário Popular, 1-3-1973.
Freitas, Manuel de, “Manual de desprestidigitação”, Lisboa, revista A Phala, n.º 1, 2007.
Freire, Natércia, “30 Pinturas de Mário Cesariny”, Lisboa, Diário de Notícias, 21-1-1971.
Gonçalves, Rui Mário, “Cruzeiro Seixas e Mário Cesariny na galeria S. Mamede”, Lisboa, A Capital, suplemento “Literatura & Arte”, 21-5-1969.
– “A altura dos olhos”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 24-11-2004.
Grade, Fernando, “O surrealismo em causa por duas exposições”, Lisboa, O Século Ilustrado, 30-1-1971.
– “Mário Cesariny na Galeria São Mamede”, Cascais, A Nossa Terra, 23-2-1973.
Granell, Eugenio, “Cartas de Eugenio Granell a Mário Cesariny” [transcritas e comentadas por Perfecto E. Cuadrado], Tenerife, revista La Página, ano XXV, n.º 2, 2013.
Guimarães, Jorge, “Depois de Pessoa falta ainda redescobrir Almada e Cesariny”, Lisboa, O Diabo, 31-3-1981.
Helder, Herberto, “Mário Cesariny”, Os vasos comunicantes – antologia da poesia moderna portuguesa, Lisboa, Assírio & Alvim, 1985.
– “Cesariny sombra de almagre”, Lisboa, revista A Phala, n.º 1, 2007.
Jaguer, Edouard, “Mário Cesariny”, in Dictionnaire du surréalisme et ses environs, org. René Passeron e Adam Biro, Paris, P.U.F., 1982.
– “Quando Mário Cesariny organiza um espactáculo” [trad. Ana Pessoa Mesquita], Lisboa, A Phala, boletim da Assírio & Alvim, n.º 57, Assírio & Alvim, Julho, 1997.
Král, Peter, “Anjo com firmeza de águia…” [trad. Ana Pessoa Mesquita], Lisboa, A Phala, boletim da Assírio & Alvim, n.º 57, Assírio & Alvim, Julho, 1997.
Leiria, Mário Henrique, “Carta de Mário Henrique Leiria ao coordenador do suplemento”, suplemento “artes e letras”, Lisboa, República, 1-2-1973.
Lagoa, Vera, “ A Escola Politécnica em festa”, Lisboa, Diário Popular, 30-4-1972.
– “A obrigação de dizer”, Lisboa, Diário Popular, 21-12-1972.
– “O que eu vi de Cesariny”, Lisboa, Diário Popular, 22-2-1973.
Leal, Raul, “Um extraordinário pintor – Mário Cesariny de Vasconcelos” [rep. em Mário Cesariny, Lx., Secretaria de Estado da Cultura, 1977], Lisboa, Diário Ilustrado, 10-7-1958.
Lopes, Óscar, “A crítica do livro” [Mário Cesariny de Vasconcelos – Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano], Porto, O Comércio do Porto, 2-9-1952.
Marinho, Maria de Fátima, “Mito surrealista”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 24-11-2004.
Martinho, Virgílio e Sampaio, Ernesto, “Mário Cesariny de Vasconcelos”, in Antologia do humor português, org. Ernesto Sampaio e Virgílio Martinho, Lisboa, Edições Afrodite, 1969.
Martinho, Fernando J.B., “Outros mundos além deste”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 24-11-2004.
– “O grupo surrealista dissidente”, in Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50, 2.ª ed., Lisboa, Colibri, 2013, pp. 50-64.
Matos, Nelson de, “Caligrafias – O Jardim da Celeste”, Lisboa, Diário de Lisboa, 29-7-1971.
Mendes, Miguel Gonçalves, “Um ser imortal”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 24-11-2004.
Mexia, Pedro, “Pacheco e Cesariny, uma história de amor (ou não)”, Lisboa, Diário de Notícias, 20-8-2004.
Molina, César, “Las imensas palabras nocturnas”, Madrid, suplemento “Babelia”, El País, 15-9-2001.
Monteiro, Manuel Hermínio, “Surrealismo: do Cadáver Esquisito ao gato resplendente andando pela noite”, Lisboa, A Phala – Um século de poesia (1888-1988), boletim da editora Assírio & Alvim, edição especial, Dezembro, 1988.
Morán, Francisco, “O Homem livre” [trad. Ana Pessoa Mesquita e Sara Soares de Oliveira], Lisboa, A Phala, boletim da Assírio & Alvim, n.º 57, Assírio & Alvim, Julho, 1997.
Oliveira, Ana, “El surrealismo en Portugal: la estirpe de los argonautas”, in Ágora Academia, Mérida, Junta de Extremadura, 2000.
Pacheco, Fernando Assis, “Pinturas de Cesariny a partir de amanhã na galeria S. Mamede”, Lisboa, Diário de Lisboa, 26-5-1969.
– “Subitamente na Galeria de S. Mamede – ‘Viva Arpad Szenes!’ – Gritou o Poeta Cesariny”, Lisboa, República, 28-4-1972.
Pacheco, Luiz, “O caprichismo interventor do Sr.º Mário Cesariny” [incluído em Pacheco versus Cesariny], Lisboa, Jornal de Letras e Artes, 7-9-1966.
– “Da Intervenção à abjecção” [incluído em Pacheco versus Cesariny], Porto, Jornal de Notícias, 23-5-1968.
– “Cronos e Sodoma não perdoam” [sobre a polémica entre M. Cesariny e Ernesto de Sousa n’A Capital; incluído em Pacheco versus Cesariny], Lisboa/Luanda, revista Notícia, 3-10-1970.
– “Algo sobre António Maria Lisboa” [incluído em Textos de guerrilha 2], Lisboa, Diário Popular, 4-10-1979.
– “António Maria Lisboa: algumas achegas” [incluído em Textos de guerrilha 2], Lisboa, Diário Popular, 21-2-1980.
– “O mito do café Gelo” [incluído em Figuras, figurantes e figurões], Lisboa, Diário Económico, 19-7-1995.
– “O Cesariny: um abismo” [incluído em Figuras, figurantes e figurões], Lisboa, Diário Económico, 2-8-1995.
– “Cesariny versus Breton”, [incluído em Figuras, figurantes e figurões], Lisboa, Diário Económico, 29-5-1996.
– “Do surreal lisboeta” [incluído em Prazo de validade e em Raio de Luar], Lisboa, Público, 29-6-1997.
– “O virgem negra” [incluído em Prazo de validade], Lisboa, Público, 31-8-1997.
– “Meio século de surreal em Portugal” [incluído em Figuras, figurantes e figurões], Lisboa, Ler, n.º 38, Primavera de 1997.
Pino, Concha, “A Casa de Parra reúne a obra de Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas”, Vigo, La Voz de Galicia, 15-10-2010.
Porto, Carlos, “O teatro contra a revolução” [Um auto para Jerusalém e a encenação de João d’Ávila], Diário de Lisboa, Lisboa, 19-3-1975.
– “Resposta” [réplica a “O teatro contra a revolução ou a crítica contra o teatro?”, texto assinado pelo “Teatro dos 7” e publicado no mesmo n.º do D.L.], Lisboa, Diário de Lisboa, 29-3-1975.
Queiroz, Luís Miguel, “Mário Cesariny (1923-2006) – Poeta genial”, Lisboa, Público, 27-11-2006.
– “O essencial de Cesariny – Uma grande razão – os poemas maiores”, Lisboa, Público, suplemento “Ípsilon”, 30-3-2007.
Relógio, Francisco, “Cesariny, o regresso do pintor”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 23-11-1993.
Ribas, Tomaz, “Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano – Mário Cesariny”, Contraponto, n.º 2, Lisboa, Contraponto, 1952.
Rosa, António Ramos, “Corpo Visível de Mário Cesariny de Vasconcelos”, revista Árvore, n.º1, Lisboa, 1951.
– “Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano de Mário Cesariny de Vasconcelos” [texto recolhido em A poesia moderna e a interrogação do real – II, Lisboa, Arcádia, 1980], revista Árvore, n.º4, Lisboa, 1953.
– “Louvor e simplificação de Álvaro de Campos de Mário Cesariny de Vasconcelos”, [texto rep. na contracapa da 2.ª ed. do poema e recolhido em A poesia moderna e a interrogação do real – II, Lisboa, Arcádia, 1980], revista Ler, n.º 12, 1953.
– “Cesariny ou a sublevação da palavra”, in Incisões oblíquas – estudos sobre poesia portuguesa contemporânea, Lisboa, Caminho, 1987.
Roditti, Edouard, “Petite suite pour violon d’Ingres – à propos de Mário Cesariny”, Lisboa, Colóquio, n.º 61, Dezembro, 1970.
Saião, Nicolau [“N.S.”], “Novo triunfo novo êxito de Cesariny”, Portalegre, Distrito de Portalegre, 24-2-1973.
Salema, Isabel, “A retirada dos quadros de António Pedro é “uma pulhice” – exposição dedicada ao surrealismo”, Lisboa, Público, 9-11-2001.
Sampayo, Nuno de, “Burlescas, teóricas e sentimentais de Mário Cesariny”, Lisboa, A Capital, 8-11-1972.
Saraiva, Arnaldo, “(Des)Encontros com Eugénio” [texto recolhido em O génio de Andrade, 2014], Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 20-12-2006.
Seabra, José Augusto, “Pascoaes relido por Cesariny”, Lisboa, O Público, 10-8-1998.
Seixas, Cruzeiro, “Sacaníssima visão – Cruzeiro Seixas responde a Mário Cesariny”, Lisboa, Jornal Novo, 30-8-1978.
– “Uma chama, esse Mário” [depoimento recolhido por António Poppe], “Mil Folhas”, suplemento do jornal Público, Lisboa, 8-12-2006.
– “O Mário para mim é o vivo”, entrevista a Ana Marques Gastão, 6.ª, revista suplemento do Diário de Notícias, 29-12-2006.
Sério, Mário, “Cesariny – um poeta maior face ao fascismo”, Lisboa, República, 18-3-1975.
Silva, Rodrigues da, “Mário Cesariny (1923-2006) – O prestidigitador irreverente”, Lisboa, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 6-12-2006.
Silveira, Pedro da, “Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano, de Mário Cesariny de Vasconcelos”, Lisboa, Átomo, nº 58, 30-10-1952.
Silvestre, Osvaldo Manuel, “Pai Tardio ou de como Cesariny inventou Pascoaes” [a tese do parricídio ansioso, que está no centro do texto, foi discutida no mesmo vol. por Perfecto E. Cuadrado; é insustentável por mostrar desconhecimento da poesia de Pascoaes; Cesariny referiu-se muito negativamente a esta tese em entrevista de 2004], Vila Nova de Famalicão, Fundação Cupertino de Miranda, Centro de Estudos do Surrealismo, 2002.
Simões, João Gaspar, “Sob o signo da antipoesia e do mais que se verá…”, Lisboa, Jornal de Letras e Artes, n.º 13, 27-12-1961.
– “João Gaspar Simões responde a Teresa Horta e Gastão Cruz”, in Jornal de Letras e Artes, n.º 19, 7-2-1962.
– “Mário Cesariny – A intervenção surrealista” [incluído em Crítica V – críticos e ensaístas contemporâneos], Lisboa, Diário de Notícias, 29-9-1966
– “‘O Castelo Surrealista’ de Vieira e Arpad”, Lisboa, Diário de Notícias, 3-1-1985.
– “Entre o realismo, o neo-realismo e o surrealismo – Mário Cesariny, surrealista, perante o neo-realismo”, Lisboa, Diário de Notícias, 13-4-1986.
– “Mário Cesariny de Vasconcelos [Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano; Manual de prestidigitação; Pena Capital; Alguns mitos maiores; Nobilíssima visão], in Crítica II [tomo I] – poetas contemporâneos 1938-1961, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999.
– “Mário Cesariny de Vasconcelos [Poesia (1944-1955; Uma época no inferno; Antologia surrealista do cadáver esquisito; Planisfério e outros poemas; A cidade queimada; 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão, seguidos de Poemas de Londres; As mãos na água a cabeça no mar; Iluminações e uma cerveja no inferno; Aforismos (de Teixeira de Pascoaes); Textos colectivos do surrealismo português; Burlescas, teóricas e sentimentais; Nobilíssima visão; Primavera autónoma das estradas], in Crítica II [tomo II] – poetas contemporâneos 1960-1980, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999.
Soares, João, “Amizade e respeito”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 24-11-2004.
Sobral, Luís de Moura, “Jeu et raillerie chez les surréalistes portugais”, in Jeux surréaliste et humour noir, org. Jacqueline Chénieux Gendron e Marie Claire Dumas, Paris, Lachenal & Ritter, 1993.
Sousa, Ernesto de, “A Prima Dona – resposta de Ernesto de Sousa a Mário Cezariny [sic]”, A Capital, 9-9-1970.
Sousa, Luís Amorim, “Encontro em Londres”, Lisboa, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 24-11-2004.
Tavares, Vitor Silva, “& etc – Uma sagres no inferno”, Lisboa, Diário de Lisboa, “suplemento literário”, 5-5-1972.
– “Foi ali mas volta” [recolhido no livro Textinhos, intróitos e etc, Pianola Editores, 2017], Lisboa, Público, 8-12-2006.
Vancrevel, Laurens, “O valor diurno no tratamento das actividades recreacionais”, trad. Mário Cesariny, Lisboa, A Capital, suplemento “Literatura & Arte”, 17-11-1971.
– “A pintura de Mário Cesariny”, Lisboa, Diário de Notícias, 26-3-1981.
Vasconcelos, António Pedro, “Dois destinos portugueses”, Lisboa, O Sol, 1-12-2006.
FILMOGRAFIA
“Momentos na vida de um poeta”, Carlos Calvet, 1964
“Ama como a estrada começafecto E. Cuadrado, 2003
“Autografia”, Miguel Gonçalves Mendes, 2004
“N.O.M.A.”, Carlos Cabral Nunes e Galeria Perve, 2006
III. OUTRAS FONTES
LIVROS
Alexandrian, Sarane, Breton, Paris, Écrivains de toujours/Seuil, 1971.
Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica, ed. Natália Correia, Lisboa, Afrodite, 1965.
Aranda, José Francisco, El Surrealismo Español, Barcelona, Editorial Lumen, 1981.
Bédouin, Jean-Louis, Vingt ans de surréalisme – 1939-1959, Paris, Denoël, 1961.
Breton, André, Oeuvres Complètes, IV vols., ed. Marguerite Bonnet (com vários colaboradores), Paris, Gallimard, 1988-2008,
– Manifestos do surrealismo [trad. Pedro Tamen], 4.ª [5.ª] ed., Lisboa, Letra Livre, 2016.
– “Lettre d’André Breton à Cândido Costa Pinto, datée à Paris le 12 mai 1947” (collection: veuve Costa Pinto, São Paulo), Le surréalisme portugais [catálogo da exposição “Le surréalisme portugais”, Setembro/Outubro, 1983, Montréal], ed. Luís de Moura Sobral, Montréal, Galerie UQAM, 1984.
Dictionnaire Général du Surréalisme et de ses Environs, dir. Adam Biro e René Passeron, Paris, P.U.F, 1982.
Dacosta, Fernando, O botequim da liberdade, Lisboa, Casa das Letras, 2013.
Fernandes, Aníbal e Marques, Pedro Piedade, Portugal em Sade/Sade em Portugal – seguido de “O Affaire Sade” de Lisboa, s/l, Montag, 2017.
França, José-Augusto, Balanço das actividades surrealistas em Portugal, Lisboa, 1949 [folheto reeditado na revista Colóquio/Artes, 2.ª série, n.º 48, Março, 1981].
Lima, Joana, António Maria Lisboa – eterno amoroso, Lisboa, Edições Colibri, 2017.
Marques, Pedro Piedade, Editor contra – Fernando Ribeiro de Mello e a Afrodite, s/l, Montag, 2015.
Martinho, Fernando J.B., Pessoa e os surrealistas, Lisboa, Hiena, 1988.
Oliveira, Maria Antónia, Alexandre O’Neill – uma biografia literária, Lisboa, Dom Quixote, 2007.
Os pré-rafaelitas – uma antologia poética, introdução, tradução e notas Helena Barbas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2005.
Pacheco, Luiz, Textos de Guerrilha 1 e 2, Lisboa, Ler editora, 1979 e 1981.
Diário remendado – 1971-1975, ed. João Pedro George, Lisboa, D. Quixote, 2005.
– O crocodilo que voa, ed. João Pedro George, Lisboa, Tinta-da-China, 2008.
Quaderni Portoghesi, n.° 3, Primavera, 1978 (colaboração: Jorge de Sena, Alexandre O’Neill, José-Augusto França, Alfredo Margarido, Almeida Faria, Luís Francisco Rebello, Jacqueline Risset, João Nuno Alçada, Carlos Felipe Moisés, Cruzeiro Seixas e Edoardo Sanguineti).
Seixas, Cruzeiro, Cruzeiro Seixas: a liberdade livre – Diálogo com José Jorge Letria, Lisboa, Guerra & Paz, 2014.
– Confissões de um espelho [45 cartas a Floriano Martins, 2003-2015], ed. Floriano Martins e Leontino Filho, Fortaleza, Brasil Agulha Revista de Cultura Edições, 2015.
Sousa, Luís Amorim de Sousa, Londres e Companhia, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004.
Surréalisme périphérique. Actes du colloque “Portugal, Québec, Amérique latine : un surréalisme phériphérique ? ”, ed. Luís de Moura Sobral, Montréal, Universidade de Montréal, 1984.
Torres, Alexandre Pinheiro, O movimento neo-realista em Portugal na sua primeira fase, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 2.ª ed., 1983.
Tracts surréalistes et déclarations collectives (1922-1969), 2 vols, ed. José Pierre, Paris, Le Terrain Vague, 1982.
& etc – Prolegómenos a uma editora, Lisboa, Letra Livre e B.N.P., 2017.
ARQUIVOS
Associação Portuguesa de Escritores [Comunicação ao I.º Congresso da A.P.E. (Maio, 1975); Prémio Vida Literária (2005)]
Biblioteca Nacional [espólios de Mário Cesariny (N3), Cruzeiro Seixas, Mário Henrique Leiria, Luiz Pacheco, Manuel S. Lourenço, Ana Hatherly, Luís Amaro, Adolfo Casais Monteiro, João Gaspar Simões, Alfredo Margarido, Natércia Freire, José Cardoso Pires, António Ramos Rosa]
Biblioteca Pública e Municipal do Porto [espólio de Eugénio de Andrade e correspondência de Mário Cesariny]
Conservatória do Registo Civil [Certidão de Nascimento da 3.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa; Assento de óbito n.º658 de 2006 da Conservatória do registo Civil de Loures]
Conservatória dos Registos Centrais [testamentos públicos de M.C. (2-7-1996, 7.º Cartório Notarial; 14-10-2003; 28-1-2004; 16-7-2004, todos no 22.º Cartório Notarial)]
Escola de Artes Decorativas António Arroio [arquivo da secretaria; anos lectivos de 1936 a 1942]
Espólio de Bernardo Pinto de Almeida [toda a correspondência trocada em 2001 em torno da exposição “O surrealismo em Portugal” com Pedro Lapa, Raquel Henriques e com a administração da Fundação Cupertino de Miranda, antes e depois da montagem da exposição]
Espólio de Luso Soares [materiais anotados para a revista Cronos (1966) e um presumível inédito não assinado, “Sol-e-Dó”, destinado à revista Seara Nova e datado de 1944 ou 1945]
Espólio de Helder Macedo [carta inédita para M.C. de Julho de 1970]
Fundação Calouste Gulbenkian [seis processos relativos a M.C., 1960-92]
Fundação Cupertino de Miranda [documentos Manuel Lourenço; cartas de Cruzeiro Seixas, Carlos Eurico da Costa, Eugénio de Andrade, Eduardo de Oliveira e Isabel Meyrelles para Mário Cesariny]
Fundação Mário Soares [documento de 1946 (?); carta de Junho de 1991]
Liceu Gil Vicente [arquivo da secretaria; ano lectivo 1935-36]
Torre do Tombo [processo da polícia política]
Galeria S. Mamede [pasta “Cesariny”; recorte de jornais; correspondência com Francisco Pereira Coutinho (pai), contratos notariais, recibos de despesas e vendas das exposições de 1969, 1971, 1973, 1981; outros]
Universidade de Évora [epistolografia para Cruzeiro Seixas de Manolo Rodriguez Mateos (1992-2007), Pedro Polo [também com o nome de Giordano Bruno], Isabel Meyrelles (1979-2010), Juan Carlos Valera (1992-2011), Perfecto E. Cuadrado Fernández (1998-2009), Fundação Cupertino de Miranda (1995-2009), João Meireles, Fundação Eugenio Granell (1977-2009), Eugenio Granell, Galeria S. Mamede (1970-2004), Lima de Freitas (1981-1987), Edouard Jaguer (1977-2005), Rik Lina (2003-2005), Franklin Rosemont (2001-2009), Maria Amélia e João Vasconcelos, Carlos Eurico da Costa, Aldina Costa, Eduardo de Oliveira (1965), Jeanne Pinto de Figueiredo; epistolografia de Cruzeiro Seixas para Isabel Meyrelles (1981-2010), Herberto Helder, Perfecto E. Cuadrado Fernández (1993-2010), Mário Henrique Leiria (1972); fotografias Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, António Paulo Tomaz e Fernando José Francisco nos anos 40; carta Manolo Rodriguez Mateos para Mário Cesariny; relação do fundo “Cruzeiro Seixas” existente no arquivo da Fundação Cupertino de Miranda]
ENTREVISTAS ORAIS
Artur Cruzeiro Seixas [entrevistas ao longo de vários anos, a última em 24-6-2018; Maria da Graça Amado da Cunha; as casas da Rua da Palma e da Rua Basílio Teles; a personalidade de Viriato de Vasconcelos e de Mercedes Cesariny; as três mana (Henriette, Maria del Carmen, Maria Luísa); escola de artes decorativas António Arroio; a relação amorosa e a sexualidade; Fernando José Francisco; o Café Herminius; formação dos dois grupos surrealistas (1947-49); António Paulo Tomaz; Manuel Moscardo e as praias da Costa da Caparica; Isabel Meyrelles; o lugar de Antonin Artaud; a figura de António Maria Lisboa; a partida para África (1951/2); ida e estadia em Paris (Setembro de 1964); prisão de Mário Cesariny em Paris em Setembro de 1964; João Vieira; contactos com a Ulisseia (Liberto Cruz e Vitor Silva Tavares); colaboração n’ A intervenção surrealista; José Pinto de Figueiredo; revista Abjecção; a galeria S. Mamede (1969-1974) e Francisco Pereira Coutinho; D’Assumpção, João Vasconcelos, Maria Amélia e Casa de Pascoaes; Teixeira de Pascoaes; o encontro com Laurens e Frida Vancrevel (24-6-1970); viagens à Holanda (Janeiro, 1973) e a Madrid e Tenerife (Primavera, 1973); Rik Lina, Her de Vries, Kristians Tonny e Moeman; José Francisco Aranda e Manolo Rodriguez Mateos; viagem a Londres (Dezembro, 1973); a revolução de 1974; a exposição internacional de Chicago (Maio de 1976); Graça Lobo; António Tabucchi e Maria José Lencastre; Almeida Faria e Mário Botas; a Fundação Cupertino de Miranda e a formação do Centro de Estudos do Surrealismo; a galeria da Junta do Turismo da Costa do Sol; Tomás Ribas e a ida para o Algarve; a casa de S. Braz de Alportel; Eduardo Tomé; o regresso a Lisboa (Rua da Rosa); o espólio surrealista da Fundação Cupertino de Miranda; Bernardo Pinto de Almeida e Perfecto E. Cuadrado; Pedro Enrique Polo Soltero; os encontros na galeria S. Mamede (Dezembro, 2003) e na galeria Perve (2-11-2006); Eurico Gonçalves]
Carlos Cabral Nunes [galeria Perve e exposição de Novembro de 2006; edição do livro Timothy McVeigh – o condenado à morte; filme de 2006; Cruzeiro Seixas]
Edgardo Xavier [galeria Tempo e exposições de 1977 (apresentação e lançamento do livro catálogo em Janeiro de 1978) e 1979; Teixeira de Pascoaes no final da década de 70; relações com Cruzeiro Seixas, Francisco Relógio e José-Augusto França; o atelier de Mário Cesariny na Calçada do Monte; as linhas de água; a galeria do Casino do Estoril; José Manuel dos Santos]
Dalila D’Alte [Eurico Gonçalves; Rui Mário Gonçalves; Mário Cesariny; José-Augusto França]
Eurico Gonçalves [Galeria de Março; exposição de 1954; José-Augusto França; Rui Mário Gonçalves; Café Gelo; pintura gestual; Zen-Dádá]
Francisco Pereira Coutinho (filho) [exposição “As mãos são a paisagem que nos olha – Raúl Perez e Cruzeiro Seixas”, Dezembro de 2003 a Janeiro de 2004; galeria S. Mamede e Francisco Pereira Coutinho (pai)]
Graça Lobo [viagem aos Estados Unidos e ao México em Maio de 1976; relações com a Fundação Gulbenkian]
Luís Amaro [encontro com M.C. em 1944 (?); Portugália Editora; edição da tradução de Rimbaud, Uma época no inferno (1960); memórias avulsas do Café Gelo]
Helena Cesariny Calafate [
Lagoa Henriques [Eduardo de Oliveira; Eugénio de Andrade; Casa da Barca do Lago; Teixeira de Pascoaes e a sua sexualidade na década de 40]
Manuel Mourão [andar da Costa da Caparica; casamento de Henriette Cesariny de Vasconcelos; genealogia familiar]
Manuel Rosa [editora Assírio & Alvim e seu arquivo; Manuel Hermínio Monteiro; Manuela Correia; Ilda David; atelier do Arco Cego; ida a Paris em Março de 2000; doença e últimos dias de M.C.; testamento de M.C. e Casa Pia]
Manuela Correia [M.C. e Manuel Hermínio Monteiro]
Maria João Vasconcelos [Casa de Pascoaes; João Vasconcelos; Cruzeiro Seixas; Teixeira de Pascoaes]
Nuno Pinto [espectáculo em Coimbra, “Cabaret surrealista”, 1998]
Nuno Félix da Costa [doença nervosa de M.C. e estadia em Londres em Maio de 1986]
Perfecto E. Cuadrado [universidade de Salamanca e João Palma-Ferreira; Lisboa na década de 80 e B.N.P.; Manuel Hermínio Monteiro e a editora Assírio & Alvim; Manuela Correia; viagens com M.C. (Maiorca, Hervás, Madrid, Cáceres, Tenerife); Miguel Pérez Corrales; Grupo Surrealista de Madrid; Fundação Cupertino de Miranda e o espólio do surrealismo em Portugal; Centro de Estudos do Surrealismo]
Teresa Caeiro [Maria del Carmen Cesariny de Vasconcelos; Maria Luísa Cesariny de Vasconcelos; família Cesariny Calafate: funeral de M.C.; genealogia familiar; Viriato de Vasconcelos; Ernesto Martins]
TESTEMUNHOS ESCRITOS[3]
Allan Graubard [Graça Lobo e M. Cesariny em Chicago em Maio de 1976; relações com Franklin Rosemont e Eugenio Granell; rupturas no movimento surrealista do Estados Unidos em 1977; primitivismo e John Zerzan]
Antonio Sáez Delgado/Ana Oliveira [Mário e Henriette Cesariny em Cáceres em Maio de 2000]
Associação Portuguesa de Escritores [comunicação ao I Congresso da APE, 1975; Prémio Vida Literária, 2004]
Bernardo Pinto de Almeida [poesia; pintura; crítica; a irmã Henriette; a “phala” da revolução; os últimos tempos; a Fundação Cupetino de Miranda; João Oliveira do B.P.A.]
Bruno da Ponte [edições de Surreal/Abjeccion-ismo (1963) e d’ Um auto para Jerusalém (1964); Jornal de Letras e Artes; Edimburgo (Janeiro, 1969; Luiz Pacheco]
Carlos Loures [Café Gelo; revista Pirâmide; Luiz Pacheco]
Cláudia Rita Oliveira [filmagens de Miguel Gonçalves Mendes]
Eugenio Castro [Grupo Surrealista de Madrid; Manolo Rodriguez Mateos e Pedro Polo; estadia em Lisboa em 1995 (?); revista Salamandra]
Fernando Grade [Armando Ventura Ferreira; velório e funeral de M.C.]
Francisco Garção [Nicolau Saião; a relação com Portalegre e o Bureau Surrealista Alentejano]
Guy Girard [Grupo Surrealista de Paris, 1992; Vincent Bounoure ; Jean-Marie Le Clézio]
Helder Macedo [Londres, Setembro de 1968; relações com Ricarte-Dácio de Sousa, Luís Amorim de Sousa, Jorge de Sena e João Vieira]
Helena Barbas [pré-rafaelitas e Os pré-rafaelitas – uma antologia poética (2005); Palhavã]
Hernani Matos [Colégio Estromocense; família Reynolds; João Falcato; localização do Colégio e sua evolução (Externato liceal de S. Joaquim e Escola Básica); Azinhal Abelho]
Hugo Guerreiro [Colégio Estromocense; João Falcato; homenagem da Câmara Municipal de Estremoz a M.C. em Março de 2007]
Isabel Meyrelles [Cruzeiro Seixas; M.C.; grupo “Os Surrealistas”; Natália Correia; Costa da Caparica; António Maria Lisboa; Paris (1964); surrealismo]
João Carlos Raposo Nunes [Marinha portuguesa na década de 60/70; os táxis na vida de M.C.]
José Manuel Pérez Corrales [Grupo Surrealista de Madrid; José Francisco Aranda; folhas Noa Noa]
José Manuel dos Santos [Café Reimar; atelier da Calçada do Monte; a candidatura de Mário Soares em 1985/6; estadia nos Açores em 1990; a Costa da Caparica e Francisco Relógio; morte de Henriette Cesariny; Grã Cruz da Ordem da Liberdade; a agonia final de M.C.]
Laurens Vancrevel [encontro de 1969/70; estadias em Portugal; estadias de M.C. na Holanda; Francisco Baptista Russo e Victor Morais; Oude Kerk; exposição surrealista internacional de Chicago de Maio de 1976; traduções de M.C. em neerlandês; edição do caderno Fernando Pessoa poeta, 1980]
Luís Amorim de Sousa [Londres (1968); Alberto de Lacerda; reencontro em Portugal]
Luís Barreiros Tavares [relações com a galeria Perve]
Manuel Nemésio [genealogias da família “Cesariny” em Portugal (desde o séc. XVIII)]
Maria Amélia Teixeira de Vasconcelos [Teixeira de Pascoaes; a Casa de Pascoaes e M.C.; João Vasconcelos; Manuel D’Assumpção; Cruzeiro Seixas; Manuel Hermínio Monteiro]
Maria Antónia Vitorino [Estremoz; Colégio Estromecense; João Falcato; Aníbal Falcato; Helena Falcato Alves; Azinhal Abelho; jornal Brados do Alentejo]
Miguel de Carvalho [José Francisco Aranda, Manolo Rodriguez Mateos, Pedro Polo; Salette Tavares; visita a M.C. em Junho de 2006 com Sergio Lima e outros; encontro na galeria Perve a 2-11-2006; agonia final de M.C.]
Miguel Gonçalves Mendes [filmagens de “Autografia”]
Paulo da Costa [Carlos Eurico da Costa (serviço militar)]
Perfecto E. Cuadrado [exposição “Surrealismo em Portugal 1934-1952”]
Risoleta Pinto Pedro [horóscopo de M.C.]
Saião, Nicolau [Bureau Surrealista do Alentejo; encontros com M.C. em Lisboa; colaboração de M. C. na imprensa anarquista em Portugal nas décadas de 70 e 80 (Voz anarquista, A Batalha e A Ideia); colóquio de Portland em Maio de 1980, “Surrealismo e anarquismo”, e edição de Fernando Pessoa Poeta (v.); Portalegre; Colégio Estremocense]
Saraiva, Arnaldo [Eugénio de Andrade e polémica com M. Cesariny (1951); Eduardo de Oliveira; arquivo Eugénio Andrade na Biblioteca Pública do Porto]
Sergio Lima [exposição de S. Paulo, Brasil, 1967; correspondência postal com M.C.; edição de Aluvião (1992); encontros com M.C. em Lisboa; Junho de 2006 e visita à casa da Rua Basílio Teles com Célia, Fátima Roque e Miguel de Carvalho; preparação e edição da revista Phala 2]
Valdemar Santos [arquivos do Partido Comunista Português]
AGRADECIMENTOS
Exaro aqui a minha gratidão a todos os que se disponibilizaram testemunhar sobre Mário Cesariny – a sua família, o seu meio, a sua casa, a sua oficina, os seus Cafés, as suas viagens, os seus lugares. Todos me ajudaram a compreender melhor a sua formação e as suas escolhas e todos me permitiram aceder com mais largueza à sua personalidade. Por razões de cunho especial, não posso deixar de mencionar Cruzeiro Seixas, Laurens Vancrevel, José Manuel dos Santos, Teresa Caeiro, Miguel de Carvalho e Bernardo Pinto de Almeida – diálogos escritos e orais que excederam em muito as expectativas iniciais. Sem o seu concurso e sem o seu empenho este livro não existia. Palavras de gratidão vão também para Ana Clara Birrento, Gabriel Rui Silva e Zé Pais de Carvalho – a primeira conduziu-me a Teresa Caeiro, que me rectificou datas e me facultou dados que eu desconhecia, o segundo levou-me a Gonçalo Nemésio, que me disponibilizou valiosos elementos sobre os ramos da família Cesariny em Portugal, o terceiro pôs-me em contacto com Edgardo Xavier, director da galeria Tempo. Agradeço ainda aos funcionários dos arquivos do serviço de espólios da B.N.P., um dos raros locais onde se pode pesquisar com proveito sobre o surrealismo em Portugal. O mesmo agradecimento deixo aos funcionários dos arquivos da Torre do Tombo, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Biblioteca Pública e Municipal do Porto, da Universidade de Évora, da Fundação Cupertino de Miranda e da galeria S. Mamede, onde Francisco Pereira Coutinho (filho) me ajudou a recuperar uma parte da história deste lugar que tanta importância teve no itinerário pessoal de Mário Cesariny. Uma lembrança é ainda devida aos funcionários das escolas Gil Vicente e António Arroio que me abriram os arquivos para consulta e cópia dos processos do meu biografado. Estendo esta lembrança à Associação Portuguesa de Escritores e à Risoleta Pinto Pedro que traçou o horóscopo de Cesariny e me levou à mítica Escola António Arroio, com a mais monumental e exaltante entrada onde se inscreve em letras de negro fogo a legenda libertária do Poeta: AMA! Maria Filipe Ramos Rosa e Isabel Castro Henrique autorizaram-me o acesso aos espólios de António Ramos Rosa e de Alfredo Margarido na B.N.P. e merecem por isso o meu reconhecimento. João Dionísio falou-me da relação de Manuel Lourenço e Mário Cesariny e pôs à minha disposição materiais que lhe agradeço. Manuel Rosa, herdeiro dos direitos do meu biografado, facultou-me o acesso aos processos deste no arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian, só consultáveis com autorização dos herdeiros. Aqui lhe deixo este sinal de gratidão – outrossim por tudo o que sei que o Poeta representou no desenrolar da sua vida, a que junto Ilda David. Foi ele ainda que me pôs em contacto com Manuel de Vasconcelos Carvalho Mourão, filho de Henriette Cesariny de Vasconcelos, que me tirou dúvidas sobre o andar da Costa da Caparica e merece também aqui a minha lembrança reconhecida.
ÍNDICE
Portaló
A Criança e a Noiva Alquímica
O Gato Ilegal
O Grupo Surrealista de Lisboa
Operação do Sol
O Número do Meio
A Linha Azul
Subversão Internacional
A Phala da Revolução
As Pirâmides de Teotihuacan
A Grafiaranha
O Velho da Montanha e o Virgem Negra
Naniôra ou o Triângulo Mágico
Epílogo
ANEXOS
Anotações
Cronologia
Quadro Genealógico
Bibliografia
AGRADECIMENTOS
* Todas as citações em itálico.
[1]Com excepção do pequeno estudo que lhe consagrou Pérez Corrales (v.), muitos destes elementos nunca foram citados, havendo ainda investigação a fazer neste domínio. Por volta de 2002, o autor pensou reunir este acervo em livro, Papéis surrealistas/Surrealists papers. Sobre o livro, o editor Manuel Rosa disse o seguinte (revista 6.ª, suplemento do D.N., 29-12-2006): E há Papéis surrealistas/Surrealists papers: recolha de textos sobre o surrealismo (…) material mais abrangente do que está n’ A intervenção surrealista. O livro esteve todo em provas lá em casa, uma situação de risco, porque ele perdia as provas, precisava de papel para escrever qualquer coisa e arrancava folhas do dossier. Outro livro da mesma época que chegou a ter provas e não saiu foi Dáda Dádá Dádá, recolha dos textos dedicados ao dadaísmo no final dos anos 60 e início da década seguinte.
[2] Selecção de textos desconhecidos do autor, nunca recolhidos em livro. Os dispersos (1950-1974) mais importantes estão nas duas edições da colectânea As mãos na água a cabeça no mar feitas em vida pelo autor (1972; 1985), a primeira com um conjunto de textos, que na edição seguinte saíram. Os fragmentos de Titânia publicados no Diário Ilustrado em 1957 na rubrica “Crónica anacrónica” e 20 anos depois recolhidos em livro também não são indicados.
[3] Os testemunhos escritos de Carlos Loures, Isabel Meyrelles e Maria Amélia de Vasconcelos foram por mim publicados – os dois primeiros na revista A Ideia (n.os 73/74, 2014) e o segundo no volume de Mário Cesariny, Cartas para a Casa de Pascoaes (2012). Também a parte respeitante às acções editoriais de Bruno da Ponte foram por mim dadas a lume (revista A Ideia, n.os 77/80, 2016).
Revista Triplov
Tributo a António Cândido Franco – Índice
Portugal – Maio de 2023
