
NICOLAU SAIÃO
Tributo
L’oeuvre
le mystère
la parole si sombre comme une douce
flûte de Pan (…)
Gérard Calandre
A grande aventura
é no interior que se desenrola
Fernando Batalha
A morte e a obra. À hora da morte pede que lhe leiam a sua
última obra. Ainda não é aquilo que tinha a dizer. Manda queimar.
É sem consolo que morre, com algo a estalar-lhe no peito,
como um acorde quebrado
Albert Camus
À GUISA DE PRÓLOGO,
Uma carta de Pedro Sevylla de Juana
Amigo Nicolau:
Luz do Mundo engloba Caixa de Cores y Diversa. En la primera lectura no entendí la razón; al releer ambos capítulos comprendí que había continuidad, porque juntos conforman el meollo del libro y explican aquello que quieres compartir con quienes te conocen y con los desconocidos. En Caixa de Cores explicas tu mundo a través de la Pintura y los pintores; en Diversa lo haces a través de los poemas y la escritura; pero juntas, Diversa y Caixa, te explican a ti.
Inicio y Génesis, exordios, son las puertas de tu mundo. El pintor es su pintura: el espacio de la pintura es su espacio. Todo libro es un simulacro. Pareces conceder más credibilidad a la pintura que a la escritura. Pero añades: Todo libro existe en su atmósfera… Ahi veo yo la complementariedad de ambos capítulos, destinados a explicarte. Creo descubrir que para ti la pintura y la escritura son dos formas complementarias de expresión y que la una explica a la otra y la complementa.
Quizá sea una obviedad lo que digo, pero, aunque lo intuía, me ha costado verlo claro. La fuerza de tus poemas y la fuerza de tus pinturas, son sólo reflejo de tu fuerza.
Un fuerte abrazo
Pedro
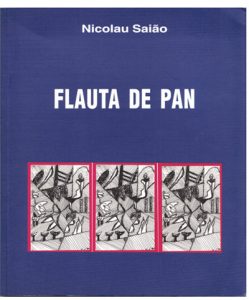
INTRODUÇÃO
Em “Flauta de Pan”
procura-se que haja
súbitas passagens
de imagem a imagem – ladeando a progressão
que se antolha como responsável pelo texto
total.
As fugas serão construídas
como tocatas
– ou como pequenos trechos intermédios –
o que dará a animosa garantia
de que a haver um erro ele sempre poderá
ultrapassar-se pela sequência ulterior.
Saudemos pois a incongruência do quotidiano
a rumorosa actividade outonal
de pernas e braços
que, no texto que os resume
ou apenas os sublinha
poderão deverão ser ruídos surdos
ou graves
ou sobre as linhas
apenas como fulgores num espelho
onde passaria lentamente o brilho duma vela
e os reposteiros teriam reflexos
por serem manifestamente coisas palpáveis.
Nunca se deverá aludir ao objecto perseguido
– o máximo que é lícito ou aconselhável fazer
é expôr o objecto ele mesmo
crucificado numa parede
ou dobrado encarquilhado no solo como um papel
ou queimado aqui e ali
para poder ser representação real
no que nele é talvez essência
ou odor fortuito
mas definitivamente longínquo.
Em todo o caso, pese embora aos mais nostálgicos
o autor reserva-se a sua própria solução
– que é, evidentemente, sempre a dos outros.
É esta a única forma de chegar a qualquer coisa
porque o que se diz aos outros roda contra o vento
e dissolve-se
– daí que a distância seja apenas anulável
consoante a nossa distância se faça, mas alheada.
De um a outro ponto, na voz para os demais
a distância mais curta é o infinito dos tempos.
ALGUNS RETRATOS
SEQUÊNCIA 1
M.P.S.
Olho-te em fotografia, procuro no teu rosto distante
um vestígio como uma luz que passa
devagar sobre terras, pedras, ervas. Nunca poderei saber
o vero caminho que foi teu, a pulsação da tua angústia
num movimento inútil. A solidão ou o tédio de viagens
entre ilhas e continentes desenhados
pela memória de uma casa
que apenas se descreve tenuemente
a um canto dum papel queimado e sujo.
1 P.
Imagino-o sempre a viver em Salzburgo
ou em Providence (Rhode Island) ou numa outra
cidade trans-nacional, com bosques de coníferas
ao crepúsculo, num sul de um norte imaginário
com a ênfase própria duma fronteira
E no entanto como é estranho vive em Estremoz
ou em Évora, que é a mesma coisa
porque no áspero universo do pensamento herdado
(que o mesmo é dizer, imaginado e entendido
isto, é claro, para quem sabe da poda)
vivemos sempre duplamente somos remanescentes
de histórias terríveis, artesanais quase diria
divertidas se nisso não tivesse ficado
corpo ou cabeça, sal da terra que cultivamos
entre as horas inesperadas e talvez
mais próprias de irmandades perdidas no tempo
onde a latitude é o sinal perpétuo
de mágoas difusas, de vozes inesquecíveis.
2 C. F.
Um ser como que em estado de palpitação
não teatral. Como que um eco de uma infância
comum, alguém que vímos há muito tempo junto a
casas que não podemos situar, que apenas recordamos
porque era um dia cheio de sol e numa rua vizinha
se ouviam vozes de gente quotidiana falando as
coisas elementares que muito depois lembramos
que para sempre guardamos. Por vezes
um pequeno ruído que se transforma em estrondo
porque aquilo vem tudo dum universo cuja essência
se ultrapassa a si mesma, nos limites
que a si mesmo traçou. Silhueta
que a pouco e pouco se afasta na multidão das palavras
ou dos algarismos achados quando a noite se define
quando a noite nos diz inteiramente aberta
que a experiência de Deus é um verso intangível.
R.V.
Inquietação e solenidade. Ao longe
nos contrafortes da serra, casas e árvores
na sombra. A lembrança de um passado
feito de muitas leituras cruzadas, a incógnita
dum futuro nostálgico, de vozes desconhecidas, de
interrogações fortuitas (Será possível que se saiba
o que de facto se pensa, o que se aprendeu ou sonhou
o que foi realmente a nossa rota?) ou então
a certeza de que não foi em vão que se olharam
as pessoas, os seres que por nós passaram, as
deambulações por praias e bosques (a visão dum
fruto, o sabor dum repasto, a silhueta de alguém
numa rua onde a chuva caía). Nada afinal poderemos
adivinhar, nada poderemos dizer – se a recordação
de tudo o que fizemos ficar retida noutras palavras
– instante perpétuo que perdêmos
sem que o soubéssemos, por nossa incauta razão.
M.P.M.
Procurava, de início, comprar-me
aguarelas mas como sob um luar
excessivamente morto. Uma janela
ignorada um coração pintado, um uso
muito dado a conversas possivelmente
feitas de hesitações reguladas. Coisas
que pelo telefone mais pareciam
simples sinais de quotidianos ausentes
sem programa e sem rosto. Um cansaço
prematuro, uma silhueta vaga, um sorriso
talvez amargo, sem contornos. Setembro
ou Maio, com suas luas olhadas de relance
como se várias cores se juntassem para
nada erguerem – forma e conteúdo – invertendo
na verdade as horas, as manhãs e os dias restantes.
SEQUÊNCIA 2
UM
Palmas, um assobio, uma revista
depois para fora um relógio na parede
depois para dentro alguns pássaros periquitos
a cabecinha balançando olha, além é uma estrada
Vemos nós/ estrada de criança não de gente
que vai para fora para o relógio de dentro para o
adormecer de pássaros pessoas retratos vagos na parede
para dentro duma revista a figura dum nasciturno/um assobio
uma pequena canção entoada quase ao levantar
Para dentro
Para que as palmas ressoem/ isto é um
excessivo relógio posto ante uma ausência
um periquito coração que pipila boceja caga no papel
da revista para dentro do chão da gaiola
Para fora
Dizes tu/ estrada que assombra que vai para o interior das pessoas
janelas com caminhos a revista/ um nasciturno fotografado
rosto referência conhecida e tudo com poucos poucos meses
para fora da gaiola para dentro das palmas para/ vêem eles
uma criança que sopra para que um palhaço de brinquedo oscile.
DOIS
O tempo
O tempo, quando um grande vazio de repente finda
como em obras de paixão/ a porta que bate e já começa
a deixar a marca leve, quase de acaso para fora
das presenças que anos futuros não mais terão por si
mesmos/ contam eles, sobre outra forma conseguida
achada, que é como quem diz, numa revista destroçada
Para depois
Dizemos todos/ como estradas sem ninguém, como gaiolas
onde os pássaros para antes deixam sua imagem fotografada
e a nossa memória tem de súbito poucos poucos meses
mas mesmo assim revive sobrevive/ como um assobio
E por isso para fora a voz é uma estrada
uma folha que paira/ ou rua para dentro doutro momento
como uma criança soprada oscilante ressoando
tal qual para sempre a infinita mágoa
de uma lembrança encontrada depois perdida/ dizem todos.
TRÊS
A alegria
A alegria, ruído colocado na
mesa defronte. Um jogo, este
jogo/ pequeno corpo magoado, pequeno
som persistente terno e grave Maior
diferença por seu realce interior: uma
serena brincadeira. A árvore – uma tangerineira
ao pé do tanque, enquanto
o tempo decorria/ Umas horas completando
o movimento de pernas de mãos de braços
depois hirtos na lembrança desse dia. Não
há anjos, nem melodias sobre os ramos, nem
paredes desfeitas, ossos de minutos perdidos.
Eu, eles/ vozes que rondam a nossa porta
– a nossa porta, se diz, com murmúrios
e rudes vozes neles postas – Intriga-nos
o que para trás ficou, para sempre ficou
jornal ou objecto sobre a cama, íntimo
pensamento. Pássaro que um dia
vímos, que um dia
nos serviu de pequeno, ínfimo/
momento grato. Momento que se esquece
existente inexistente não no corpo
mas na sua translação. Terra e céu
junto a nós, alguém que chora
e nisso se transmuta.
QUATRO
A cozinha
A cozinha, onde tudo/ afinal termina. As
palavras que se descobrem, mesmo os
elos entre imagens e sombra. Recreações: a cozinha
pequena, a cozinha grande, uma sucessão de cozi-
nhas, um homem que chora encostado a/ aqui uma pausa
um frigorífico bem dentro da ideia da imagem
das cozinhas, eu sei
sei quanto a vossa meta está para além do som
dum vocábulo por exemplo começando por bê
e um tiro estala perto do quintal
/sangue que corre, sangue no poial, sangue
da direita para a esquerda, seguindo o nível do olho
a foto oscila levemente, sangue
na tua face direita. Ser sem que os momentos terminem
uma espécie de figura que lentamente se desloca ao lon_
go do corredor, de repente/ uma caixa sobre a cadeira a
hesitante mistura entre a pausa que se entregou, nocturna
face do medo penumbra onde algo rebrilha. Tanto tempo,
a erva de muitos anos de novo transformada, um
espanto, a certeza dum espanto pensado entre
tardes e dias na primeira sala desse seu mundo. Minúcias
apenas, agora que os anos nos mostram a sombra oculta. Agora
que as palavras os sons as imagens antigas / pausa
se reconduzem a um movimento entre cadeira e
cidade inteiramente vazia.
CINCO
O ódio
O ódio, digamos que/ assim como
comédia do incompreensível. Primeiro
abre a vogal, fixa – vogal para anos e
anos de fria raiva. O estalo/ o tom
exacto duma jarra que tomba, um punho
dentro do bolso, a mão como invisível
germe. Cada letra
emana do seu próprio brilho, da sua áspera
trama – pequenez material dum
bofetão, dum
fixo destino – a existência
de leis simples instauradoras de um
corpo que roda sobre o mundo e depois se detém.
Um/ por exemplo, sorriso
que continuamente se perpetua como carta
que chega/ sem palavras. Fria, tranquila
inútil.
SEIS
O poeta
O poeta/ ou seja o reflexo
esse reflexo madeira antes de tudo vidro
sobre a fotografia/ era isso em
mil novecentos e cinquenta e sete, cinquenta
e oito e esta verdade entrava pelos
olhos adentro, era
qualquer coisa que depois não se iria descobrir.
O poeta, ou seja
na parede oposta do compartimento alguns
defuntos pacientes, algumas
rimas que num outrora ou num/ desses futuros
perfeitamente nada sabiam da sua história
dentro do qual/ ou antes – facilmente distinguível
de um outro que olhava para lá. Não o poeta, o
escuro, silhueta, assim como uma espécie de
coisa que engrena, coisa que
nada deixa/ nem resíduo nem lembrança, nem
sequer uma casca como um desses/ um
fruto seco que nem lembrança nos dá. Mas enfim
porque a página, a rua habitada no seu interior
– simulações, rosto tão desbotado como
um vestuário, um gesto leve sobre a perna, a
ternura que se esquece, se lembra, seca como
um retrato. Desses/ dessas, dizia eu, memória
ou antes reflexo como em anos distantes, o
sinal do que são do que representam, digo
o poeta ou antes um ornamento desesperado no seu
armário estreito, alto, soturno como em história
horripilante. Mas, desses/dessas, tal qual a
lembrança ou seja quanto se conta
digo o poeta muro para que ao longe
todos os reflexos/ todas as
recordações cobertas de pó se reergam. Digo
o poeta como em/ lamentação afinal chegada ou outro
sinal simulado em página em janela entrecruzada.
POEMAS BREVES
PROPÓSITO
Há os poemas breves: sombra
de casa, véus, fundura
de que alguém fala inesperadamente
Pequenas memórias, frágeis
linhas num pulmão imaginário
Esses são os poemas breves
É o que transparece
em nós, sem que o ouçamos
– lume que vai queimando
bosques, paredes, rostos.
ALEGRIA
Um quintal, casas
e gente: uma
epiderme sobre
a Terra. A crispação
de uma presença inesperada.
A tristeza perfeita
de uma árvore ou de um
bicho sobre o muro.
O som ausente
de anos e anos: aquilo de que
é feito
um rigoroso sofrimento.
VIAGEM
Em Fevereiro e Março corre a água
mas não no Mundo, em folhas
garatujadas, cheias
de números e medidas.
Recordações de um outrora, quando
homens e feras tinham outros nomes.
Por Fevereiro e Março corre a água
com uma mulher morta em seus caminhos.
MANHÃ
Apenas um olhar
na direcção errada
Como quem, pela noite
sente a aragem entre
membros a desfazer-se
leve, intangivelmente
Num Inverno trocado
e infinito.
CANÇÃO
De todas as maneiras
frutifica a matéria
dum gesto ou duma ausência
Rápida escolha, dor
que nunca se encontrou
e por isso, de astuta
nos observa
indestrutivelmente.
NOITE
Uma letra não
defende de nada. Vinte
mais vinte
e outras centenas
acotovelando-se.
Nada existe
oposto
à superfície
nula
Curioso
o número
inteiramente
negro.
COISA
Um rumor e um silêncio.
Depois, mas sobrepostas
imagens e substâncias.
Alguém espera encontrar
em seu caminho um traço
de inocência ou de luz.
Não é senão do mundo
que o seu corpo nos fala.
Mais além é o nada
e todavia o tudo.
A fixidez do escárnio
quem se horror se cria
Na majestade do fim.
MOMENTO
Concentra-se a ternura
em seus instantes próprios.
São imagens
que se perdem, se encontram, se desfazem.
Retratos achados
de que a fala dá seguro sinal.
Nos lábios retardou-se
um grito uma invenção
talvez sonhada.
AGUARELA
No dia dezasseis de Julho
quando caminhava
por uma avenida de Coimbra, António
notou que um transeunte em frente
de si tinha um pequeno rasgão
no casacão grosso de lã. António
desviou-se para que
uma rapariga pudesse mais à-vontade
passar, rodeando o tronco
de uma acácia. E foi então que, com
um arrepio que não sabia donde lhe vinha
pensou que algures haveria decerto
alguém morrendo nesse instante. Numa
loja vizinha um obreiro qualquer
batia o ferro e o som propagava-se
inquietamente: como em
Roncesvales. António, conforme
se deu conta, nunca mais viu em parte
alguma o transeunte anónimo.

Largando o martelo, José
Paulo lançou o toco do cigarro para um
pequeno charco junto a um muro. Um cão
olhava qualquer coisa ao longe. Pássaros
debicavam sob uma árvore de tronco
rugoso. Aqui e acolá a sombra de uma
nuvem esbatia-se, indecisa. No pátio
interior, olhando as janelas na parede defronte
José Paulo sentiu de súbito uma tristeza
infinita.
DOIS POEMAS
I
Nada queiras da ave
que vai e que volta.
Nada queiras do Tempo
onde a palavra é uma sombra.
Ou do silêncio do vôo
destinado.
E terás, como ninguém
todo o espanto do Universo.
Tudo o que puderes calar
deverás dizê-lo.
II
Ouve, amor:
O amor é para ser feito
mesmo que não se conheça
dele sequer o alto nome.
Rosto para restar
simples e inviolado
nunca será teu
mesmo que o descubras.
Pois o amor, amor
é a morte e a vida
gravadas e essenciais
em tudo.
A dor e o medo, esses são
o segredo que não sabes.
DOIS POEMAS (VARIAÇÃO)
I
Para que não te esqueçam
faz com que ninguém
te lembre.
De ti aos outros
vai a distância
de todos.
Milhões e milhões de sóis
estarão depois
de ti
mas não antes nem nunca
na tua sombra
extinta.
II
Poderás dizer tudo
mesmo o que esqueceste
– a memória não é
memória apenas.
Se simples te quiseste
simples serás
mesmo que nada tenhas
a receber a dar.
O segredo está em ser
mesmo a morrer.
RETRATO
Sim, elas têm nome: metade
calando-se, metade
subindo
escuras como cascas
ou como vidros quebrados.
Terça-feira, quarta-feira
– perfis abandonados
números e acordes
inúteis.
Chamem-lhes o que preciso
fôr: nenhum receio obriga
a metade que são
ausente
a qualquer coisa doer
fundo nos ossos.
VÍRGULA
Pode ser que seja só
simulação. Vozes eternas
restos de coisas mortas. Pode
ser que nos quartos nem
sinais de dedos nem
o terror anónimo
se propague: um edifício
e a sombra de uma
palavra. Mas
mais além um pinheiro
– imagem colorida –
aguarda novos dias, novas
dimensões, certo
sombrio desprezo. Ali há
o que sempre há: incerteza
crepúsculo ou amargura
p’ra dizer alto
que o esqueleto
sua.
CONSTRUÇÃO
I
Na pedra que deus fez
Eva parou
e foi sinal apenas simulado
de breve e tímida agonia
Elohim, metal novo
em ogivas de luz multiplicado
– sua serena glória –
tem sua pata erguida
para que tudo seja
gravura, guache, tela
Para que tudo seja
cadáver, chão, floresta
Pois Elohim conhece os séculos
e ao acaso nada deixa
– excepto a vida e a morte.
Adão é espaçonave erguendo
no ar mãos, árvores, silêncios.
II
Víbora cá
víbora lá
– como a canção
não diz
Uma varanda, outra
varanda
– e que os outros
dêem ao Diabo o que aprenderam.
LUZ DO MUNDO
I – Caixa de Cores
II – Diversa
I – Caixa de Cores
INÍCIO
p/ a Mãe
O espaço da pintura é o espaço
– limite objectivo dos nossos olhos. Um ponto, uma face
um edifício. Se as coisas se confundem
se desunem, se ultrapassam
ou interpenetradas
se desfazem
o pincel vai servir
de medida: assim, o encontro
que Picasso referia
é a muitos títulos inominável. Talvez
notícia, premonição, aviso
talvez apenas modo
de falar, de dar
a ver. Talvez
bem mais do que isso: um fermento invencível
na floresta dos símbolos. O círculo, o quadrado
o triângulo amoroso: a Cor, o Mundo, o Homem
e a Forma dos seus corpos. Assim se reconhece
o Universo. Como se fosse inteiro
a projecção e a mancha de si mesmo. Existe
em vários planos
a pintura. E em vários horizontes
é negra, azul, cinzenta
como o fogo que cresce
no vermelho da voz
e no branco do sangue. Tão serena e tão pura
como animal do mato: ao mesmo tempo
tudo – emoção, decisão – e nada. Pois que serve
para ligar visível e invisível. Por vezes se diz dela
que é a escolha possível
da liberdade, se acaso ocupa
o quotidiano lugar da nossa habitação.
Nem fiel nem
distante, verdade apenas no seu coração vivo
e propagado
a pintura constrói
um exílio terrestre: e jamais se repete
ou se rende
não se compra
nem se vende
como oceano ausente
e navegado
Perpétuo desaparecimento do futuro, do passado
se se move oprimido a seu lado o presente.
PAUL GAUGUIN
Calemo-nos, vizinhos
bem calados
detrás da cortina, à noitinha
na ilha, na neve, esperando
o crucificado amarelo.
Uma canoa indígena lá vai
navegando na sétima tela exterior
ora por tristeza ora por alegria.
Sífilis, só de graça.
Tuberculose, a que bastar.
Sangue, o que as armas forneçam
de juntura com o azul da Prússia
bem francesa. Ou então
por piedade
o louco branco cobalto.
A orelha não serve a ninguém
a não ser por modelo ao vivo
colonial.
Mette Gad, Mette Gad
onde escondeste o teu rosto lilás apodrecido?
Na Bretanha, muito doce, ao crepúsculo
cai uma pinga de sangue no chão
e o azeite sobe no ar
e a casa é tão pequena
lúgubre, idiota.
Nas ruas ainda vai restar
um sopro de vento dos mares do Sul.
ARPAD SZENES
É tudo muito confuso
é tudo muito cruel
é tudo muito real
E de repente, eis a presença solene
de Deus e de um milhafre.
Um armário, mais abaixo
esconde tintas, vozes, corações
O mar espera a sua oportunidade
sem se fatigar
Chave solar, água perdida
entre um verde, um castanho, um violeta
As nuvens estão a mais
ou a menos
mas para inventar deuses e matérias
enfim completas.
Em verdade nos dizem
que o destino é aqui que se encontra.
TRÍPTICO PARA MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
Alguns traços podem matar, é o que dizem.
Alguns traços são como cadeiras sangrentas.
E na verdade eles erguem, podem erguer, o tempo
e transformar-se (por exemplo) em substâncias breves
comummente sagradas: um peixe metralhado
uma lata de bolachas, um pequeno dedal
três ou quatro rostos humanos
uma pirâmide da cidade santa do Peru
ou, apenas, a imagem (real) da tradição
para a qual um morto (usado ou virgem) é tão belo como o destino
(vamos lá) a intervalos regulares.
Mas que sabem, que sabem (eles) da floresta?
Eles, os do pessegueiro feito plácido azeite
os da enfeitada confirmação acessória, os da matéria que
provê as mais cegas necessidades de
ar (digamos) sete vezes por semana.
Terá de haver, é certo, uma razão
para tudo isto. Isto, serve dizer: um deslumbrante
som, uma casa que fica sendo o quase princípio das coisas
ou, por antítese, a velocidade completa
dum sol rude e destroçado. Mas
com que alegria! a cor tem também o seu lugar:
– a ilusão viva desta mão, um copo (é exacto) azul
bem mais que aterrador, sendo como que a espádua
duma figura marítima ou de
uma qualquer linguagem irredutível.
Tantos anos passei
sem conhecer esta cerâmica inquietante. Tantos anos
que incluem aliás os meus anos repletos de chapéus e segredos
e toda uma filosofia de amargura, às vezes
uma realidade verdadeiramente (?) retratada e
os longos passeios (doridos) pelas quentes, sonolentas
existentes vilas falando (suavemente), abrigos
que são para diferentes caminhos de (in) submissão
a um incerto deus.
Um desejo afinal que a cidade afastou, essa cidade
exaurida de medo.
E sei bem que não basta
que à palavra se junte outra vontade
interrogada não pelo elemento
que tudo irá ligar: outra vontade
à semelhança de muita gente (havida), de multidões talhadas
nesses riscos ardentes, geografia altiva, vivos de ferocidade, vivos de
inumeráveis quartos, praças, canaviais, inúmeráveis mares
onde um morto (de acaso?) se multiplica pelos séculos inatingíveis.
DUSAN MATIC
Para Dusan Matic a mais ágil palavra
no óleo das ruas imperatriz da aurora
Para Dusan Matic o beijo sem receios
a taça ruidosa dos invernos livres
Para Dusan Matic imperador da noite
tudo o que em pé esteja selvaticamente
como a chave violando a nudez do futuro
como a chave rebentando a pobreza dos pomares.
BRAQUE
Olha o Georges
diziam os colegas
a andar de bicicleta
Mas isso era muitos anos depois
e na infância não se sabia como
embora estivesse em relevo essa figura
entre peixe e cavalo.
Georges passava tranquilamente
de uma sala para um quarto
de cabelos eriçados
enquanto as flores e os frutos
se multiplicavam
na madrugada
Mas Georges não sabia nada disso
um prato de legumes lhe bastava
Havia uma grande e silencioso alegria
uma palpável tranquilidade
na casa onde o Verão caíra
sem que ninguém se desse conta.
Mas Georges ainda nada sabia
de jarras e de janelas
Limitava-se a deixar que até ele
chegassem silhuetas de animais
que sobre as suas mãos de criança
deixariam talvez mistérios de outrora.
Georges sabia, afinal, o necessário
para traçar a unidade da luz
ângulos
e maravilhas abandonadas.
PICASSO
Rei morto, rei posto
e sete caras em busca
dum pincel.
Num outro dia conversaremos então
como quem salta
de quadro para quadro
com um pombo em cada mão
cheias de azul
– da cor dos minotauros
de mantilha
E mais sete mulheres
de bandarilha
cravada na tela
Como se fossem peixes-luas
ou um cavalo à janela
na chama dum candeeiro
iluminando o circulo
dos pés à cabeça
do Homem.
E a verdade dos factos
que a paleta os guarde
por toda a eternidade.
GOYA
Ir a feira é fácil, se tu estiveres.
Também é fácil ser princesa ou duque.
Mais difícil é aguentar a fuzilaria
quando as bruxas dançam.
Mas como esquecer o tecido
pendente do corno do Bode?
EL-Rei não percebeu que a moral da História
era que usavas óculos
e não precisavas dele(s).
CESARINY
Um universo com esqueletos de brinquedo
no fim do segundo milénio e antes da
primeira esquina uma lâmpada que apaga
e acende intermitentemente. Um gato
que em breve aprenderá a sonhar mas
que por enquanto está de pijama azul ou
rosa frente a uma porta de tipo europeu. As
casas junto a uma colina sob a noite – linhas
intermináveis mostrando o trabalho do tempo
dentro dum quarto escuro. As mãos que passam
nas estepes do Ponto Euxino e de repente são
o rosto desfigurado dum animal mediterrânico
recordando a infância alegremente.
Papéis sobre a memória de quem passa e de quem
fica, a quietude vegetal dum pássaro morto sob
a Lua inquieta. Como
se norte e sul fossem o peso
do meio-dia.
VAN GOGH
Com um tiro, Vicente?
Entre a casa e o sol?
Então para quê
o vermelho ante o céu?
E o inferno para esta gente?
E a noite tremendo
de frio?
Nanja eu!
Prefiro comer um chapéu
um caracol
ou a capa do meu tio.
GEORGES LA TOUR
I
É preciso que a rima acerte
no centro do espanto do tempo
como uma luz, como um segredo
nas paredes brancas e ausentes
Como inexistentes fulgores
de segundos, minutos, horas
retalhos coloridos, vistos
em recantos e ruas
Tecidos, ou papéis, ou pedaços
de estuque guardando do sol
apenas um detalhe invisível
insuspeitado e sombrio
Cabeças que tombam sobre as mãos
a água e a cera, a mancha crua
– é forçoso que tudo se incline
e persista na sua existência
Carne e em socalcos, por debaixo
de tudo, como no cinema
as lembranças negras dos lugares
onde o Homem deixou um vestígio
de lume ou escuridão iniciais
II
Este rosto: um pedaço
de carvão, uma lousa onde se escreve
como na infância. Tão doce
a ama com o menino nos braços. Tão
verdadeiro e terrível. Moradias
exactas para gentes inúmeras
vivendo para sempre ao lusco-fusco.
LIMA DE FREITAS
Há um verde um amarelo um branco
que crescem sobre o Mundo. É a matéria
de aldeias e mares o azulejo
de castelos e casebres o perfil do Homem.
Diz-me como pintas dir-te-ei quem és
Há um azul um negro um violeta
para que seja íntima a nossa recordação
um braço de mulher um camponês olhando
o rosto obscuro e simples duma criança.
Diz-me como pintas dir-te-ei quem foste
Há um rôxo e um vermelho há um cinzento
para que as coisas vulgares se transfigurem
para que numa sala a norte de todo o silêncio
a dupla substância perenemente brilhe.
Diz-me como pintas dir-te-ei quem eras
Dir-te-ei das cores a natureza clara
dir-te-ei do tempo o número e o horizonte
e das raças extintas a floresta e o nome
e dos objectos a sua real dimensão
Porque sabes que o fogo é semelhante ao vento
e tudo em nós encontra a sua forma nova
– um pássaro e um jardim uma mesa uma rua
os vestígios duns passos num caminho secreto.
Diz-me como pintas dir-te-ei talvez
que nada se perdeu nada se perderá
daquilo que dissémos daquilo que fizémos
com os traços e as cores da nossa mão queimada.
Diz-me como pintas dir-te-ei
o que as cores calam e cantam.
II – DIVERSA
GÉNESIS
Pode fazer-se um poema com restos de poemas
e nem sequer só nossos. Basta saber escolher, tal como
uma dona de casa catando coisas frugais
numa perdida loja de subúrbio. (No entanto
o problema é: como conciliar os invisíveis
ou visíveis rastos de luz que as palavras
fazem rodar entre a noite e a manhã
das letras).Ou, melhor ainda
entre mil silhuetas de páginas desconhecidas
de esquecimentos
de risos ou
de decisivos desprezos.
O como, o talvez, os advérbios de lugar
ora dormem ora despertam. Podemos dispô-los
como flores silvestres
como pedras fibrosas ou tijolos
ao longo dum muro de quinta
no interior real dum jardim
ou como pedras tumulares
essenciais e descontínuos. Podemos trocar
a memória dum substantivo, de uma mancha de sangue, de uma
bastonada na cara ou de um suspiro. Podemos tirar
duma frase engolida o duro perfil duma alegria, ou mesmo
um verbo definitivo para um contentamento
um tempo a morrer
estático ou já liberto. Ouçam
o canto da noite: nesse silencio, pé ante pé
há ruídos e gestos, uma que outra amargura, a matéria sensível
que os poemas abandonaram. Ouçam o canto
da noite: cidades ao amanhecer, os sons inúmeros, nítidos, a substância
de um vulto ao crepúsculo. (A grande chuva, o grande sol
que nada mais são que recordações
trazidas por alguém
numa folha rasgada, num fragmento de minutos). Ouçam
o canto da noite
e saibam depois esquecer.
Todo o livro é um simulacro. Algo que se perdeu. Mas todo o livro existe
na sua atmosfera de fechada revelação
de velada inexistência
de apenas sopro ou vestígio
de móvel ou imóvel figura destroçada. Sim, pode fazer-se
não um mas muitos poemas sobre o como e o porquê
ou sobre o nada que eles, afinal, revelam
ou sobre o muito que eles, afinal, são
ou sobre o muito e o nada que lhes reside em volta
enquanto os anos perdem a nitidez
e as fronteiras perdem o sul e o norte
a sua altíssima impresença o seu finíssimo vazio
a sua transparência abominável
e sagrada
de desabafo
ou sortilégio. Sim, ouçam o canto da noite
a tal coisa que engrena
e se põe a correr
e se põe a parar
e cria em volta como que o esvoaçar de um planeta
com barulhos, com súbitas cores, com mágoas e magias. Sim,
ouçam o canto
da noite.
Ou até, talvez
o começar do dia
as palavras uma a uma no seu sereno balbuciar
quando as páginas são apenas ardilosas reminiscências
num papel amarfanhado
e a nossa voz é um reflexo num conjuntivo ou numa vírgula.
ARS MUNDI
Entro na casa: à direita o cabide
a roupa perfis de circunstância, à frente
a mesa com seus objectos desconstruídos: um livro
fotografias, papéis sujos de escrita um embrulho
só exterior, jamais
violado para sempre desconhecido. Pequenas cidades
com seus segredos, suas
aparências, o Oriente, o Norte
de – por exemplo – uma jarra
emendada colada simulacro de alguns minutos
de eventual ternura. As coisas
de facto imprescindíveis. O cheiro
a urina – pungente, entranhando-se
nos versos, reminiscência de infância
cuja trémula ténue lembrança estranhamente
nos dá um local reconhecível: passeios
por Lisboa, por Espanha
(livros velhos, de poetas
de cozinha) e o regresso já tarde
pela fronteira nova. Virar
quase ao calhar, uma folha outra folha: conhecer
quem escreveu, por sua tenaz
tristeza, sua febril
inquietação, cruzando tempo e espaço
mortes sorrisos longas horas amargas.

Como pode sentir-se – digamos
que o resultado é (dito assim) perfeito?
Há um invisível invisível caminho
entre duas palavras – morte, vida – que ao riso
nos conduzem
Mas convirá parar olhar e ver: um do lado que p’lo canto da boca
nos diz devagarinho: boa-tarde (ou boa-noite) e depois
fica sentado, tranquilamente fumando como sereno
turista ou velho femeeiro – mas cuidado
que a razão é subtil – entre trinta
palavras (ou dito de outra forma dinheiros
que pagam mortes) agradáveis de seguir. Defuntos há
com sua estirpe própria: Beethoven em Wharig, surdo como
janela fechada, porta para loucos lugares de silêncio, Camilo
com um livro na mão, sufocado de pasmo, um pistolão
arquejante antes do último
arranco, notícia
para telejornal de velhota assustadiça, Saint-Pol Roux
a velhice caçando-o torpemente (o poeta trabalha) no segundo
andar da casa, enquanto na cozinha criaditas gritavam
Lorca em Aynadamar, como vulgar
transeunte de ocasião sob rodas dum TIR – que as salvas
no peito na cabeça só depois é que vieram ou ainda
o mar de Shelley, a tísica de Stevenson, a tifóide de Schubert
um pouco de café num fundo de chávena para os
enamorados
– as delicadas flores que o mundo acolhe.
Disperso na noite, um pouco em branco reflicto
noutras horas diferentes, coisas já
purificadas: a luz que se apaga, mãos
de alguém que nos diz E permanece e vela: É esta
a minha face Meu silêncio que ficou.
POEMA
Não eram vulgares as mãos de meu Pai.
Um dos dedos tinha mesmo uma unha rachada
E quando pela noite o vento me fazia
tremer
algo me entrava pelos olhos e era
uma espécie de mapa
e eu lembrava-me esforçando-me contraindo
a cara
se era de facto uma luz o que se via
rés-vés ao telhado muito perto
do grande portão de pedra em ruínas.
Naqueles tempos morávamos no campo
Muitos anos mais tarde visitei a casa
com dois filhos e vários garotos vizinhos
numa tarde ao fim dum passeio pelas matas
dos arredores. Ao canto da cozinha
estava um banco velho e a madeira
ganhara uma cor acinzentada devido
ao tempo. Disse-me depois
– enquanto comíamos pão com azeitonas –
o dono dessa quinta alucinante
no páteo da outra moradia da herdade
que durante trinta e cinco anos
não morara ali ninguém. Éramos pois
nós os fantasmas daquele lugar.
Era no Inverno e as palavras repousavam
e de vez em quando ouvia-se um ruído
como de turbilhão
– certo dia um pássaro morreu junto à
porta da entrada, onde havia
uma planta como de antigas eras –
e algum tempo depois tive de partir e olhar
o universo de tudo de isto e daquilo
O oceano e as vozes recriavam-se algures.
PREÇÁRIO
O poeta tem que descobrir situações.
É isso que lhe exige o protocolo. Saber
que por detrás ou ao lado
da imagem fosforescente (como num espelho
apenas pensado)
existem outras coisas (essas sim importantes):
um regresso um rádio de pilhas um primo
O poeta fica muito calado. Não sabe nada.
Não consegue – nunca conseguiu – reparem
contornar situações. Lembra-se, é evidente
de uma certa manhã em que havia mais claridade
(mas isso, sem o privilégio da revelação
é apenas um arbusto entre muitos)
e calcula, sem palavras, rotações e translações
em locais inóspitos.
O poeta, naturalmente, sempre sabe qualquer coisa.
Sabe, por exemplo, que não se pode calar.
As palavras são efectivamente les mots: colunas
em qualquer língua, graus de sustentação
para florestas, casas-de-campo, matrimónios
entre o planeta e o firmamento. É como
uma encruzilhada: aqui há uma vela sobre uma cadeira
ali alguém que se inclina sobre a imagem duma montanha
e o poeta tem de optar. Por isso não escolhe nada
e quando é noite diz para si que tudo voltou ao princípio
e sabe que tudo foi rápido como um silêncio.
E, vai daí, agarra aqui e acolá uma frase
um sorriso
um pacote de batatas fritas, um relancear
que é o que lhe fica dos olhares alheios
sempre ligeiramente hirtos como um eco ou um reflexo.
POEMA
1 A antiga casa não lhe mexam. Não procurem
desfazer-lhe os sinais que as sombras
lhe deixaram. Os canteiros
que fiquem com pedaços de cacos, velhas
rugas sob os alicerces. Plantas
que o silêncio gerou anos e anos
às telhas se misturem.
Os dedos, não lhos marquem
com óleos, tintas, cores
em toda a frontaria e nas traseiras
E as nódoas de musgo, a cansada ferrugem, as
flores quase desfeitas
abandonem-lhas. Não lhe pintem
também a luz
que o tempo debaixo do cimento faz ficar
– o sol, o vento, a chuva –
mágoas e alegrias dum século
mais que incolor e vago.
Absorto e parado
que tudo sempre idêntico
sepultado nas crostas sem limites
fique como os minutos da terra, assim desfeitos.
A brisa, como em sons
de vida e morte
nas janelas abertas passe
– lamento reflectindo a memória
lenta das vozes.
Que as asas lhe resguardem a quietude. Que o sol
a vele e adormeça sua paz final. Que o Outono
lhe acalente a ausência: porque já nada pode
agora transtornar
a velha moradia
– os campos, em redor, são o disfarce
de milhares de coisa já perdidas –
aranha minúscula subindo
os tempos invisíveis
laços para sempre desmanchados, porta
que se entreabre e une finito e infinito.
2 Não nos falta o sentido
que entre inúmeras casas se tresmalha
um Agosto ou um Fevereiro supostamente
fugaz
quando o cansaço cinge o Mundo
e encerra
em si mesmo
o feroz nome que os outros meses têm.
A guarida final
conserva o vestígio das mãos
e das figuras
que as casas erguem ponto a ponto.
3 A rua é mais a Sul
e tem por dentro recordações
– velhos lugares que um sopro desvelou –
o mar, pessoas, pedras
acumulação de signos e raízes
que de mineral têm
apenas a ausência. No ar se firmam
num quarto ou numa sala
como recantos cedo destroçado
algures e em qualquer
latitude e longitude
como outrora entre a turba
alguém a quem amámos.
As ondas na manhã
nenhum som ou sinal
erguem em nós
na terra que começa
– amora opalescente
até ao horizonte
entre pedras e folhas entre
meridianos cruzados –
e a promessa que os troncos
anunciam
desfaz-se
(um bosque bem real
mas que desaparece
como em “flashes” sucessivos)
como, no Inverno, uma ave que passa
como uma notícia num jornal antigo.
O dia vai partir, parte
finalmente. O negrume parece
um negrume disforme ( e é apenas
uma penumbra excessiva
como um soluço, como
o velho choro que os Pais
sempre conhecem). As sombras, na manhã
– nessa manhã que a memória nos oferta
para que mais soframos, ou então
para que o riso frio se apresente –
renovam-se e repousam
sobre os muros desgastados. (No Café
que havia a uma esquina
alguém crava num tabique
um prego onde alguém pendurará
o retrato de alguém ou calendário
de dias que alguém terá).
A noite, ir-te-ás tu? Provavelmente sonhas
com as chamas que sobre os rostos ruflam
diurnas crispações
de claridade ou de recordação
e ao longe
como fotografia
que a um canto sobreviveu
o mar faz pressentir
a mágoa que docemente aflora
os nossos dedos queimados.
4 Assim, que ninguém trema. Digo
entredentes e apalpo
os papéis onde luzes, corpos que zumbem, um combóio
cobram existência. Um moscardo, mais leve
que a sua própria efígie
recomeça, na noite, o seu branco
ondear. O suor
mancha os lençóis, a camisa
que usávamos a esmo e que tão bem
acompanhou visões e pensamentos. A cal é como um
desejo aberto, os muros
prolongam o silêncio, como um dorso numa cama
apaziguado. Como um corpo entre duas
cidades, aguardando em silêncio
o tempo que não veio, o tempo
entre ruas esperando para sempre.
Monforte, Fevereiro de 86.
UMA TARDE COM OS MARX BROTHERS
O transferidor, dizia, vai de mão a mão
com inúmeras recordações dentro: cadernos
listas de gente com telefone, pequenas
e inúteis resmas de algarismos
transformados. Suponhamos que sobre uma face
apoiamos um dedo, a ponta
dum dedo indicador: a imagem cresce
e ocupa o nosso horizonte, depois
tudo cessa. Nem figura nem número
nem ruídos repentinos e fotografias finais.
Onde estão as lembranças
dizia o outro, quais
as definitivas lembranças minhas
tuas, do que primeiro ocupou
este compartimento? Risca-se
da terra do norte à terra do noroeste
– um borrão, contudo, chama-nos à
realidade solene, de quem
acumula degradações. Recordo, de Giotto
a crucificação entre edifícios não de
todo naturais: é sempre
possível comparar, amar inteiramente
o vazio. Bandeiras
véus fugidios, tudo enfim
como se de dentro a estrutura saísse
e fosse nuvem, fosse transparência
interminável, deslocando-se incerta
multiplicada. Um bolo
e uma sandes de queijo, um livro
sujo e perdido
– prováveis como alguém que telefona
que conhece se vai ou não vai chover
que sabe usar o sim e o não
fora e dentro das manhãs. A régua
o compasso, o lápis
que carece de ser afeiçoado
– a realidade dos minutos insuspeitos.
Mas – como alguém disse um dia –
os lábios vão sangrando
imersos em negrume
sob as árvores do parque. A mão, contudo
enrosca-se
num lenço ensanguentado ou num
papel sem linhas.
Algures entre corredores
entre pontos e traços, entre
sinais perpetuamente aparecidos e desaparecidos
os risos soltam-se
ressoam, ressaltam
e desfazem-se em ecos desenhados.
RECADO
Uma pessoa – suponhamos – está na rua.
Do lado, desapareceu tudo: o lenço-de-cabeça
que a Mãe costumava colocar junto da cama
depois de vir do exterior ( trazia
pacotes de bolachas, fruta diversa
e com ela entrava por vezes o cheiro da terra
molhada, vozes ao acaso
e um ou outro resíduo quase a prumo
do tempo que foi e não foi acesso
às figuras multiplicadas). E muitas coisas mais
habituais e mortas.
Este vaso antes da janela representa
antigos mundos, moléculas e átomos feitos
para o espanto e a cólera. Recordo
um pedaço de pão sobre uma cadeira velha
ambos num traço linear
e que não é menos que esse estranho ozono
que nem sonhávamos existisse
à superfície das nossas antigas idades.
Quero eu dizer – na vagarosa mágoa
dos minutos
Porque vos dou imagens
porque vos dou pedacinhos de peixe
porque, sim senhor, vos dou números e razões
( o joelho, durante muitos anos, ficou dorido
e a cicatriz sobre a sobrancelha direita
permaneceu como branca virtude tropical)
sei que tudo começa e naturalmente acaba
numa estufa onde existem gladíolos
– uma luz de pisca-pisca, uma esquisita
música que aumentando parece mais um rápido
e de repente calmo brusco calar do pinheiral
naquela noite habitual, com gente que se afastava
e que nos dava, sem que o soubéssemos, raras
palavras perdidas transfiguradas.
COMPOSIÇÃO
ao Abel Teixeira
I
O poema tem o seu ritmo próprio:
começa-se por exemplo pela folha de papel
– se alguma dobra na geografia da sua
estrutura (digamos: como um rio
em miniatura) perturba a superfície que
as idéias já conceberam
como perfeita (perfeição: lembrança
ou esquecimento do que virá a seguir) é
necessário saber
recusar tudo: os enleios, mesmo a voz
que desponta. E poderemos nós adivinhar
os funestos ruídos que sem aviso
nos entram na cabeça (pela janela, pelo
quarto mais longínquo da casa, pelo
ouvido direito) e criar movimentos que
mais que estorvar desfazem? Depois
há as palavras. Ou nem bem palavras, antes
suposições virtuais de significados
simples – jardim, óculos, uma preposição
de acaso, um barulho que junta um porquê
a um verbo desirmanado, que é como quem diz
velozes interrogações. Assim é a poesia
menos e mais que remorso, que
trémula projecção, lentidão
pressentida, imagem
através duma ausência. E ainda há
que coligir pontos acesos no interior
das regras gerais: fogos à luz do Sol
escadas sem nome e sem regresso, sinais
enfim desaparecidos.
II
Daqui vamos tirar o minuto que sobrou
Dacolá uma cor que o tempo já esqueceu
Desta parte a figura eternamente traçada
e de nós mesmos as vozes que em nós sempre existiram.
Existiram, ou seja – ficaram alguns anos
como casas construídas junto a bosques tenebrosos
A memória dum grito, a lembrança duma frase
que ajudou a tornar inesquecível a angústia.
O som que se repete, incessante, monótono
crescendo pouco a pouco enquanto a noite aflora
devemos abandoná-lo, desfazê-lo, mostrar
a sua dura polpa no momento que se escoa?
Assim como se as horas se erguessem como árvores
no caminho tomado ao raiar da manhã
como se um morto revelasse as cores insuspeitadas
– crivo, rumor, fantasma ou palavra perdida
Era Dante que dizia que os malditos conhecem
além dos sons do piano as salas sem cortinas
onde Deus nunca entrou, onde as imagens são
como um pretexto mais para existir em silêncio
(Dos bolsos, afinal, saiem dedos e mãos
que bem melhor seria jamais lá terem estado).
Schubert, coitado dele, poderia demonstrar
que a melodia é mais do que tudo uma incógnita
como recordação achada por acaso
e oculta na penumbra ou pairando no lugar
que tantas vezes vimos quando éramos crianças.
Porque o segredo, afinal, não é mais que reflexo
que se acende e se apaga como faróis ao longe
Perfis que nos ofertam, sem que aliás o saibam
horizontes vazios de cidade alucinadas.
III
Sete horas, sete
e meia: é quando ( como ao abrir
da primeira ou da nona, quadragésima
página) a surpresa se sente Alguém
que uns anos antes escrevera porque lhe dera
na vontade “sobre a nossa cabeça sopra
um vento sem sentido” digo como se nós
tivéssemos tirando a coisa a limpo a fotocópia
sem saber sem sentir verso empedrado muito
batido antes de entrar na primeira
estrada – que é como quem diz caminho
para palavras que se empregam vá lá
umas cinquenta vezes e vai-se a ver lá
estão nas folhas do outro na voz
do outro tal qual uma água que
passa no rio mais que uma vez então isso
acontece de repente e são apenas
dezasseis e quarenta numa tarde
de pequeno sol a surpresa
foi demonstrada desmembrada entendida
é assim que se compõem universos digo
é assim que afinal as coisas se passam dizes
e pronto somos nós que enfim concebemos
como um planeta gira sem pedir licença diabos
dizemos (em voz sumida) levem a escrita. Se tudo
não é novo sob o firmamento (há outra
versão para ingleses românticos) quem de nós
deixará fruto ou bebida ou resquício
– em todo o caso vestígio para ser contado –
deixará dizia pegada perfeitamente envolta
em papel (já não de livro) embrulho
para séculos e séculos de possível memória?
POEMA
I
Pela rádio nos chegam efemérides
de fundadores de Museus, de chefes de orquestra
reis e gente que nunca sentiu a neve na face
ou sobre um prato contemplou a travessia do mundo
– uma espinha de peixe desmembrado.
Duros de cara rapada
e a chuva com certa indiferença
sobre um cigarro aceso
nos écrans desaparecidos
– pelo ar vagueando como animais sombrios.
Todos, todos dormindo
num campo de lilases
como estátuas subindo lentamente
as ruas no frio de Outubro. Restos
que a memória dissolve. Pedaços
entre os sons da noite como
casas abrindo lentamente
o seu vulto nodoso entre árvores e ventos.
II
Para além de Ezequiel uma videira arde.
O Alfa e o Ómega pousaram-lhe na testa
antigos segredos. Uma chávena
é a luz da sua voz velada. Na casa sobre o rio
– que os irmãos do profeta afeiçoaram –
o mirto e o açafrão
vivem entre objectos nublados
– a guitarra espanhola
a cadeira trazida da China por um primo
as provas fotográficas de Maria Egipcíaca
um charuto meio fumado
que Salomão lhe deixara em testamento.
Através do fogo e da chuva
o olhar de Ezequiel penetra os ares.
Ninguém pronunciou ainda uma palavra
– dentro da casa o grande círculo da Primavera
fez da penumbra a inamovível vontade
de todos e de ninguém.
Ezequiel diz à sua alma coisas breves
e medonhas
como quem aguarda a lonjura do mar
para entender a fala dos pardais e dos cães
ou de todas as maravilhas da Terra.
POEMA
E dizia o primeiro: um pequeno
silêncio e tudo muda Tudo passa afinal
a ser um jogo como outrora. E replica o
segundo: mas
está certo, ou antes
nem certo nem errado Tudo é sim senhor um jogo
de norte a Sul de sul a Norte digamos
com janelas que de repente
parece que ressoam, que se fecham e iluminam
com súbitos vazios de árvores
luzindo em suas folhas. Diz e pára um momento e
volta a andar.
E torna o primeiro: mas olha a casa repara
agora de novo branca e erguida por entre
o fim do pinheiral ou
seja fria e aberta decerto, sozinha
pelos anos fora. (Fria e aberta, repete)
E há vozes e ruídos repentinos, como
reflexos.
Sim, diz o segundo. Sim repete enquanto a cabeça
como uma imagem fôsca, imensa
e veloz se vira para
o chão: uns passos sobre o caminho onde a água
se juntou, insectos mortos, resíduos Espaços
onde a água permanece veladamente
Mas concerteza, diz
e sorri levemente e a mão
toca (aqui, acolá) na fazenda das calças – um pequeno
rasgão a dissimular-se mas
que existe – e sobe devagar até
perto da cabeça agora imóvel.
Um dia, há muitos anos, recorda naquelas ruinas
havia presenças de animais
O vento diz o primeiro
E sente-se
um frémito de medo, uma certa evidente
fria candura
Ah o vento, diz o segundo
e sorri
e o seu rosto de repente é como
um lugar sulcado de sombras rápidas
Há coisas dentro da terra pensa o primeiro
sombras como gotas que caiem
– retratos, folhas de eucalipto, o tecido
inexplicável da tarde
O vento, diz um deles e sorri
Sorri na manhã enevoada como se a imagem
duma árvore pairasse com seu tronco iluminado
entre os dois ou um animal morto ficasse
na beira do caminho ou a memória dissesse
coisas assustadoras e uma outra presença
já nada fosse senão um
grito violento entre figuras
vazias para sempre.
UMA ALELUIA
a J.U.G.S.
Recordo a casa
e seus pequenos utensílios
um só campo e as vozes
de aldeia a aldeia.
Recordo a égua
o burro, a cegonha, o pato
a formiga na trave
os bácoros completamente saciados.
Sobrevivência e um pouco
de amor. A corda na garganta
foi apenas desmesurada oferta.
Nada invejava, senão a tília
a penugenta aveia, o agrião
mesmo fora de seus tempos. O esplendor
do Sol nunca fechou meus olhos
porque cada ser em si transporta
a sua cicatriz.
Recordo as vozes
– como não recordá-las? –
pouco a pouco morrendo
entre pinheiros e cerros.
A lepra foi apenas
desmesurada oferta
da serenidade
das quatro estações do ano.
Até ao fim amei
a alma e os sentidos.
Até ao fim suspensos
nos meus ossos.
Entre carne e
esqueleto.
POEMA
Senti a coisa assim: estava a olhar
a estante grande
onde as obras infantis do Pequenu, por um holandês
estão antes de Joseph Conrad, depois de Alejo
Carpentier, Sinclair Lewis (primeira
dificuldade: como revelar o que de estranho, exacto
sugestivo existe nisto – direitos e limpos, com sua
repousada claridade, com sua serena
dimensão
estes livros têm parados num espaço
que é a sua figura permanente, a distância
precisa de tábua a tábua)
e de repente apercebi-me (a Mãe trouxera-me café)
de que não perderei só
as recordações, os momentos palpáveis, o retrato
(começara a chover; o vapor cobrira levemente
os vidros por dentro) de seres e gentes
mas que ao mesmo tempo
perco as memórias que os outros tiveram
ou que resolveram inventar. (Palavras
horizontais e verticais: medronho, copázio
desenho rabiscado como se fosse
um esboço). E uma certa América
em alguns fins de tarde – alguém que diz
“uma semana sem um cigarro!” em qualquer
quarto esconso de Los Angeles – (na cozinha
comiam-se carapaus fritos, de molho
de cebola para refrescar a sua carne branca)
por entre
oliveiras e telhados.
Chegar a testa, lentamente
ao reposteiro de grossa mescla castanha clara
e saber
que tudo está disperso
e que outros terão outras memórias
que serão
as mesmas
como se de repente a nossa cabeça
fosse não só a sua verdade
mas ainda mais
o seu momento
desaparecido antes de haver
silêncio e luz.
POEMA
É sabido – de acordo com o que vem registado em
Salomon Thrimosin, tomo II – que numa tarde de Novembro o
abade Jean de Beka, ao passear pelas ruas de Aix
entre dejectos de gato, trapos carcomidos, vegetação
sórdida e restos de barro quebrado teria achado algumas
folhas confusas entre o azul e o cinzento cobertas de
alguns traços esbatidos que lhe pareceram uma escrita
desconhecida. Sabe-se
que a própria raiz da comunicação é um resíduo, menos
sombra de figura que lembrança da passagem de um vulto
em qualquer parte (por exemplo e ao acaso: no mosteiro
de Erfurt a esquina do claustro onde um renque de flores
concentrava o seu estranho perfil; a cozinha descrita por
Pinget a páginas setenta do seu “Quelq’un”, Les Éditions
de Minuit, 1965; o refeitório dum quartel na Guiné (1968/1970)
onde um dia vi a fotografia amachucada de Blériot que um tipo
qualquer recortara de um jornal (português? italiano?) onde
talvez se pudessem ler algures vagas palavras descrevendo
o mundo da necessidade. Não, os sonhos não são casa paterna
para ninguém (a impossibilidade segue-se àvidamente à incógnita
da diversidade). Ou dito doutro modo: os herdeiros não somos
de maneira nenhuma nós, a quem
o granizo chega em temporal desfeito. Interroga
exaustivamente, imagina
uma sala deserta, uma mesa apesar de tudo vulgar
restos de coisas e a um canto uma luz sinistra (nada nem ninguém
recorda o símbolo do que foi). Mas voltemos atrás, porquanto
o mês de Março já se foi e voltou e nenhuma
floresta medra como convém. Suponhamos, simplesmente
por um breve segundo, que esta imagem é real: cacetes de
borracha sobre uma secretária de madeira escura e, num
corredor, alguém tentando estrangular outrém (as paredes,
vermelhas e amareladas, criavam outra espécie de cenário que
todavia sempre se deve afastar). Em geral, poderá dizer-se
que se brincou em ruas demasiado antigas, demasiado
anoitecidas: Fomalhout dista
seiscentos anos luz, uma palavra pode rodar sobre si mesma.
Um gesto
vulgar: um adolescente
que lava e seca uma aparelhagem de barbear e que de repente
olha pela janela e verifica que já não há sol, que é sem dúvida
o mesmo céu, o mesmo largo familiar, que a luz foi comum a Michel
Faustius e Bernard Trevisan apesar
de por razões diferentes e possivelmente opostas
desencontradas. Que a
solidão nos seja propícia – o parque gradeado, as ruínas e o
bosque assim que se alcançava o portão de tábua. Com as mãos
sobre os olhos, o frade curvou-se e delicadamente aflorou com
um dedo o papel que um último sopro de vento tocava. Nada
equilibra o flamejar de um ou outro momento e
desta vez para sempre endireitou-se e desapareceu pegando cuidadosamente
aconchegando com uma das mãos o pequeno tinteiro que sempre transportava
consigo e que de súbito sentiu pesado como um planeta ou uma
despedida.
SEM TÍTULO
Todos os livros do Mundo me pertencem
– disponho de boas mãos e de olhos
rápidos a perseguir no escuro
as palavras ocultas –
porque é meu o subtil pé-ante-pé
de números e de nomes, cores diferentes
onde os livros sua morada encontram
e de onde nascem.
Nem cínico nem inocente – apenas deslizante
entre madeira, pedra, luzes, rastos
que de fora se chegam (caspité!).
É necessário possuir o mais extremo cuidado
e um fato singular ou então de Inverno
– que o homem calvo à espreita sempre está
a fim de caçar ora um endereço
ora uma expressão, ora um botão
– que teima! – desapertado.
(De súbito, a imagem dum frasco vazio
em que um bálsamo contra o acne se verteu
– são lá coisas dos médicos –
fornece novas argutas estratégias
e de terras distantes faz falar
com seus costumes inviolados
Lugares, é bem de ver, dos quais o perigo
também fez sua casa
e onde os frutos aguardam nas gavetas
que alguém os retalhe e desfigure)
O homem calvo ou a moça das doenças
das confusões, das rendas e dos flirts
aliás de bom tom e boa fé.
Não é pequena, entanto, a maldição:
aos outros ainda é dado contar
dos ventos, dos desânimos, dos doutores, das fechaduras
A mim somente me é lícito
dar por história a sombra de uma busca
rapinanço mais que tudo legítimo
(sacra juventude, tão alerta afinal!)
e o aperto de mão que tudo salva
como um brasão de inteireza
de quem está entre comas.
É então que o Medo às vezes vai connosco
na nossa caminhada para o lar
nestoutro continente simulado.
Todos os livros do Mundo me pertencem
– bons sustos me têm custado! –
que o sistema é só ter a relação
entre dedos e recordações de nebulosos
pedaços de matérias negras
vindas lá do começo de tardes domingueiras
ou então de nada reconhecível
a não ser de alguns minutos ao fim da vida.
Todos meus são
como por um acaso
– que todavia transborda
da rapidez de gestos e palavras.
Quem não entender que os compre
– ou que analfabeto fique…
GRAVURA
E – aí estava – era mesmo a sua figura
entre as tílias
com as mãos bem perto das costelas
porque quando se desce no Verão o segundo terço
da Rua do Comércio
o céu enche-se de súbito de cicatrizes cinzentas.
Van Gogh
uma espécie de almocreve os olhos brancos
caminhando entre Arles e Civita Vechia
mora agora em Portalegre
– Stendhal acorre sempre ao primeiro grito –
e os seus ombros devagarinho encolhem-se
como para entoar uma última verdade.
Nariz contra nariz a Lua nasce
dissolve-se nos vidros
o seu reino é decididamente deste mundo.
Van Gogh tem muito frio
conhece as fábulas
os mortos ora são verdes ora azuis
pela memória passa-lhe a sombra de uma gralha
definitivamente pousada na sopé de São Mamede
O Moulin Rouge
a avenida de La Corniau
estão agora entre pinheiros
Van Gogh sabe
que pode se quiser ir tomar o café
no “Central” ou no “Facha”
como lembranças para sempre perdidas
no Faubourg Saint-Honoré
Os riscos crescem para dentro
assim como as cores crescem para fora
– um homem de rosto cravado nas paredes
a orelha vazia o ventre disfarçando-se
entre vagas palavras
para vestir os desaparecidos. Compreende-se
que a sua voz era a nossa
uma espécie de magenta ou terra-sienna
junto aos socalcos do Reguengo. O resto está desperto
e silencioso.
Van Gogh não tem dedos
caminha entre o fumo e os homens
– no coração agita-se uma pequena
insípida pontada –
esvoaça sobre a Corredoura de repente coberta
de girassóis abandonados.
POEMA
Saint-Éxupery desejava
algo que se derramasse sobre o Homem
como um canto gregoriano, tão puro
como as vozes fluindo num claustro ou numa
sala abacial. Saint-Éxupery
no seu avião, entre o reflexo das estrelas
atravessando o deserto de Al-Aifa ou Djamila
sentia para além do odor do couro
persistentemente colado à sua figura
de pássaro desaparecido
na cabina que era a sua catedral
lunar e terrena
a luz das vozes como numa
manhã de Novembro: os vultos encapuçados
cruzando timbres, os tenores e os baixos
trocando o seu jogo simultaneamente
pesado e leve
que faz comunicar céu e terra
pela mesma escada sonora
(o mundo de baixo e o de cima
ligam-se pelas colcheias e semifusas)
que mais tarde iria fascinar Mozart
Haydn, Pierre-Henry, Johan Sebastian Bach.
Mas é fácil multiplicar os exemplos: José
ou Pedro, João ou António ou Gaspar, simples
cidadãos dos diferentes países dos continentes
onde a araucária ondula contra o vento
ou a oliveira tremula sob a chuva
numa vereda da montanha
num quarto ou numa sala ou pela rua
ligam serenamente um botão
distraidamente enquanto voltam as folhas dum livro
ou acendem um cigarro
e coçam um qualquer recanto do corpo
e levam copo ou chávena aos lábios
que antes murmuraram para alguém
“repara” ou “queres ouvir?”
ou simplesmente nada disseram
presos ao silêncio envolvente
da noite de Primavera
– e a grande onda salta através dos anos
singelamente
e rodeia os humildes objectos em torno
e flui delicadamente e consagra
ouvidos, olhos, mãos que repousam
subitamente serenas. O canto
cumprindo os mistérios que perpetuam
tardes e madrugadas
é junto de nós uma entidade que palpita
que ilumina como a brusca chama dum fósforo
e nos diz nos diz veladamente
os séculos e os momentos incomensuráveis.
CANTATA
aos ínfimos e falhados
Não, tu bem o sabes, há
muita gente que se lembra das coisas. Essa
floresta de coisas que a todos pertencem. O espaço
ao Norte, a casa ao centro, o Sul
e os sonos que dormimos sobre as demais
recordações.
Sabes. Depois alguém confirma. Por ti o mundo
com as vozes e as outras
solenes armadilhas. E das casas te falam e dos seus
seguros vestígios
de objectos que tiveste ao pé de ti. (Havia então
um sítio exacto, um início
ou procura talvez, em todo o caso
algo que valia a pena ter olhado fugazmente
– um retrato sobre uma cómoda, uma espécie
de solidão própria, ainda que
inteiramente alheia).
Sim, pessoas há nas ruas que não recusam nada.
Agora finge um pouco, como se um dia tivesses morrido
junto à tua cidade, onde
pelas tardes se podiam ver
milhares de vivos esperando um rio
que não chegava. Um rio incerto. E tu
de pé, tremendo. Coisas
escondidas, coisas pavorosas, coisas para quem
nada tem, para quem
vive ainda.(E lá fora, no quintal
a laranjeira rebrota).
Não gostar de nada, disseram-te uma vez, é uma forma
de olhar o rosto nuclear dos filhos. Uma
inocência, apenas. E tristeza, talvez. A palavra
estrangeira e definitiva.
(Na cidade, anunciam, árvores crescem e morrem
como as aves de infância, brancas e assustadoras).
A cidade. A cidade, os vizinhos, um bocado de música
o pó e tudo o mais que observo em restaurantes, por
vezes sob a Lua (esse secreto incêndio, o corpo
habitual dos lusitanos) tão visível e alada
sobre os montes. E passo a passo
se trepa este horizonte vesgo, um cigarro
fumado para que ninguém faleça entre as palavras.
Se se quiser
pode dizer-se: o Sol, a guerra
perto de nós, quotidiana e certeira, frívola
e sumptuosa – e além de nós o mar
os velhos barcos vogando lentamente. É obsceno
então quem se refere
a malas rebentadas e a tudo isso que paira
sobre o nosso passado: a bola verde, o Avô
o canário morto sobre a mesa. Assim
te rodeaste: de inúteis comoções, de imagens
transportas. Pois calmamente se descreve
o Inferno.
Amanhã, concerteza amanhã, ou
noutra estação diferente – o mesmo corpo, os ombros duros, tudo
o que foi dos besouros e do barro – (a água fervilhava
de encontro ao metatarso) amanhã
com a doçura exacta procuraremos ver
ver finalmente, sem mais nada esperar
os altos, altos, vagos edifícios.
Esta a tragédia inscrita: esquecidos
da excepção eis que vogamos
para o polo decisivo. À altura da sétima
costela, o repentino
estrépito, a picada
que desperta o arfar e que jamais
oráculo algum anunciará. Vogamos lentamente
para o dia possível
o dia deslumbrante, o dia
inalcançável
no qual certos minutos abriam ao contentamento
superfícies repletas, movimentos convulsos
como grandes cortinas frente aos olhos
como silhuetas esfumadas, semelhantes
a gravuras antigas. O boi de Rembrandt
mas em reprodução
muito aumentada.
Ninguém diga pois que nada
nos foi concedido. Sair assim do tempo
é a verdade plena. Ninguém diga: o instante, o número
desconhecido e a culpa. E o que as recordações geram
no seu reduto.
Lentamente ela chega, pouco a pouco
ela a que de novo oferece
dor e obscuridade. Docemente alguém se esvai
docemente alguém cerra
a nossa angústia
infinita.
HERBÁRIO
O ânus que adormece é como um astro
invernal mas exacto: repousa sempre
sobre bosques e rios, sobre edifícios
diurnos e nocturnos construindo
encontros, desencontros, instrumentos
para todos os usos. Ou na terra ou no mar
procura sempre
as palavras exactas, a frescura
de cicatrizes postas na distância
dum lenço, duma fronha, dum vestido.
Porque nada acontece
– vamos dizer assim –
quando um pinheiro acena na azinhaga
um cálido sorriso
vegetal (ou apenas
arrimo para as mãos
as costas
a cabeça)
no ponto que se vê como horizonte
que a cada instante sugere
flores junto à camisa
um animalejo que foge
um carro que buzina
um suspiro que se evola
E lá fica o vestígio, pequenina virtude
alívio, ressentimento
escória meditabunda ou odor colorido.
Estamos descansando e de repente
a punhalada rói como se fosse
mais que sudeste e norte a geografia
dum corpo multiplicado em mil raizes
– vontade d’obrar, quere-se dizer –
que o mundo todo
pode ser ilusão
ou prazer, ou ainda
o lento e frágil ouro das origens.
Talvez a alegria
vá de aqui para ali
e seja ora o mercúrio
ora o enxofre
quando sucede que o gozo se anuncia
por gestos e por gritos
inconscientes de si
como um dedo, uma voz , um sacrifício.
O que se vê, de costas
ou de frente
não nos faz esquecer que a carne é feita
para ser a superfície dos provérbios
de uma ou outra ladaínha
mais obscena que límpida
pois os contornos leves prefiguram
ora murmúrios lentos e visões
ora desmaios profundos.
BIBLIOGRAFIA
I
A letra sobe à boca
serena e terrenal
multiplica-se e toca
todo o reino animal
Os dedos acompanham
a sua progressão
que o coração evoca
que a nostalgia tece
e o olhar acalenta
Leve, a palavra fica
além do mineral
e a pedra é
coisa vegetal
Súbito, é um planeta
uma floresta ou o mar
que se desenham
na folha de papel
e caiem, juntos
onde as almas e os corpos
se recortam e estendem
sensualmente
quer seja noite ou dia
E tudo se ilumina
O que se sabe, sabe-se
em palavras e gestos
que contudo, crescendo
se simplificam
no interior, nas vísceras
e por fora de nós
– cabelo, pernas, nervos
torso, sovacos, cérebro
A figura, se é braço
ou lábio
ou veia, ou ideia
é também solidão
transfigurada.
No que escrevo e não escrevo
ponho o mundo e a mão
– que das palavras digo
a escura condição.
II
Tem o corpo que somos uma sabedoria: uma
apenas – fazer, não fazer. Uma secreta
na manhã que se eleva da sombra e do sono. E mais
outra, caindo na luz que desaparece. E outra
ainda, tão certa oculta, caminhando
naquilo que tocamos e
perdemos. Na sua exacta maneira
de espirito e silêncio
material
desenvolve-se a dois, aberta
no negrume que é seu desde
os pés à cabeça
– na conversa de três
ou quatro que a ela ascenderam
ou solitariamente –
e que já nada espera
e a que já nada falta:
porém o vento vem
na mão que a solicita
e a língua fica em
a lembrança mais alta.
A SCHUBERT
Não em Viena claro não em Lisboa
nesse edifício “tristíssimo, de pedra
acinzentada, com péssimas retretes” aonde um Lied
seria fadinho ou então habitual melopeia dum
Goethe estúpido genial companheiro de reis andando
por sítios tais que não lhe era dado compreender o génio
em translação Não em Lisboa digo ou seja em Portalegre
lugar atentamente imóvel em retratos em húmidos
quartos de casa em cozinhas onde retumbam cançonetas
onde as mãos ou melhor onde uma certa mão procura
adejante dar o mais belo travo ao arroz-doce florir
as manhãs de Grillparzer (“Algum
de vocês tem um pedaço de papel, de preferência
de música”, perguntavas tu um pouco aborrecido e infeliz
no caminho da floresta) Ou seja: não era nesses tempos possível
andar três horas a pé de bicicleta e ir até ao fim da
Rua de Lichstenthal ou até São Mamede e cantar humildemente
um trecho da “Viagem de Inverno” com o coração estalando de
amargura de desprezo como futebolista saindo dum campo em que
a luz do crepúsculo retocada a lápis ad majorem Dei gloriam
fora invadida por holofotes como luzes de cena, ou seja
ópera sem golos sem dribles junto à baliza contrária
para que possíveis fossem o solfejo sonhado o violino e outras
noções elementares provisórias para estranhos vascos gêéme
– sempre eles! – tal como Schiller fazendo o ninho atrás da
orelha a Holderlin Espertalhões que naturalmente encontram
a música como simples violeta, cruz de ouro num bolso de colete
num espaço de estrofe provavelmente interior (“Não havia
janela que não tivesse vasos com flores plantas trepadeiras
gaiolas de pássaros canoros, mas isto não era a Natureza”)
provavelmente alheio ao vento que sopra e sopra incessante
no parque do palácio Estherazy. E – amigos meus – como é negra
a água desta ribeira ou à noitinha em Cascais, lugar
onde vi pela primeira vez ao vivo essa
tal ave, assim o confirmavam Salieri ou Ruezieska como
uma história em velhos álbuns de família, século dezoito
para ali virado, Janeiro por extenso de 97. O mar
entrava pela terra dentro, passava
sob uma ponte (palácio de gente de muitas
posses, não sei se me entendem) e a melodia chegou – “Variações
para Piano” – atravessando a manhã dentro de mim como Bergier
em Bergen-Belsen criando recordando concertos de cinco
minutos deixava
a suficiente certeza naquele alto silêncio. Observando mais
atentamente as minuciosas imaginadas fotos, os pequenos
truques dos sábios – as tintas, as poções
as colcheias e as chaves por onde principiavas o mundo
sentia-se que valera bem a pena o pobre braço devastado, a anca
frágil, o suor de ternura nunca oferecido a Carolina
e a Teresa (“Lembras-te Karolin daquelas tardes no jardim
quando te revelei que todas elas te eram dedicadas?”) sendo
bem verdade que uma Estherazy ou uma Grob jamais poderiam
murmurar o doce francês muito baixinho fosse por elas mesmas
fosse pela outra voz nocturna, um pouco atroz mas sempre
o justo compasso que imaginavas, o primeiro
timbre para que algo afinal fosse esquecido
para que algo ficasse adormecido
sobre uma mesa ao lado dum jarrão “num quarto
pobre, solitário, um pouco sujo”.
II
É pois contudo assim que mais eu te amo
“pequeno, rude e mal ataviado”, ou antes sombra
difusa compondo quartetos frases sobre um aparador
de pinho nessa terra em que era possível ver
oliveiras e árvores sem nome através do ar
Goethe – sempre ele – não respondeu
demasiado em cima que estava de pequenos poemas
e outras coisas nobres velharias
e por isso Harrison descobriu como achar a longitude pouco tempo
depois nas tabernas de Viena (“Oh! Como canta o meu coração!”) as
moças trauteavam refrões viam televisão davam o tudo
um resíduo cuspido de velhos cânticos mas era ali
que ele teimava em chamar o lá, o dó, o só-lá-si
pequenas sombras pequenos vultos sobre a parede escura
– oh ! como cantava o meu coração – e os carros
passavam incessantemente
Em frente duma igreja alguns turistas fotografam-se
não há, digo eu, sinfonias incompletas, escutai
vede aqui o nosso junho e o companheiro novembro escutai
tudo tem o estrófico e o desenvolvido Cães e pombos e crianças
trauteiam sem sequer pensar durante o longo Domingo uma cantiga
breve e triste Escutai Durante minutos uma ambulância passa
foi alguém teve talvez a grande revelação
como tu se calhar “de corpo cansado e desajeitado, de olhos míopes”
Por seu turno – a chuva cai agora duramente – Beethoven percebeu
bem que em Schubert havia “uma centelha divina”, havia
provavelmente um momento como numa sala uma visita fecunda
fraternal como um Verão que se aguarda. Agora
a chuva parou em volta
do jardim sentiu-se uma pequena pausa
alguns ruídos de alguém que passa, um simulacro se quiserdes
de solenidade, uma canção
algo perdida, a melodia que alguém
ouviu pela primeira vez num quarto muito às escuras calmo
um quarto inteiramente em silêncio
como uma voz que se escoa
numa casa
vazia e abandonada.
PALETA
ao pintor António M., falecido por conta própria
Existe – pensa ele – um sítio demasiado imóvel
(as sombras teriam sido azuis, se acaso
não se tivesse lido a página ao lado) recanto
absolutamente adormecido. Mas António
com o tal efeito de plenitude
resistindo ao calor, olhando devagar
a mosca no horizonte, o cheiro do estrume
antes de se estender de novo na cadeira
de braços – sabe que não passou viv’alma por ali.
É fácil
é comovente
ficar-se na varanda para um outro destino
enquanto o tecido de algodão se cola à pele
e a mão afaga algures uma nesga sombria
entre o ombro e a virilha.
Assim como assim
não é possível fingir
obrigar o palato, nas trevas, a servir
de vitoriosa encenação de mais um erro. Equívocos
cores entre comas, tal qual um gesto infalível
– o que pode chamar-se sem resposta. Um traço
um traço apenas
percorrendo a ilusão cheia de sol
de casas, nomes, vozes mortas.
António olha de novo indistintamente
– o mínimo movimento seria decerto o fim.
CESÁRIO REVISITADO
Um armário, quando se abre, faz sair
de qualquer prateleira sonetos ou memórias.
E então é assim: deverá dizer-se infância?
Ou burguesa dengosa? Ou repolhos franceses?
Ou manjericão, que alinda as estrofes várias?
A palavra é, como se sabe, inútil
se pelo meio perdemos anos ou dedos impacientes
pondo-se em tudo: sentimentos nutridos
de coisas que encontramos ou buscamos achar
em seios parisienses ou vamos lá lisboetas
connosco em férias numa esplanada de manhã
ou seja em Carcavelos fumando o velho cigarro
ligeiramente a Sul da loja onde guardava
a memória dum Pai, a côdea manducada
no verdadeiro “Sentimento dum Ocidental”. Sim
moçoilas, saudáveis e prestantes
como nos louváveis alexandrinos
de bastante coleguia p’ra depois
do desmaio amoroso ou antes manuscrito
na Quinta se calhar de Linda-a-Pastora
que é recanto onde laranjas bem se encontram
como versos roubados e que logo
após se recomendam aos fregueses
do poema próprio ou alheio. Indiferente substância
desta e doutras
comerciais casas. O vate
procura em diversos estancos sua matéria
de viver ou morrer com chapéu na cabeça
e exegetas ao lado, perna fina
de escrita ou surrobeca nacionais. Peixe pôdre
afinal e rimas inglesas bem ferradas
com algum leve foco de infecção
bem para dentro dos versos e das cores: azul
ou verde ou vice-versa (como na anedota)
onde deviam estar violeta
ou branco nocturno. E é bom dizer-se
– para quem saiba destas coisas singulares –
que o Mestre o querido Mestre o tal do corpo
setentrional e sapiente (um pouco
digamos ao jeito do António Nobre, que por pirraça
habitava caspité! outro Parnaso)
nos seus melhores momentos dorme agora
entre braçados de camélias
ou erros tipográficos
– espinafres, beldroegas, pimentões
que é esse o melhor prato da Poesia. E isso tem
uma tal melancolia, podeis crer
que a mostrar-se em Lisboa explodiria
e rimas que aparecessem lhes chamaria um figo.
POEMA
Nada sei sobre Lord Raleigh
Creio que nada sei sobre Lord Raleigh
O nome contém dois ou três pretextos de
enigma. Faz lembrar uma sala enorme
e, a seguir, outra dependência em ruínas
– ou não bem em ruínas, com móveis partidos
pelos cantos, alguns vasos quebrados com
plantas semi-apodrecidas de grandes folhas
verdes e alongadas – onde entrar seria
qualquer coisa entre a repugnância e a alegria
se acaso tal se desse enquanto lá ao longe
o apito dum combóio inundasse os campos
ora eivados de pedras, ora repletos de hortas
pouco antes do anoitecer.
Parece-me que li o nome em qualquer parte
provavelmente num velho livro sobre factos
marítimos (esta palavra intriga: haverá
algures no mar ilhas que ainda se não conheçam?).
Deixem
que eu olhe outra vez para isto
como se esta ou aquela palavra fosse apenas
qualquer matéria definitivamente fechada
seja a que distância for
ou a que altura se encontrar
a língua que falamos.
Lord Raleigh por exemplo num terraço virado
para a montanha
que pensamentos receios acasos
poderia entrever de relance?
Diz-se que não é truque colocar flores ardidas
– em civilizações adequadas –
sobre os olhos ou entre os dedos dos mortos.
Ele também puxaria as mangas para cima?
HOMENAGEM A JACK, O ESTRIPADOR
O teu sorriso fugaz ocupa o espaço
na aresta furtiva, no lance bem ritmado
e liga infinitamente
alma e sombra de
criatura.
Um deus em que tudo
é distante. Vivemos, bem verdade é
sempre a despedir-nos: basta apenas
exagerar um bocadinho
– e aí está ela, a rica melancolia
Com fato de cheviote? Talvez. Onde se lê futuro
deve ler-se presente: vísceras, uma árvore, o olhar
triunfante do anjo. O nosso ser é para nós
um vivo que a nostalgia transformou
gravemente em seus braços
calmos e perturbados.
Há centenas de bolsos. E navalhinhas mil. Cruzando
o ar uma loira, uma ruiva, uma morena
confundem as linhas e os meredianos.
Serenos são os séculos, como insectos
no limiar da oculta porta: e por dentro
cabeças abanando e um que outro odor
de um doce ovário atónito.
O viandante traz dos tempos velhas coisas
até que o som de um violino faz estalar
anos e falangetas. Saibamos
deixar-nos descansar, que o Mundo
morre para ser objecto
ou silêncio.
Entre as crustas da carne subsistem
antebraços, continentes, colhões – os desígnios
que nem tu – surpresa! – descascar poderias
em qualquer viela esconsa
Pobre animal liberto
e indiferente
eternamente exposto a fulgores e ilusões.
SUICIDA
a James Folson
Alguém me disse algures
que os poetas, por norma
– ao contrário das moscas –
são úteis comedores
de coisas. Chegaram a falar-me
em perfis e desníveis de calor
vulgares conforme os casos
químicos, matemáticos
e em objectos estranhos, como seja
um foguetão igual ao do Anjo Azarias, de mármore
radioactivo. Um outro meu amigo, que hoje está
num sítio intolerável, constelado
defendia a ideia talvez pura mas rara
que um objecto é útil só a partir da última
visão desvanecida
que afinal se prolonga silenciosamente na
memória registada das perguntas daqueles
que num momento sabem num momento não sabem
em que ponto é que está o espectro da matéria
da Terra, dos mares, do armário lembrado
e paralelo ao passado próximo. Significa isto
que bem vistas as coisas tanto faz ser um homem
na sua milésima multiplicação
ou nos graus de acidez que lhe consentem
como ser um retrato, uma chave, o tabaco
nas linhas de amor dos ascendentes, menos
por hábito que por vício.
Em astrofísica, quiçá em agricultura, o seis
é segundo parece igual ao quarenta e oito.
Um rosto noutro rosto, palavras retraçando
o solo junto à linha férrea
sobre a madeira nua
a pedra
o sofrimento.
Ganha-se a alma, perde-se uma perna
simples questão de vida, simples questão de média
aritmética. E há palavras, ainda
que descrevem tudo pelas razões mais torpes
como um papel guardando
casas e pavores. Como se a terra e a espádua devastada
– o que ao longe deixamos –
fosse o torpor sedento das cidades. Um azulejo, apenas
encantado. E nós ambos: demorados, perfeitos, derruídos.
Um beijo não é nada. Necessário é saber
que dele se desprendem foscos sinais correndo
por cima dos destroços: os relatos ouvidos
muitas horas depois
apesar da evidente vontade de acertar
nada diziam sobre os enormes e súbitos
clarões volteando sobre a seara a Oeste
do laranjal. O sol era, parece
uma substância branca extremamente dura.
Mas não nos cresça o nojo
daquilo que contamos: o sangue seco existe
sem cansaço ou surpresa. No lugar onde vamos
tomar o desjejum
sem remédio e sem ódio, sequer contentamento
os riscos nas paredes (os que mais te repugnam)
são o sossego fiel onde a loucura espera. Ninguém
ressuscita, não te iludas. Ninguém. Responde-lhes
com a matéria rubra da memória, o luzeiro
pacificado, a desolação orgulhosa e negra: aguarda a insaciável
realidade ausente. Que o fogo, o fogo imenso
o grande e imóvel fogo
noutro lugar oblíquo o haverás de achar.
Uma aranha, uma grade, um arbusto, uma rocha
agora já não contam.
O SOLITÁRIO
a Wilfred Wobber
Um esforço que faça
transformar os mortos
arquitectos dos dias
como as luas deslizantes
Nunca me deu
resultado: a treva era favo
igualzinho à febre
de árvores e pedras
e milhares de frases
se acumulavam
deslumbradas. Nunca escrever pude
coisas assim como “à tua janela, fatigado”
“ir aos cumes supremos”, “só, à margem da tarde”
ou, melhor ainda “o que nunca se vai sem nunca
ser visto”. Seria maldição? Mas para isso
era necessário
consentir-me momentos
como os semelhantes
ao “caminho subindo entre ervas altas” (Renoir)
ou a neblina em Setembro.
Parto muito surpreso. A polpa de meus ombros
atravessa a argila
que o tempo reencontra
purificada. Em todas as cidades
serei erva seca
sagrado como
mijo de gato.
Tinha tudo dentro. Antecipo-me
a afago
antes do mergulho
uma fina cabeça negra
que nunca me desiludiu.
PLANETARIUM
Quem sabe se nos faria falta
um vulto bexigoso. À beira-mar com
lembranças de Agosto, perfeitamente
inútil. Uma rua incaracterística, a silhueta
dum arbusto raquítico. E lembremos também
Copérnico, o que morava
en un lugar muy frio del Norte, cerca
del Mar Báltico, com sus
ojos sin duda azules que miraban
com frecuencia el cielo; furtivamente num
recanto da paisagem, o brusco cessar-fogo e
a velha gravura das casas uma a uma
destruídas: cerejeiras, murmúrios, os prestígios
do lume, a maré selvagem entre
os blocos de granito. Mortos
biologiquement recommandables. Como
apartar de mim posso este perfil, esta
árvore fantasma sur une butte legère au milieu
des vignes, o recorte exacto dum
mármore florido sobre a mesa: pequena
figura simbolizando Vénus ou Frineia? Agora
a areia entrou em mim, cinzenta
e queimada como os troncos das oliveiras na vertente sul
de Monforte: a horta e o mundo. E de ti, Hiroxima
edifício implacável, a mão nos prende
onde Marte pontificou: um rabisco
indecifrável. Transcrevo, com
minúcia: “ António S., cidadão de Estremoz, não grama
cabrões mas gosta de putas. Telefone número tal ”. Uma
parede lusitana como tu, Japão
jamais tiveste. Portugal, minha
retrete ligeiramente lírica, Lisboa
terra de lobos e galegos, macabra rota
onde África e Europa se contemplam! Nesse dia, Hiroxima
desse Verão abominável, repleto à mesma hora de
frutos e de escombros, um militar octogenário era
levado frente a testemunhas, algumas delas
antigos internados de Ravensbruck. Diria depois
maitre Isorni, seu defensor, que de facto no tribunal
“ o único ouvinte atento, do princípio ao fim
foi o Marechal”. Mas as
palavras transfiguram pouco a pouco
a sua penumbra própria e é
uma face tremulante que me cola pálpebras e retinas, um
lento arrepio de horror. Fevereiro, meu mês
febril e irrequieto. Já
Caius Julius Caesar olhara com espanto (se
espanto lhe era permitido) essa
curiosa estação de ventos e cadáveres. Crepuscular
um ponto, naquela hora
nocturna – o nascimento meu, o cogumelo
da bomba antes tombada, tortuosa
e exígua. Meus anos
paralelos aos anos de criança sem
lábios e pernas, modelos puros
geométricos modelos em
unidades de radio de la orbita
terrestre: claridad y sencillez. Rosas, crisântemos
me oferecerão um dia, numa manhã talvez
que quero distante – a porta lentamente entreaberta
para que alguém nos chame, de onde
nada se vê nem ouve. Hiroxima, a clara
presença de ameixas nos meus campos de Arronches
– quem te a não consentiu? Em latim se diz
quomodo vales, locução liminar de
desprezo de habitante para habitante, cidade
de losangos e presságios: doce cidade
inteiramente ardida.
Que ninguém se debruce
intensamente sobre a metamorfose
des couleurs: móveis e
tecidos luminosos, tudo o que está
sur le blanc ciré des murs, a sua
subtil e fresca agonia. As madeiras da sala, as
recordações: Ana, Manuela, Inês e ainda
o escalpo de um velho vulto
abatido entre a cozinha e a sala de jantar. Mas isso
foi há muito, agora
nem amor nos socorre, pedra arcaica
sobre a cómoda que um tio louco nos doou. A ti
Hiroxima me encomendo. Alma e vela
barco veloz, os rostos pouco a pouco
voando, cinza e carne funérea. No
Luxemburgo de repente lembrei
imagens e ladaínhas: em Portalegre vi
o filme interrompido, mon amour, por assobios
gargalhadas, traques e
um olho deitado abaixo ao parceiro do lado – razão
minha de assim seguir andando livre e altivo
pelas ruas de tantos anos.
Sim, existe
a originalidade lusa na tradição canalha: touros
de lide de bom peso, figuras de Le Nain, quando
o entardecer da plaza cai na nossa
cabeça: pensáveis vós, portuguesinhos, que tínheis
os melhores matadores? Mas agora
este nojo que conservo no peito é como um
pássaro apodrecido – e todavia
tanto pássaro que existe, do mocho ao bico-grosso
do pintassilgo verde ao tentilhão – é, digamos, um verme
americano. Um verme de Oriente e Ocidente. Copérnico dissera
que podia prescindir dos cinco círculos. Amor
façamos-lhe a vontade. Na arena afinal luzem no sangue
bandarilhas e estrelas. Quando
ouvirei outra vez a tua voz, a sombra
dum ciclo de minuto a minuto abandonado
sucesión de los dias y las noches
enigma que se alcança
por uma virilha, uma anca, uma
côxa lambida?
ENVIO
O que mais surpreende não é isso
É a grande junção de objectos que
de repente nos fazem só sorrir:
um garganteio lá pelas onze da manhã
assim como quem não quer a coisa.
(Há, naturalmente, muitos quilos de remorso
mas vem a brisa e zut! apaga tudo).
Musicazinhas – são só p’ra disfarçar
que a história (toda a estória) é bem diferente
– a paisagem perdida ( para sempre)
o suspiro (destemido) que é só vírgula
viajando p’los pulmões, p’lo coração
entre várias cidades (sem horário).
À rasca (dizemos entredentes) mesmo
à rasca
como quem nem poema tem (nem calças)
após certeira fuga p’los corredores
– colhão em baixo, colhão em cima –
enquanto lá no céu o Sol percorre
os signos (contra a Lua) do Zodíaco
a traquitana de nuvens e países
onde a trampa só serve para adubo
de belíssimas tardes de leitura
amena ou inquietante.
(Aqui falta qualquer coisa vegetal
– uma couve, uma rosa, um sentimento –
qualquer deles suscitador de nostalgia
para dar ao cenário um ar perplexo
de grande ocultação de natureza
muito terna e perfeita
nas partes baixas da versalhada). E assim
como se tudo tivesse sido um escaldão
me recolho reconduzo às profanadas
vulgares moradas da infância
com seus truques e seus
minutos que já são só silhueta
de momentos ocultos
em divãs e em cozinhas, em quintais
onde um poente e um nascente
(fosse manhã ou noite)
eram o perfume cálido ou a figura
que umas vezes p’ra dentro outras p’ra fora
esvoaça docemente p’ró depois
de tudo o que jamais se escreverá.
TABLEAUX
I
Estão os dois sentados e olham pela janela
quase sacada. Sabe-se que ao longe haverá árvores
pequenas poças de água entre os arbustos, algumas
pedras caprichosamente dispostas. Tratar-se-á dum
cenário? O que um tem a dizer: “Saiba, senhor Pessoa
que me lembro confusamente de artimanhas e coisas realmente
vergonhosas, embora tudo isso se misture com pedaços de pa-
lavras capazes de redimir os silêncios consentidos”. Respos_
ta: “Livre-se do habitual, deixe passar o tempo. Omnia in uno.
Lege, lege, lege, relege, ora, labora et invenies”. O que diz
o outro, antes de passarmos a coisas mais directas: “Se é um
fingidor, di-lo enquanto poeta. Portanto, não é um fingidor, dado
que tal asserção é fingimento – o sinal do infinito é como uma
fita de Moebius. Use enquanto estiver fresco”. Resposta:” Não sei
ama, onde era. Nunca o saberei. Sei que era Primavera. E o jar-
dim do Rei…”. Pergunta, ou antes, afirmação dupla: ”Se é poeta,
é para queimar. Se é poeta, sirva-se dele como pisa papéis”. A-
firmação do segundo, ou antes, pergunta simulada:” Você não é su-
ficientemente rápido. Cuidado com as sombras das casas que ro-
deiam as pequenas baías, de noite ou no pino do Verão”. Respos-
ta rápida, posto que sussurrante: “É no orvalho que as vilas se
desfazem. Aldebaran quatro pontos. Espectro astral desenrolado
na direcção Norte-Noroeste. Outros morrem. A verdade…”. Per-
gunta entrecortada, ou antes: cortante, um vozeirão como de al-
guém à beira de rebentar: “Dirija-se a Sírius oito. Você só tem
direito a uma secretária na Rua dos Douradores (consultar mapa da
cidade de Lisboa, para melhor referenciação) – atenção às flores
dispostas sobre o velho aparador de madeira envernizada”.
Durante vários minutos mais nada se ouve. Contudo, umas figuras
esfumadas passam lentamente, espalhando um ténue luzeiro. Ruídos
confusos, como de cadeiras partindo-se em cabeças ou cascas de
lagostins quebradas pelos dentes vorazes de comensais numa pen-
são da Baixa Lisboeta.
II
Os mesmos de antes. O primeiro usa agora fato completo e chapéu
de funcionário de Câmara Municipal (um ar de medo ou de cobardia,
mas é apenas simulação). O segundo anda lentamente de um lado
para o outro, como se estivesse com dores de dentes. Pergunta:
“Octavio Paz nunca será criado de café na Brasileira. Hoje ser-
vem-se da poesia para esmagar a poesia. Qual a medida exacta do
amplexo vital do engenheiro Álvaro de Campos?”. Resposta: “De al_
go fui concebido/amigos/De mim vos digo/o certo e o inútil/Como
água lustral/desordenada/em vilas mexicanas ou/andinas”. Pergun-
ta: “Como se atreve? O revelado não é paralelo, nem igual, ao
desocultado. Onde se encontra Christian Rosencreutz? ”. Resposta
lenta: “Certamente que não/em Almada, Montijo ou Durban(South A-
frica)”. Pergunta, sinistra ou emoliente: “Curve já para Vega. A-
guente no transferidor beta seis o ruído de uma torneira a pin-
gar num quarto de solteiro. Sabe o que fazer agora? “. Resposta:
“Querida menina: provavelmente feliz. Talvez mãe. Porque não o
haveria de ser? Uma chávena vale pelo que vale.”. Pergunta, que
poderá funcionar como epílogo: ”Muerte, muerte, onde está tua vi-
tória? Mudem-no p’rós Jerónimos e não se fale mais nisto. Agora
em vôo rasante para Cisne ou Lira trinta e cinco”.
A HOLDERLIN
I
“Há demasiada solenidade nas palavras.
Não sei…Algo que sobra. Como se além do Mundo
os anos se erguessem um a um.
Diz-se que tudo é frágil: uma forma
de caminhar nas cidades. Os animais esquecem
o seu lugar de luto.
Perguntas quem as fez? Se tudo é só
um espaço eternamente repetido, melhor fôra
que houvesse luz e medo.
Outros os disseram: as pessoas crescem
sem razão. Entre arbustos e ruas
antiquíssimas.
Não nos lembremos, pois. O esquecimento
renova-se e suspende-se. É muito cedo ainda
para morrer.”
II
Imagino o poeta nas ruas de Weimar: o rosto
concentrado, com sua beleza tão falada, os
braços paralelos ao corpo, umas sobras da ab_
soluta pureza da infância circundando-o.
Imagino-o nos parques, tentando
esquecer quanto o magoava ser perceptor
de filhos de gente rica: não pelas crianças
mas porque como criança exilada (como dizia
Zweig) num horizonte estranho, a melodia de
um paraíso fechado era (seria) demais. Holderlin
era triste, conforme
apreciação geral. Melhor dizendo, conforme
concordes diferentes homens da pena. Por momentos
entretenho-me a imaginar o adolescente
Holderlin num jogo de basquetebol num qualquer
pavilhão espanhol, inglês, americano. E imagino
o Poeta olhando pela televisão a reportagem
do lançamento de um prototipo Gemini, ou ainda
um filme de Manckievicz, Welles, Kubrik.
E a beber laranjada na tasca do Zé Maria, na
estrada da volta à Serra, em Portalegre. Quem
lembraria então a tristeza? Depois de definitivamente
doido, Holderlin recebia (revelação ?) os
seus raros visitantes com expressões não de todo
esquisitas: “Sua Santidade”, “Vossa Alteza”,
“Senhor Comendador”. Recuso-me – reparem bem –
recuso-me a ver nisso menos sabedoria. O Poeta
sabe da poda mais qu’ó que se pensa. Todos
temos nosso punhal, nossa melodia, nosso
entusiasmo
Como bispos e reis.
Os restos dos meus dias
os empresto ao Poeta, de aqui
para lá
como a um querido amigo se dão cinquenta paus(e pedras).
POEMA
Foi bem longe, em Arvelaar, que tudo achei
em Março, entre vinhedos, junto ao rio.
Mas a verdade é que
nunca estive, meus senhores, na Escandinávia
nem sequer em São Marcos do Campo
ou perto da pedreira que Cézanne
pintou entre gemidos de atenção.
De modo que
descobri ponto e vírgula sobre os telhados de Viena
onde nunca pus também sequer um dedo
mas cuja silhueta me perturba
como se as paredes duma casa derrocada
me deixassem nos olhos memória e dúvida.
Os mapas, as palmas da mão sobre o papel
– ou sobre o tampo frio duma bancada –
têm, claro está, um desconforto
que muito bem lhes quadra
E por isso erguemos estrofe e mistério
a escrita entre vivos e mortos
(ou apenas, vamos lá, papel e tinta)
ao longe, no horizonte sobre o mar
que nós mesmos pintamos agilmente
com notícias fresquinhas da noss’alma
entre as dez e o meio-dia.
U L I S S E S
I
A minha saudade, disse o velho, é como um sonho
e o meu sonho, por seu turno, faz aparecer o vento.
Nos meus antigos rastos há um vestígio que não reconheço
de coisas que toquei ao acaso e que eram simples como uma planta
ressequida e posta junto ao meu leito
(Leito onde não repousei
onde eram exíguas as presenças da morte
onde havia pássaros como em gaiolas familiares
com estranhos roteiros e silhuetas
tal qual os passos que alguém deixa
inscritos na terra húmida
ou nos ladrilhos do chão duma casa devastada).
No primeiro andar daquele prédio além
sente-se tenuemente um vago odor de corpos
de gente vestida como para uma festa
que não chegará nunca (bonecos de porcelana quebrados
e cobertos de pó, ao lado
de um copo sujo de café) – assim o velho, agora definitivamente desperto
continuou, como se as palavras existissem –
O fogo e o suor geram nas suas entranhas o momento
de andar por estas ruas como por país conquistado.
O orvalho é como uma gota de vinho sobre o tampo da mesa
e não há por detrás nem espírito nem melancolia. Era já noite quando alguém
andrajoso foi pé ante pé junto da porta
a segunda porta, onde os retratos reluzem
entre os breves fulgores da aurora.
II
Abre-te ao meu desgosto, acolhe
em tuas mãos sarcasmo e incerteza. É necessário
saber que o horizonte nestas montras
é o mesmo que paira sobre esqueletos e corpos vivos
– o horizonte impreciso aonde o sol
traça como que a linha já desfeita
dum rosto, frutos, mistérios. Que esta manhã, ao menos
oferte a quem a busca
outras recordações.
O vento está em ti como um soluço
As ramadas das árvores, no parque
são como a geometria que esquecêmos
de diferentes lugares, de quartos que habitámos
e que vivem em nós como sementes
crescendo no negrume. Ficaremos aqui
nas veredas percorridas em silêncio
olhando ao longe pinhais e nuvens errantes
retocadas a lápis, vagamente
como laranjais ao crepúsculo
E mil bocas serão a nossa boca
além do muro de pedra onde a nossa mão repousou
ou apenas ficou por um minuto
como dedos dobrados
sobre amarfanhados tecidos. Como a escrita
de alguém já morto já transformado em nome. Ninguém
semeou o trigo que comeste
o pão já ressequido, já esquecido
em momentos de febre ou de amargura
em horas abandonadas, sobrepostas
e em repouso e de novo abandonadas
– imagem que incansavelmente se procura
em pessoas e coisas, em instantes
perdidos para sempre. Refaz de novo o tempo
que humildemente foi
raiz, montanha, o vácuo.
III
Convosco se divide não apenas a alegria
mas também o que perdura em quanto se acha
e é pequeno ou talvez iluminado –
a fruta devorada em tempo vário
ou apenas tabaco, fina ardósia
da memória deposta em estranhos dias
alheias algibeiras. Chorando
ora na manhã, ora na noite
(a noite e a manhã palavras
que nada dizem, nada significam
entre ilha e ilha
onde as flores de acanto equivalem perfumes mais terrenos
Maderas del Oriente brise de soie palmolive)
gemendo
se não vinha a frase mais certeira
– um tanto ao norte um tanto ao sul –
do teu para o meu rosto; mansamente
ali rejuvenesce a nossa voz
Sob os ramos da casa, junto à triste
lembrança olhada a medo, mal rompera
a luz cruzada na colina.
Mãe
ou pai –
em todo o caso pessoas que não esquecem
agora que sussurra contra o leme
este vago Oceano –
iria ser, de brancos cabelos tecendo
ora a ternura ora um fino tédio. Garatujas
numa pedra ou numa parede suja
Momentos que gravaram dentro em nós
se este afinal dizer não é algo excessivo
na saleta em penumbra ante as imagens que dançam
pranto, riso, ciúme ou fria chuva.
IV
Esta foi a casa que sempre procurei
Nela coloquei minha memória, os livros, duas camisas
velhas Nela irei aguardar os símbolos zodiacais
visitas de família, um gato. Sem veredas em torno
– sem vento, inda p’ra mais, que a vela enfune –
acharei no Inverno seu perfil
de manhã solitária, enevoada
pela figura cujos passos soam
como que pressentidos. Aqui e ali porei
resíduos de conversas, a sombra da mão
dum cadáver que vi na infância – primeiro cadáver
como uma ferida fumegante, corpo morto farol
de incontáveis navegações –
tronco ou cabeça, sovaco, perna, pé
que nunca pude esquecer
E luzes, luzes como reflexos numa janela fechada
( no páteo, entre os cavalos de Heliodoro
Manuel da Silva Pericão os lençóis ondulavam
porque era sua Mãe estalajadeira
também servia refeições para fora)
solene, tumultuosa, às vezes aberta
para as meninas verem a procissão
dos que a Creta voltavam os que aprendiam a morrer
quem sabe por vezes numa auto-estrada
E será como um grande mundo atravessando os minutos
de par a par, perenemente reconhecível.
Aqui e ali um bicho um coelho, um retrato
de um primo montado num burro, um banco de madeira
perdido há muitos anos, e de repente o som dum objecto partindo-se
sozinho, e em meu redor nem sonhos nem temor.
No quarto mais sombrio, ou seja
mais tranquilo
entre a espada que protegeu as minhas treze viagens
e um boneco de pano oferta da TWA
um odor bem diferente: as velhas flores do quintal abandonado
e uma cadeira com cadernos em cima, um som de água repentino.
Vale dizer: aqueles que à beira do Outono morrem
têm, presume-se, a tarefa facilitada –
quietude, doce lembrança para anos de fome
mágoa, página tão profunda, tão maneirinha
silêncio, bússola para todos os instantes
Serenas companhias envolvendo a nossa fadiga
presenças que o nosso amor forçou a adormecer.
O pasmo há-de envolver as ramagens em torno das paredes
há-de, no tecto, brilhar qualquer coisa fugidia.
Há-de haver, ao largo de Corinto, um som de sino rachado.
A noite, a noite que é fria, que fende com seu lume profundo
há-de encontrar-me algures, com velhas palavras caindo
como flocos de neve ora azuis, ora vermelhos.
HENOCH
Rei dos Infernos, qual será teu canto?
Neste Café, há milhares de anos faço
a pergunta. O milagre primeiro, a intenção
de permanecer, atravessou-me como um limite
futuro, o peso infindo do encontro que não
escolhi. Ainda amo a noite em que o olhar de Deus
sobre mim lançou garras. Porque eu vi deus face
a face, como diz no dicionário – ou será no jornal?
Nesta praça, perna cruzada, anca matreira
vejo passar meus semelhantes, emergindo
do grande banho de óleo e oxigénio. A isto chamarei
estar de cu para o ar: minhas palavras desaparecidas
meu prematuro ser e ter – lançados na lata do lixo.
Comboios, iates, esfinges, necrotérios
que dizeis disto? E no entanto, quanto amava
o deserto e o vergel: eram intemporais
como a cólera original o veio a ser.
Na televisão
nem minha sombra
avança cambaleante. O lume divino
queimou-me tendões, fígado, sagacidade
e nem meus passos restam sobre a erva.
Um tostãozinho
para o pobre: sabei lá
que vos cuspo na mão. Se altos são os juízos
do Senhor
mais alto é meu desprezo quando estou de pau feito
para à latrina mandar o Eterno.
Deste Café onde me sento, fronte limpa
e serena
aguardo outros momentos sem qualquer transcendência.
Que me basta ser homem.
E os deuses que todos
para o caraças vão.
Bem me bastou o largo
espaço interstelar: dele a poesia guardo
como retrato de amante
ou de anjo (o filho que me ficou).
Quando deus regressar
para mais uma vez
deslumbrar o seu servo
cantar-lhe-ei das boas. Por enquanto
definitivamente
inclino-me somente sobre a terra.
LINHA
___________________
Que lhe faz lembrar esta linha?
A linha do horizonte
num aeroporto? A linha do mar
inclinado (vista dum barco a remos
por exemplo)?
E tem a certeza de que a linha não está direita?
Não crê que pode ser a sua linha vital
que perdeu peso dum lado?
Agora, por um momento
faça ondular a linha levemente: talvez fique parecida
como um além olhado por si quando em transtorno
amoroso, ou
intensa alegria (gargalhante). Repare agora, obrigando
a linha a circular em torno de si
– é como um planeta em translação! Sirva-se da linha, quebrada
ou inteira, para construir palavras. Parta a linha
aos bocadinhos e plante com emoção árvores numa floresta, o
lombo sinuoso dum
gato negro, barracas numa praia e, torcendo bem, o antebraço
de alguém a quem ame. E a cave duma casa assombrada. E o
vento antigo numa rua da sua infância.
Depois, deixe que a linha caia, redonda
a seus pés. Ficará então como
um ponto final, ou
uma pedra negra e infinita
para todos os séculos sobre a Terra.
PONTO .
Olhe bem
para este ponto: se o fizer
por três minutos
ficará com os olhos tridimensionais. Ah (dirá você)
este é o ponto de não-retorno (uma expressão
que a nada obriga, excepto
fadistas, tetrarcas, agricultores). Vou-lhe então contar
agora o segredo de tudo isto: o ponto explode
intermitentemente e foi daí
que tudo surgiu: obsessões, estrelas, autocarros
como um pontinho ao longe na virtual do mundos todos.
Se levar
o ponto no bolso e entrar numa retrete
esconsa dum lugar nos arredores
cuide-se de que não verá no espelho do toilette
surgir figuras singulares
estarrecedoras. Já constou, algures
que certa vez foi encontrado num salão
duma casa de merecimento
um ponto absolutamente morto e que tal forjou
impérios e continentes. Ou então
no escuro da rua
palpitando no ar
uma leve chama
enevoada. Aqui entre nós
este ponto posto sobre o coração provoca
ligeiros terramotos na memória daqueles
que, vivos ou falecidos, o ignoraram
antes de ele se transformar numa garça real
voando ao lusco-fusco sobre torres e telhados.
Deitado
num copo de refresco funciona como
um animal pavoroso: o grito alastra
entre paredes deslocando-se
sobre a nossa cabeça, enquanto
pelo soalho os braços vão formando
quadriláteros batendo nas cadeiras, nos objectos
que alguém (os filhos, a cunhada, uma visita)
ali deixou cair e no chão ficam ternamente
como presenças atestando que o destino
tem muito que se lhe diga.
Um ponto
é um ponto e por isso
não se prive de com ele inventar locais
que conheceu em pequeno. Esmagado
moldado, traduzido
pode muito bem formar largos ou praças
de brinquedo (que as recordações
sempre nos pregam essa partida). E de noite
quando lá fora soar o sussurro que alguém
já descreveu como majestoso ou cancerígeno
(milagres, como se sabe, são comestíveis
ou então não valem mais que um caracol)
erga o ponto contra a luz da Lua: ele rebrilhará
palpitará por um fragmento de segundo
um pouco acima do rosto
e de súbito as imagens ficarão interditas
suspensas entre o sim e o talvez
como se a Terra e as suas árvores estivais
fossem nossas para sempre.
Use – não esqueça – o ponto
às vezes como pisa-papéis. Os poemas
sob um ponto – como aliás as facturas
definitivamente conservadas, que o relembram
dalguns jantares felizes com amigos distantes –
estimulam-se estranhamente ao seu contacto protector
mesmo em estado de papel
mesmo sem solução
mesmo jazendo ao longo duma imensa manhã.
As virtudes teologais dum ponto, ainda
um dia as contarei com maior pormenor
– não esquecendo o detalhe de que o ponto sobrevive
(e ora diminui, ora se expande
tal qual os pulmões de quem quer que seja)
sobrevive, dizia, não só a quem escreve
mas também a quem lê.
O POETA QUOTIDIANO
Um cigarro serve – encosta-se
ao nosso ombro, às nossas mãos: prepara
os tempos neutros da serenidade. Animais
conheço eu cujo nome é igualzinho
ao fumo. Se disser
meu amor, digo tudo o que sei
neste momento: o polo do teu joelho, a nuca
viva do teu ser mineral, a ausência
doutros dias nos membros
da velhice. Lembras-te
– eu sei que lembras –
do sinal errante sobre a cama, antes
que o universo aflito caísse sobre nós? Roupa
lume deposto nas esquinas da cidade. Vou
comparando as coisas com as coisas: essa cadeira
obscena donde às vezes partiam as imagens antigas
do meu mundo: a infância dos homens, os objectos
ausentes. Mas nada há que não cesse. Mas nada há que não
parta. Mesmo
a película branca retida nos meus lábios.
Um dia voltarei. Com chuvas e com ritmos
crâneos, angústias, estrelas
unhas, portas, presenças
eternamente frias
(e, por frias, dentro
de qualquer consideração
útil ou inútil)
silêncios, de novo, brandidos como dejectos
e muitos beijos que nunca consegui destruir
e os quadrados de luz desenhados pela vela
na mesa onde um prato persiste
em ser para nós a alegria do que fomos
no meu desejo crivado (haja o que houver!)
de sol e morte e medo, de esperança e agonia.
Além de nós há uma voz oculta
há um mar – qual o seu nome? – sereno e intransponível
como se fosse desenho simulado
e o que nunca tivemos, dentro do esquecimento
e a grande visão murmurante e ansiosa
da vida a nós alheia.
E assim te digo
e te peço
para que não haja nem choro nem coisas escritas
para que não haja saudade, p’ra que não cresça o escuro
para que não nos fique nem espanto nem quimera
para que sejas tudo
para que sejas breve
para que nos teus dedos o fogo se acumule
para que não te percas
para que não te prendas
ao milagre – tão íntimo! – da rosa e da tormenta
fuma-me, meu amor, qual um pressentimento
como um hausto de breu nos teus pulmões desertos.
O POETA E OS SETE PALMOS
Se isto fosse p’ra rir, eu ria agora
Fiquei rijo e deserto e bem deitado
mas não topei ainda o carão de Deus
contente e luminoso como quem vai ao circo.
Companheiros, já houve alguém que disse
que a Morte era uma chave: cá por mim estou
de nariz para o ar sem ver o horizonte
de que nunca me falaram sempre
e preciso de trocar com certa pressa
impulso por suspiro
gato por lebre
poema por amplexo
de virgem, de oceano, de tesoura, de verme.
Viva a Nossa Senhora dos penitentes negros
sinistra mãe total dos garrotados!
Despeguei-me da Terra sem tristeza sem raiva
sem combustível, como um satélite mudo: cagai
lá no destino, ou antes – no meio da praia
quando as vagas depõem no interior dos móveis
corações de metal, fotografias, flores
o espectro do silêncio quando se tem oito anos
idade, acreditai-me de quem não toca tambor.
Agora brilho mais do que brilhava antes
agora nunca mais irei ao futebol
agora tenho um pano envolvendo-me o peito
com uma frase escrita – que a leia quem quiser!
Vale mais este silêncio que a tesoura ou o verme
porque vêm e vão tranquilamente os séculos
porque vêm e vão sinistramente as aves
e nós seremos ainda postais, plumas e pedras
esvoaçando no espaço como satélites aos gritos.

Alguns destes poemas foram antes e depois dados a lume nas revistas: “A Cidade”, “Sol XXI”, “Callipole”, “Mele-International poetry letter” (Honolulu), “Albatroz” (Paris), “Revista La Outra” (México), “Botella del Náufrago”(Chile), “Decires” (Argentina) e no catalogo da Exposição Internacional “Surrealismo e Arte Fantástica” (Lisboa).
Assinalando os 10 anos do lançamento em Paris, na Galeria Lusófona (à Sorbonne), com a presença de Vincenzo Quillici e Maria Isabel Barreno, entre outros assistentes. E em Bruxelas, na Galeria du Parc, participado entre outros por Pierre Grenier e Maria Darmyn.
Nicolau Saião \ Biobibliografia sucinta
revista triplov
