
MANUEL RODRIGUES VAZ
Palestra lida aos 16 dias de Fevereiro de 2022, no Restaurante O Pote, em Lisboa, no âmbito do ciclo da Tertúlia à Margem
Remontam aos finais da década de 40 os meus encontros com a chamada 7ª Arte. Não, não estou errado. Foi mesmo antes dos anos 50, com os meus 5 anos, que o Melo de Moimenta, vastamente conhecido pelas suas aventuras mulherengas, aparecia na minha aldeia, Beira Valente, concelho de Moimenta da Beira, com a sua máquina de projeção de 16 mm e apresentava o que o nosso criado António Pestana, mais conhecido como o Lampo, anunciava, por um funil grande com que o meu pai enchia o tonel maior, que o povo da aldeia ia poder ver a vida de Cristo espetado num pau, além de outras coisas cómicas.
 Está claro que a visão destas maravilhas era um espetáculo que merecia ser visto, tanto como o encantamento dos bonecos de luz, como muito bem definiu o cinema o escritor almadense Romeu Correia. A confusão entre a representação e a realidade era tanta, que avisos para Jesus fugir e insultos aos carrascos eram a todo o momento e os lamentos, quando da crucificação, confundiam-se com as invetivas aos judeus, culpados de tudo isto, como não podia deixar de ser.
Está claro que a visão destas maravilhas era um espetáculo que merecia ser visto, tanto como o encantamento dos bonecos de luz, como muito bem definiu o cinema o escritor almadense Romeu Correia. A confusão entre a representação e a realidade era tanta, que avisos para Jesus fugir e insultos aos carrascos eram a todo o momento e os lamentos, quando da crucificação, confundiam-se com as invetivas aos judeus, culpados de tudo isto, como não podia deixar de ser.
Vale a pena lembrar que o célebre Melo que divulgava o cinema na região, foi belamente retratado num livro do pai do Pedro Abrunhosa, Octávio Abrunhosa, formado em Coimbra mas viria a fazer carreira no Porto, recentemente falecido.
Aos 16 anos vim viver para Almada, para frequentar a Escola do Magistério Primário de Lisboa, em Benfica, que agora dá pelo nome de Escola Superior de Educação. Um dos meus colegas mais chegados, o Luís Filipe Maia de Carvalho, era sócio do Cineclube Imagem, cujas sessões decorriam às 5ªas feiras no Jardim Cinema, que ficava na Av. Pedro Álvares Cabral, e que era dirigido pelo José Vaz Pereira, que foi um dos maiores críticos de cinema em Portugal.
Naturalmente, o Maia não descansou enquanto não me levou para sócio, e em breve estávamos, com um outro grupo, a fazer um filme em 8 mm, que se passava à volta da torre de Belém e com uma colega muito airosa de quem perdi completamente o rasto.
Todos os meses, na altura, era imprescindível ler a revista Filme, dirigida pelo Luís Andrade Pina, um situacionista que era, antes de mais, um homem honesto e um grande sabedor de coisas de cinema, que viria mais tarde a ser diretor da Cinemateca Portuguesa, cargo que desenvolveu com grande sentido de missão.
 Logo que cheguei a Luanda, em 1963, quis continuar a minha carreira cineclubística, mas cedo vi que não era possível. A direção do então Cineclube de Luanda era composta por pessoas ligadas à contestação do regime salazarista, nomeadamente o famoso escritor Luandino Vieira, na altura preso no Tarrafal, pelo que estava inativo. Mais tarde, já estava eu nos Comandos a cumprir o serviço militar, e, por proposta dos meus amigos médicos Eduardo Machado Saraiva, e do Amorim Cruz, ainda tentámos reatar a atividade do Cineclube de Luanda, mas o Fernando Estrela, secretário geral da Associação Comercial de Luanda, onde estava sediado, aconselhou-nos a não fazer ondas, porque a PIDE rondava e não havia que dar o flanco. Vem a talhe de foice informar que as associações comerciais e industriais que apareceram em Angola tiveram origem na Kuribeka, a principal loja maçónica que integrava as chamadas forças vivas da dita província.
Logo que cheguei a Luanda, em 1963, quis continuar a minha carreira cineclubística, mas cedo vi que não era possível. A direção do então Cineclube de Luanda era composta por pessoas ligadas à contestação do regime salazarista, nomeadamente o famoso escritor Luandino Vieira, na altura preso no Tarrafal, pelo que estava inativo. Mais tarde, já estava eu nos Comandos a cumprir o serviço militar, e, por proposta dos meus amigos médicos Eduardo Machado Saraiva, e do Amorim Cruz, ainda tentámos reatar a atividade do Cineclube de Luanda, mas o Fernando Estrela, secretário geral da Associação Comercial de Luanda, onde estava sediado, aconselhou-nos a não fazer ondas, porque a PIDE rondava e não havia que dar o flanco. Vem a talhe de foice informar que as associações comerciais e industriais que apareceram em Angola tiveram origem na Kuribeka, a principal loja maçónica que integrava as chamadas forças vivas da dita província.
De qualquer maneira, a minha conversa acabava por recorrer muito ao cinema, pelo que breve comecei a ser conhecido como cinéfilo inveterado, nomeadamente no grupo do Henrique Gabriel, do Golungo Alto, e do Zé Carioca, que viria a ser meu colega na TPA, não admirando, portanto, que o meu colega de Economia, o Virgílio Barbosa, me veio com uma conversa a informar que havia um tipo de Engenharia, o Miguel Anacoreta Correia, que estava a querer fundar um cineclube na Universidade de Luanda, como forma não só de promover a cultura na juventude universitária, mas também começar a criar os profissionais da futura televisão, e que estaria interessado em falar comigo.
Acabámos por fundar o Centro Universitário de Cinema de Luanda, CUCL, juntamente com o António Pinto de Carvalho, a minha agora vizinha Helena Antunes, o Koch Fritz, entre alguns outros. Foi uma experiência entusiasmante. Organizámos ciclos temáticos como um ciclo de Cinema Japonês, uma semana de Cinema Francês, em que apresentámos filmes proibidos em Portugal, e até um ciclo dedicado ao cinema mudo, para o qual escrevi o meu primeiro livro, O alvorecer do cinema.
Em 1970, o vespertino Diário de Luanda começou a ser reformulado completamente e viria a ser o primeiro jornal do chamado mundo português a ser impresso a cores. Como diretor executivo foi para lá desviado, por motivos familiares, – um divórcio – pelo seu padrinho, Marcelo Caetano, um jornalista do Diário de Notícias, José Manuel Pereira da Costa, pai da conhecida apresentadora Luísa Castelo Branco. O Pereira da Costa levou com ele a namorada Elsa, que viria a lançar com o pseudónimo de Bárbara, como cronista social, à boa maneira da Vera Lagoa, atingindo grande fama na Luanda de então e que ali viria a fazer carreira até há pouco tempo devido aos seus empreendimentos na restauração.
 De feição naturalmente direitista, o José Manuel Pereira da Costa não deixava de ter as suas ousadias e chegava a enfrentar inesperadamente o poder a quem devia obediência, porque o Diário de Luanda era mesmo da União Nacional. Imitando o Diário de Lisboa da época, que tinha lançado o Lauro António como crítico de cinema, contata o nosso CUCL para lhe arranjarmos um critico de cinema. O Miguel Anacoreta não tem dúvidas e diz-me: esta é uma oportunidade única, vai tu. E assim apareci a fazer crítica de cinema, pela primeira vez sistematicamente em Angola.
De feição naturalmente direitista, o José Manuel Pereira da Costa não deixava de ter as suas ousadias e chegava a enfrentar inesperadamente o poder a quem devia obediência, porque o Diário de Luanda era mesmo da União Nacional. Imitando o Diário de Lisboa da época, que tinha lançado o Lauro António como crítico de cinema, contata o nosso CUCL para lhe arranjarmos um critico de cinema. O Miguel Anacoreta não tem dúvidas e diz-me: esta é uma oportunidade única, vai tu. E assim apareci a fazer crítica de cinema, pela primeira vez sistematicamente em Angola.
Devo dizer, em aditamento, que o facto de ter começado a fazer crítica de cinema foi fundamental para a minha carreira profissional, pois, devido a ter ido trabalhar, durante dois meses, para Saurimo, Lunda, Angola, para colaborar na formação de professores, originou intervenções na imprensa a pedirem o meu regresso a Luanda, o que levou o Pereira da Costa a convidar-me para redator com um vencimento duplicado do que eu ganhava. Evidentemente, aceitei e, em menos de um ano, era promovido a subchefe de Redação.
Está claro que, ter começado a aparecer um tipo que ia dizendo a seu bel-prazer o que pensava dos filmes que iam correndo, não agradou sobremaneira às duas principais empresas de cinema, a Angola Filmes, que controlava 60 por cento das salas de espetáculos de Angola, e a Sulcine, que detinha o s esplêndidos cinemas esplanadas Miramar, Avis e Ngola. Depois de algumas pressões, que não resultaram, começaram por se acostumar e acabaram por pedir colaboração, não só na seleção de filmes, como em sugestões. Acabei por ficar à frente do Cinema Estúdio de Luanda, feito à imagem e semelhança do Cinema Estúdio, do Império, que a Angola Filmes também controlava, e que tinha sido construído aproveitando uma das esplanadas do Cinema Restauração, sala de 1600 lugares e que ainda albergava num grande sótão uma produtora de cinema, a Cinangola, cujo diretor e fundador foi o nosso contertuliano José Manuel Tocha.
Já agora convém dizer que o meu Cinema Estúdio era tão confortável, que acabou por albergar a Assembleia do Povo, isto é, o Parlamento Angolano até há dois anos.
Um dos problemas centrais do negócio do cinema era, claramente a questão da censura, pois os censores, quanto mais proibissem mais ganhavam, o que era fulcral nos livros, mas mesmo nisso nós ganhávamos aos, na altura, chamados metropolitanos. Eu conto, quando havia filmes que nós sabíamos problemáticos, eu era convocado à sala de visionamento com a função de meter conversa ao chefe dos censores, o Dr. Vasconcelos, mais conhecido como o Brilhantinas, que, por acaso tinha sido o meu examinador de Filosofia no Liceu Salvador Correia, em Luanda, pelo que filmes proibidos em Lisboa, acabavam por ser autorizados em Angola. Diga-se, de passagem, que a questão da censura continuou com o regime do MPLA, razão porque eu me recusei a pertencer a uma chamada Comissão de Controlo de Cinema. Quem aceitou, a substituir-me, foi o arquiteto Henrique Dinis da Gama, meu vizinho da Praceta José Anchieta, que viria mais tarde a enveredar pela carreira diplomática em Portugal, com quem viria a ter sérias dissensões. Como gostava de ver filmes ousados, sugeria à Sulcine a vinda de determinados filmes nessas condições, para o que convocava o seu grupo de amigos que gozavam com o privilégio da sua visualização, o que não impedia de vetar depois a sua exibição para o público em geral.
Tendo eu denunciado tal situação na Rádio Nacional de Angola, como atitude que eu considerava menos própria, o meu colega Aldemiro Vaz da Conceição, que foi aluno da minha falecida esposa, Helena Justino, e durante muitos anos foi o assessor principal do presidente José Eduardo Santos, foi-lhe transmitir a denúncia, o que me valeu ser chamado à Direção Geral de Segurança, onde, sem medo, confessei: – Sim, acho isso mal e considero que é uma atitude desonesta e continuo a dizer que é uma hipocrisia.
Em 1974, depois de ter andado de despedimento em despedimento, devido ao 25 de Abril, que eu continuo a querer sempre, pese embora os embaraços que me causou, acabo por me juntar ao grupo fundador da TPA, com o Luandino Vieira, o Orlando Rodrigues, o João Van-Dúnem, entre alguns outros. Depois de uma passagem de dois anos pela chefia de Redação, fui depois para adjunto do Luandino na Direção de Programas, mas, conhecendo o Luandino o meu passado como crítico de cinema, impôs-me fazer o programa Cinema em Positivo e Negativo, que aguentei até à minha saída, em 1977, por causa da intentona do 27 de Maio, saída por motivos muito nublosos.
Como veem, a minha ligação ao cinema é inelutável. Na Rádio Nacional de Angola, onde estive até 1981, embora tivesse o cargo de Chefe do Serviço Internacional, uma colega que me conhecia das lides do cinema, a Elisabeth, coordenadora da Discoteca, sugeriu ao diretor de então, o Rui da Silva Carvalho, para que eu fizesse um programa específico, A Música no Cinema. Foi uma experiência fundamental, onde dei asas às minhas ideias e à minha criatividade. Tanto fiz, que em breve, por causa do programa sobre A Laranja Mecânica, do Stanley Kubrik, veio um aviso: estava a ser muito subversivo. E acabou o programa.
 Regressei a Portugal em Junho de 1981. O meu antigo colega e amigo das lides jornalísticas de Luanda, Martinho de Castro, era então o chefe de Redação do semanário O País. Contra a minha vontade, aconselha-me e ingressar no jornal até arranjar coisa melhor. Foi assim que, passados alguns meses, tendo conhecido num fim de semana, na Torralta, o chefe de Redação do Correio da Manhã, Agostinho de Azevedo, este convida-me para secretário de redação, o que eu logo aceitei, porque o ordenado era bem sensivelmente mais vantajoso.
Regressei a Portugal em Junho de 1981. O meu antigo colega e amigo das lides jornalísticas de Luanda, Martinho de Castro, era então o chefe de Redação do semanário O País. Contra a minha vontade, aconselha-me e ingressar no jornal até arranjar coisa melhor. Foi assim que, passados alguns meses, tendo conhecido num fim de semana, na Torralta, o chefe de Redação do Correio da Manhã, Agostinho de Azevedo, este convida-me para secretário de redação, o que eu logo aceitei, porque o ordenado era bem sensivelmente mais vantajoso.
Já neste cargo, tive um convite da Alitália para visitar Roma e toda a região envolvente. Aproveitei o convite e calhou contatar uma amiga angolana a viver em Roma, de quem eu tinha sido chefe na Rádio Nacional de Angola, a Ana Filomena, que eu conhecia afinal desde menina, quando viajei para Luanda, em 1963, no paquete Vera Cruz.
A Ana convidou-me logo para prolongar a estada em Roma, oferecendo-se como guia e como hospedeira.
Logo que acabou oficialmente o convite da Alitália, saí do hotel, mas não fui logo para o 43 da Via Catarina Fieschi, pois a Ana, como boa e desenrascada angolana, já estava a fazer teatro na conceituada sala do Colosseum, pelo que tive de esperar até à 1 hora da manhã. No dia anterior tinha andado a tentar encontrar a célebre Fonte de Trevi, mas, como era uma zona labiríntica por excelência, não atinei com a localização. Mas, naquela noite, a deambular simplesmente para fazer tempo, chego a uma praça funda, cheia de gente e quase na penumbra e num silêncio arrepiante. Era uma cena realmente feliniana. Dum momento para o outro, acendem-se todas as luzes e era um barulho de fugir. Depressa percebo que estou na almejada Fonte de Trevi. Sigo em frente e pergunto à primeira pessoa que vejo a olhar na minha direção: O que se passa aqui?
Naturalmente, e com a maior das simplicidades, ela diz-me: – Estamos a fazer um filme para a televisão. E eu: – Ah, mas é a Mónica Vitti!!! Sim. E depois?
 Lembrei-me de contar as minhas estórias dos encontros com a 7ª Arte por causa do seu desaparecimento recente. Sem se dar ares de vedetismo e de estrela, Monica Vitti foi uma atriz completa e merece ser recordada. Não apenas pelo seu papel nos filmes do que foi seu marido, o grande realizador Michelangelo Antonioni, que explorou de vários modos a incomunicabilidade no mundo moderno, mas também na versatilidade que demonstrou a fazer comédia e em especial num célebre filme do grande Joseph Losey, Modesty Blaise.
Lembrei-me de contar as minhas estórias dos encontros com a 7ª Arte por causa do seu desaparecimento recente. Sem se dar ares de vedetismo e de estrela, Monica Vitti foi uma atriz completa e merece ser recordada. Não apenas pelo seu papel nos filmes do que foi seu marido, o grande realizador Michelangelo Antonioni, que explorou de vários modos a incomunicabilidade no mundo moderno, mas também na versatilidade que demonstrou a fazer comédia e em especial num célebre filme do grande Joseph Losey, Modesty Blaise.
Mas não foi só a Mónica Vitti que encontrei nas minhas deambulações. Em 1968, estando eu num acampamento militar no Úcua, em Angola, em plena Zona de Intervenção Norte, como era chamada toda a zona a norte do Ambriz, resolvi aproveitar a ida dos serviços de manutenção e ir até ao Caxito para saborear um bife com ovo a cavalo – um manjar naquela altura, depois de dias a ração de combate. O Unimog deixou-nos perto do restaurante e lobrigo perto um tipo alto em passo estugado, que vinha em sentido contrário. De súbito, reconheço-o e dirijo-me a ele: É o Alberto Sordi? Sim. Olá! E seguiu. Ainda não tinha chegado ao restaurante e agora vejo uma loura espampanante, cabelos ao vento, desafogada. Não lhe fui perguntar nada. Era a Elga Anderson.
 Como estava há dias no acampamento e sem jornais, portanto, eu estava fora do mundo. Chegado a Luanda, fiquei logo a saber: o Sordi estava a fazer um filme dirigido pelo Ettore Scola com um elenco que integrava pesos pesados como Bernard Blier e Nino Manfredi, cujo título original era Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? e em português Um italiano em África, que só foi mostrado em Portugal depois do 25 de Abril, enquanto a Elga Anderson protagonizava, com Robert Wood, o filme Capitaine Singrid, com realização de Jean Leduc, que fez depois uma série de documentários para o governo português.
Como estava há dias no acampamento e sem jornais, portanto, eu estava fora do mundo. Chegado a Luanda, fiquei logo a saber: o Sordi estava a fazer um filme dirigido pelo Ettore Scola com um elenco que integrava pesos pesados como Bernard Blier e Nino Manfredi, cujo título original era Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? e em português Um italiano em África, que só foi mostrado em Portugal depois do 25 de Abril, enquanto a Elga Anderson protagonizava, com Robert Wood, o filme Capitaine Singrid, com realização de Jean Leduc, que fez depois uma série de documentários para o governo português.
De uma maneira geral, o corrupio de cineastas franceses ampliou-se a seguir a 1970, razão porque eu conheci, entre outros, o Claude Lelouch, realizador de Um homem e uma mulher e Aventura é aventura, e Dominique De Roux, escritor, espião, diretor da célebre coleção 10/18, autor do livro O Quinto Império, que também era cineasta e apareceu em 1974 em Luanda, a trabalhar para a UNITA. Já agora vale a pena citar um produtor de origem espanhola, o Filipe de Solms, que encontrei várias vezes em Luanda, onde realizou diversos documentários para o governo português.
 Está claro que também tive de lidar com realizadores e atores portugueses. Estou a lembrar-me que fui acompanhante/assistente do ator António Vilar, grande chato que tinha sido uma antiga vedeta do cinema português e espanhol e que chegou a contracenar com a Brigittte Bardot, em A mulher e o fantoche, que foi a Luanda apresentar a sua última realização O Sinal Vermelho, que era uma grande xaropada. Interessante foi a minha relação com o Artur Semedo, que me obrigou, durante os meses que esteve em Luanda, a ir almoçar com ele o cozido à portuguesa no Hotel Continental, para lhe fazer o resumo da atualidade internacional da semana.
Está claro que também tive de lidar com realizadores e atores portugueses. Estou a lembrar-me que fui acompanhante/assistente do ator António Vilar, grande chato que tinha sido uma antiga vedeta do cinema português e espanhol e que chegou a contracenar com a Brigittte Bardot, em A mulher e o fantoche, que foi a Luanda apresentar a sua última realização O Sinal Vermelho, que era uma grande xaropada. Interessante foi a minha relação com o Artur Semedo, que me obrigou, durante os meses que esteve em Luanda, a ir almoçar com ele o cozido à portuguesa no Hotel Continental, para lhe fazer o resumo da atualidade internacional da semana.
O Artur Semedo foi a Luanda em 1973 para fazer o filme Burgueses, Malteses e às Vezes e levou o crítico de cinema Eduardo Geada, que viria mais tarde a experimentar a realização, com filmes importantes como A Santa Aliança e Passagem por Lisboa, para desenvolver o argumento de que era autor. O financiamento demorou umas semanas a mais do que o esperado, pelo que acabou por integrar uma companhia de teatro com a atriz Delfina Cruz, com quem repôs no Teatro Nacional a peça Meu amor é traiçoeiro, que o Artur Semedo já tinha feito com a Laura Alves, em Portugal. Aproveitaram o Eduardo Geada como ponto, embora o Semedo não lhe ligasse nada, porque cada sessão era uma sessão única com as buchas de que se lembrava de momento, pelo que havia espetadores que iam a todas as sessões. O êxito foi tal, que o dono da companhia de teatro, marido da Delfina, que nós chamávamos o coronel sem cabeça, pois tinha sido alvo de uma granada na guerra e não regulava muito bem, teve de contratar o ator Mário Pereira, do Teatro Nacional D. Maria, para fazer mais uns meses. Este teve de regressar, devido a contratos já assumidos, mas a peça continuou, por último, com o radialista Francisco Simmons, que chegou depois a ser Chefe de reportagem na Rádio Nacional de Angola.
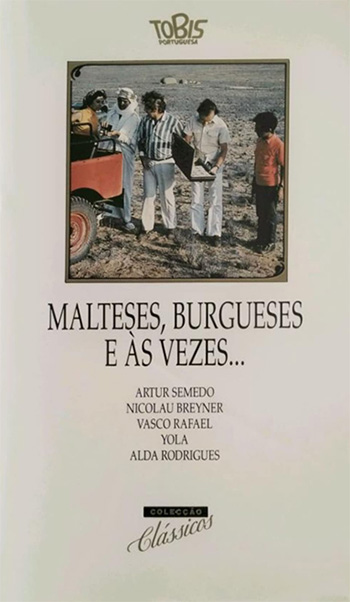 Em 1972, trabalhava eu na revista de Cultura e Espetáculos Noite e Dia, fui convidado para assistir a nossa grande diva da canção, Amália Rodrigues, que atuou várias noites no Cinema Restauração com a sala completamente esgotada. Foi uma experiência esgotante, pois a Amália disse-me logo na primeira noite que não podia atuar sem estar primeiro a meio pau e nunca bebia sozinha, portanto tinha de a acompanhar, nos gins.
Em 1972, trabalhava eu na revista de Cultura e Espetáculos Noite e Dia, fui convidado para assistir a nossa grande diva da canção, Amália Rodrigues, que atuou várias noites no Cinema Restauração com a sala completamente esgotada. Foi uma experiência esgotante, pois a Amália disse-me logo na primeira noite que não podia atuar sem estar primeiro a meio pau e nunca bebia sozinha, portanto tinha de a acompanhar, nos gins.
Dos realizadores portugueses lembro-me bem do Fonseca e Costa, que foi a Luanda apresentar o seu Recado, que tendo-me pedido emprestado um curioso volume do cineasta angolano António Faria, Introdução ao Cinema Angolano, acabou por nunca mo devolver. E vale a pena ainda recordar o realizador Quirino Simões, que fez um curioso A Caçada do Malhadeiro, além de Angola na guerra e no Progresso, mero documentário de propaganda.
Será bom lembrar os cineastas angolanos que conheci, nomeadamente o António de Souza, que fez um interessante documentário, Esplendor Selvagem, onde havia uma nítida autenticidade que já era o início do longo caminho de construção da unidade nacional, antes da independência, e o Rui de Vasconcelos, realizador inimitável de filmes de publicidade, que aguentou heroicamente a sua produtora RVC, com um denodo sem igual. E convém não esquecer o António Escudero, que fez Angola, terra do passado e do futuro, e Orlando Fortunato, que conseguiu com tanta perseverança como resiliência acabar o célebre O Comboio da Canhoca, que merecia melhor receção do que a que teve.
E antes de citar os realizadores da TPA de quem fui amigo e com quem trabalhei, António Ole, artista plástico que fez um curioso documentário sobre o Ngola Ritmos, Ruy Duarte de Carvalho, autor de vários documentários, de que lembro essencialmente Uma festa para viver, sobre os dias antes da independência, Asdrúbal Rebelo e toda a equipa do Ano Zero, quero lembrar a passagem pelo CUCL do portuense Lopes Barbosa, que viria a fazer uma interessante carreira em Moçambique, especialmente com o seu Deixem-me ao menos subir às palmeiras.
 Por último, dois pequenos apontamentos: numa rua paralela àquela onde moro reside a Helena Antunes, que foi a protagonista do primeiro filme rodado em Angola com propósitos angolanos, Uma História do mar, realizado na praia Morena, de Benguela, pelo Vítor Silva Tavares, o homem das Edições ETC. que nos anos sessenta passou por ali como jornalista do Intransigente, semanário do reviralho, que estava sempre suspenso.
Por último, dois pequenos apontamentos: numa rua paralela àquela onde moro reside a Helena Antunes, que foi a protagonista do primeiro filme rodado em Angola com propósitos angolanos, Uma História do mar, realizado na praia Morena, de Benguela, pelo Vítor Silva Tavares, o homem das Edições ETC. que nos anos sessenta passou por ali como jornalista do Intransigente, semanário do reviralho, que estava sempre suspenso.
Quero ainda recordar que, nos últimos anos antes da independência, havia um grupo interessante, liderado pelo Eng. Brandão de Brito, do Caminho de Ferro de Benguela, e pelo Arq. Castro Rodrigues, que organizaram com denodo o Festival Internacional de Cinema Amador, que levou ao Lobito de então uma qualidade de cinema tão ousada como inesperada. Eu assisti aos últimos e posso contar uma história passada no derradeiro, que talvez valha a pena referir:
Já agora, vou lembrar um episódio passado com ele, exatamente por altura de quando em Portugal se passava o episódio da tentativa das Caldas, a 16 de Março de 1974, pouco tempo antes do 25 de Abril. Estava ele de serviço no Lobito, e eu igualmente no mesmo hotel, o Belo Horizonte, a fazer a cobertura do II Festival Internacional de Cinema Amador, quando o encontro ao jantar, e lhe dou conta de que um dos melhores filmes dessa tarde era inspirado num poema dele, Esta terra não existe. Não descansou enquanto não conseguiu que eu contatasse a organização e lho fossem mostrar em projeção privada no Lobito Sport Clube, instituição que à data era um organismo modelar.
O filme era assinado pelo arquiteto Crinner y Dintel, lisboeta de gema que por sinal é um grande artista plástico, apesar de quase desconhecido, e desta estória o HH deu notícias no livro Photomaton & Vox, conforme há anos me chamou a atenção o poeta angolano Zetho da Cunha Gonçalves, a quem tinha contado o caso.
Caso que não acaba aqui. No dia de regresso a Luanda o HH quer-me convencer a regressar a Luanda com ele e o fotógrafo, Eduardo Guimarães, – hoje no Brasil, – para não se aborrecerem muito nos 500 quilómetros. Sopesando as coisas, apesar de gostar mais de viajar de automóvel, para ver paisagens e pessoas, acabei por recusar, no fundo estava morto por chegar a Luanda.
Livrei-me de boa. Os dois tiveram um acidente, obrigando-os a internamento hospitalar durante várias semanas, nunca se tendo ressarcido completamente, no aspeto físico.
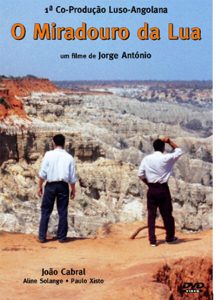 Talvez valha a pena informar que em 1976 eu próprio publiquei no Semanário de Angola 5 artigos em que fiz o resumo da história do cinema em Angola, resumo que depois de eu ter saído de Luanda apareceu publicado em livro assinado por um cineasta angolano de origem guineense. E não posso deixar de evocar outro grande cineasta meu amigo, o Jorge António, autor de O Miradouro da Lua, e de um empolgante documentário sobre o Liceu Vieira Dias, do Ngola Ritmos, entre outros, nomeadamente um dinâmico ensaio cinematográfico sobre o Kuduro. Já agora quero dar uma informação curiosa- É que quem deu o nome de Miradouro da Lua àquele local da estrada que vai de Luanda para a barra do Kwanza foi exatamente a minha falecida esposa Helena Justino. O pai, o eng. Joffre Justino, quando era subdiretor da Junta Autónoma das Estradas de Angola, JAEA, iniciou o projeto da futura estrada marginal de Angola e, como obcecado pelo trabalho, não perdia fim de semana para reconhecer os locais onde a marginal passaria. A Helena, numa das suas férias passadas em Luanda, quando já estava a frequentar Belas Artes no Porto, acompanhava o pai numa dessas deambulações, e numa delas lembra ao pai, quando contemplavam a paisagem do miradouro, que ainda hoje existe: – Isto parece mesmo uma paisagem lunar. O pai da Helena percebeu a acuidade e assim passou a identificar oficialmente o sítio como tal: Miradouro da Lua.
Talvez valha a pena informar que em 1976 eu próprio publiquei no Semanário de Angola 5 artigos em que fiz o resumo da história do cinema em Angola, resumo que depois de eu ter saído de Luanda apareceu publicado em livro assinado por um cineasta angolano de origem guineense. E não posso deixar de evocar outro grande cineasta meu amigo, o Jorge António, autor de O Miradouro da Lua, e de um empolgante documentário sobre o Liceu Vieira Dias, do Ngola Ritmos, entre outros, nomeadamente um dinâmico ensaio cinematográfico sobre o Kuduro. Já agora quero dar uma informação curiosa- É que quem deu o nome de Miradouro da Lua àquele local da estrada que vai de Luanda para a barra do Kwanza foi exatamente a minha falecida esposa Helena Justino. O pai, o eng. Joffre Justino, quando era subdiretor da Junta Autónoma das Estradas de Angola, JAEA, iniciou o projeto da futura estrada marginal de Angola e, como obcecado pelo trabalho, não perdia fim de semana para reconhecer os locais onde a marginal passaria. A Helena, numa das suas férias passadas em Luanda, quando já estava a frequentar Belas Artes no Porto, acompanhava o pai numa dessas deambulações, e numa delas lembra ao pai, quando contemplavam a paisagem do miradouro, que ainda hoje existe: – Isto parece mesmo uma paisagem lunar. O pai da Helena percebeu a acuidade e assim passou a identificar oficialmente o sítio como tal: Miradouro da Lua.


