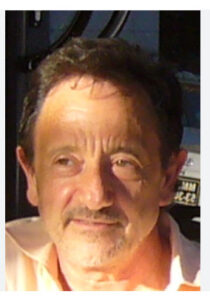ALFREDO SOARES-FERREIRA
Na procura da liberdade e da regra, o saudoso escritor Dinis Machado, que cultivava a importância do sonho e da fantasia, assumia-se como uma mistura da jovialidade e de melancolia. O Autor transporta-nos, ainda que de forma artificial, a uma perspectiva de criação, de que o relatório do Molero é exemplo, do significado de um dever quotidiano. A obra “O que diz Molero” data de 1977, um ano particularmente duro no panorama político português, ainda temperado pela Revolução, mas traído pela sua derrota e aniquilação na sequência dos acontecimentos do 25 de Novembro e da recomposição capitalista de dominação, patente na destruição da reforma agrária, do controle operário, das nacionalizações e de todas as estruturas que configuram a Revolução como socialista. Nesse ano, David Bowie lançaria “Heroes” e diria ao mundo que podemos vencê-los, nem que seja por um dia, muito embora nada nos possa manter juntos, antecipando quiçá as épocas de chumbo, onde a necessidade do colectivo era a obra a fazer. Os bombistas da extrema-direita, que haviam espalhado o medo e a morte pelo País, seriam julgados nesse ano, também curiosamente em Novembro, tendo como sorte a cruel absolvição e, alguns deles, a reintegração em empresas do Estado. Entretanto, tanto quanto se sabe, Molero ia fazendo relatórios.
Na verdade, o principal personagem do livro parece não estar no seu lugar. Mas, mesmo assim, ele é bem capaz de ser o trabalhador, que sempre procura fazer melhor. Pode até falar por vezes a linguagem do seu oposto, mas não deixa de ser ele, atraído para ser engolido pelos meios de comunicação, um engodo premonitório do Autor, uma vezes Molero, outras vezes Machado. Possivelmente, contrariando a linearidade do pensamento, agenciando ideias, forças e interligações em constante movimento, sem hierarquia ou objectivo determinado. Essa é afinal a teoria de um sistema de planaltos de intensidade, descrita na extensa obra dos filósofos franceses Gilles Deleuze e Felix Guattari, que viria a ser publicada três anos depois, “Mil Planaltos – Capitalismo e Esquizofrenia (no original “Mille Plateaux – Capitalisme et Schizophrénie”). Nesta obra ensaia-se uma analogia fascinante que une filosofia e biologia, uma metáfora que serve para pensar estruturas não hierárquicas, descentralizadas e multiplicativas, em oposição aos modelos arborescentes, baseados em raízes, hierarquias fixas e centralizadas. Nos relatórios de Molero, a narrativa é construída através de uma estrutura de camadas, quais planaltos, onde o “rapaz” embarca numa jornada existencial, passando por infâncias estranhas, viagens ao Tibete e à Pensilvânia, encontros amorosos e reflexões filosóficas, enquanto busca um sentido para a vida.
Hoje, que diria Molero? Ao embarcar em experiências semelhantes o “rapaz” passaria mal, em empregos precários, sem casa para viver e a única viagem a que poderia aspirar seria andar às voltas pelo Bairro Alto, a “casa” do seu autor. Viveria talvez à custa da segurança social, embalado pelas falácias neoliberais e perdido nas ruas de Lisboa conduzindo uma motoreta a distribuir refeições na qualidade de “colaborador” de um qualquer pronto-a-comer. Teria já perdido a perspectiva de encontrar o tal sentido para a vida. A “petite Mireille”, a amante silenciosa, seria hoje provavelmente uma qualquer cantora pimba e o “Bigodes Piaçaba” deixaria de ser o activista social inconformado e estaria nas hostes reaccionárias de um partido da extrema-direita. Os relatórios de Molero, que continuaria sempre vigilante, ficariam perdidos na burocracia e nunca numa obra de arte, como a de Machado e seriam substituídos por um algoritmo de vigilância, que mapearia os comportamentos do “rapaz”, que perderia por completo a sua autonomia. No limite, nem haveria “rapaz”, possivelmente um ser perdido numa qualquer realidade virtual.
A irreverência e o humor de Machado serão vitais ainda hoje, num momento em que as plataformas digitais padronizam expressões, os sistemas de vigilância predominam sobre a melhoria das condições de vida e o caminho desenfreado para o rearmamento atinge o seu ridículo máximo. Será como um fenómeno de resistência à normalização cultural, típica das sociedades ocidentais, convencidas da sua superioridade natural e arreigadas a preconceitos do século passado. O humor ácido de Machado, que faz lembrar Italo Calvino ou James Joyce, pela narrativa que desafia a estrutura convencional do romance, ascende a um patamar de excelência e desafia-nos a repensar a função da arte, não como um espelho passivo, mas como uma ferramenta de desassossego, capaz de desvendar as fissuras do presente e combater a fragmentação social. Assim pudéssemos dizer sobre alguns dos intérpretes políticos actuais, cuja narrativa é pobre, oca e vazia e de tal forma fastidiosa que não é capaz de suscitar qualquer interesse. Pior ainda, quando vemos a mentira ser qualificada e promovida à adaptação “…é sua opinião”, incapaz de motivar o cidadão mais permeável, remetida hoje à única forma de “convencimento” possível, o medo.
Embora Machado já não esteja cá, o seu “rapaz”, após ter sido devidamente digitalizado, poderá ter passado à clandestinidade, acusado, por exemplo, de defender o reconhecimento do Estado da Palestina. Em tempos de vigilância reforçada, Molero poderá ser encontrado, num exercício deveras desafiador, a vigiar barcos e submarinos russos prestes a atacar a costa portuguesa e a fazer relatórios para um almirante qualquer. No final da empreitada, acontece-lhe como na obra de Machado: é substituído por outro que comece onde ele acabou. Porém, toda a escrita como esta é uma arte que nos lembra sempre um espírito desafiador, com uma capacidade imensa para criar beleza na desordem.
Isso, é seguramente, um acto revolucionário.
Diário, 560, Abril de 2025