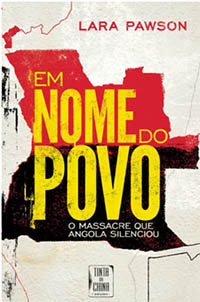MANUEL RODRIGUES VAZ
O 27 de Maio em questão
Muitas dúvidas, poucas certezas
Golpe ou Manifestação Pacífica?
Comunicação feita aos 31 de Maio de 2017, por Rodrigues Vaz, no Restaurante Pote, em Lisboa, no âmbito do almoço semanal das quartas-feiras, da Tertúlia À Margem
Anunciado previamente com alguma circunstância, saiu recentemente para os escaparates das livrarias o livro Em Nome do Povo, da jornalista britânica Lara Pawson, uma exaustiva investigação sobre os acontecimentos de 27 de Maio de 1977, data que marca um momento indelével na vida de muitos angolanos, pelas consequências que ainda se fazem sentir a vários níveis.
Não trazendo, na verdade, muita coisa nova, pois, de uma maneira geral, a maior parte dos dados apresentados são conhecidos, trata-se, no entanto, de um trabalho interessante porque, pela primeira vez, tais dados aparecem juntos e devidamente contextualizados e questionados, para que os angolanos comecem a analisar os trágicos acontecimentos de há 37 anos de forma mais clara e objetiva, enfrentando finalmente o tabu, que tem de ser definitivamente ultrapassado.
Porque, como diz a autora, foi «O próprio receio do MPLA em “abrir a ferida” (que) abriu espaço para que Nito Alves seja atualmente idolatrado por jovens angolanos opositores ao regime», pelo que «Esconder a verdade está a criar cada vez mais o peso do próprio mito».
Tendo optado por uma escrita na primeira pessoa, quase diarística, em vez do ensaio pretensamente imparcial, utilizando uma escrita jornalística apelativa e abrangente, que nos deixa aceder ao mundo denso de cada personagem e de cada figura retratada, o livro permite acompanhar o processo de pesquisa e o posicionamento da autora, com as suas hesitações, entusiasmos e dificuldades, e chegar ao entendimento de algumas causas e consequências dos trágicos acontecimentos, resultando um livro que contribui para esclarecer a complexidade desse período, fazendo a ponte com o presente de Angola, ao trazer mais perguntas do que respostas, que é realmente um passo para abrir a discussão e gerar a reflexão, que tão necessária é para virar finalmente a página.
Apresentados e analisados os vários depoimentos, uma coisa ressalta à primeira vista: há dúvidas se se tratou de um golpe de Estado, de uma simples revolta, no sentido de rebelião, ou, como querem outros, uma simples manifestação de desagrado contra a forma como as coisas estavam a decorrer, como acreditaram muitos, em particular o povo. Para o João Van-Dúnem, recentemente falecido, o presidente Agostinho Neto tinha um plano «e é evidente que se tratou de uma cilada». Lino Garcia Mateus, morador no Sambizanga, afirma, por seu turno, que o objetivo não era matar Agostinho Neto, mas reconhece que lhes foram distribuídas armas, corroborando que era uma revolta para mudar o sistema, que se estava a revelar com muita corrupção enquanto a falta de géneros alimentícios se fazia sentir cada vez mais. Mas, por outro lado, para Lara Pawson, «o facto de a 9ª Brigada se ter envolvido, de a rádio ter sido ocupada durante várias horas por homens com armas e as prisões invadidas parece difícil negar que não houve tentativa de golpe». Uma questão que parece ainda nebulosa foi o assassinato dos dirigentes do MPLA, que o grupo vencedor atribui aos nitistas, mas que tudo leva a crer que quem o fez teria sido um elemento da DISA infiltrado.
Antes de prosseguir a análise do livro, é minha vontade revelar alguns dados que até agora não vieram a lume, mas de que tive conhecimento, devido ao meu trabalho na altura, como chefe de programação do TPA: a equipa do famoso programa Kudibanguela, porta-voz dos nitistas na Rádio Nacional de Angola, RNA, foi algumas vezes convidada para os almoços que o presidente Neto oferecia, aos sábados, no Palácio e que acabavam por ser reuniões de trabalho, o que levava algumas das chefias da RNA a tratarem o Rui Malaquias e o Evaristo Carrasquinha com uma certa deferência; Raul Castro tinha chegado a Luanda no dia 26 de Maio; quando da gravação da declaração do secretário-geral da UNTA, Aristides Van-Dúnem, no dia 27, pelas 14 horas, perante uma certa atrapalhação deste com os papéis, o presidente Neto avisou-o perentoriamente de que visse bem qual a declaração que ia ler. Posso afirmar, também, que desde Janeiro de 1977, estava estacionado próximo do aeroporto um batalhão de Kwanyamas denominado de Batalhão de Luta Contra-bandido, e que foi este batalhão que atuou na noite de 26 em várias zonas da cidade, sob o comando do comandante Magalhães, ex-comando português cunhado do António Carlos Silva, uma das figuras mais poderosas e sinistra da DISA, tendo levado para filmagens diretas a equipa de cinema da TPA, a Ano Zero, que por sinal também integrava dois cunhados do mesmo e que acompanhou as operações desde a tarde do dia 26.
Outra questão em que há muitas divergências é na quantificação das vítimas das perseguições a seguir ao golpe ou intentona: de 3000 a 30000 vale tudo, dependendo do ponto de vista. Exageros em que os angolanos são mestres, o que se calhar é uma qualidade. Bom angolano quer tudo em grande, e porque não? Mas a verdade é que se tivessem sido apenas 200 ou 300, em vidas humanas seria mesmo assim um custo muito caro. Como declarou o político e escritor João Melo, antigo diretor desta revista, que também foi ouvido, «a reação do Estado foi inegavelmente desproporcionada, em especial em Luanda e no leste do País, no Moxico».
No que parece que há acordo, mas de sinal contrário, é numa das principais causas apontadas, que é na questão do racismo, assunto muito delicado mas que não pode deixar de ser abordado. Miguel Francisco, um dos depoentes, que esteve preso, acusa repetidamente, como outros, os mestiços como responsáveis da onda de violência que se seguiu ao golpe, enquanto para Ndunduma, «o racismo que o preocupa é o que é dirigido aos brancos e aos mestiços, nunca o que vitima os negros». Como acentua a autora, «Em vez de reconhecer a necessidade imperiosa de resolver as desigualdades associadas à raça e à classe, Ndunduma propôs soluções tecnocratas para os problemas do Estado».
Sobre a questão de as culpas serem assacadas especialmente ao presidente Agostinho Neto, se bem que foi exagerado na primeira reação, o que de certo modo se compreende porque foi uma reação a quente, e a situação em que País estava, com graves problemas nas fronteiras e mesmo no interior era problemática, nitidamente este tinha perdido o controlo, como se verificou quando até um dos sobrinhos esteve na calha para ser fuzilado. Ele só viria a ter conhecimento da amplidão das perseguições quando foi confrontado com um relatório numa reunião da OUA que se realizou em Monróvia em 1979, o que o levou a regressar intempestivamente, após o que procedeu ao desmantelamento da DISA, pouco antes da sua morte, como refere o depoente Ildeberto Teixeira.
Naturalmente, este é um livro onde perpassam muitas contradições, bastantes distorções e fatalmente várias incertezas, todas possíveis porque se trata de coisas de homens e tudo o que é humano é imperfeito. O 27 de Maio está eivado disso tudo, mas, como salienta Lara Pawson, não se pode estar de acordo com os portugueses, pela sua insistência absurda de que tudo começou a correr mal em Angola com a independência. O poder em Angola também tem de refletir, a hora é de abertura. Como lembra, «as democracias bem-sucedidas permitem que as pessoas se manifestem, mas os governantes não reagem. É aqui que reside a beleza das coisas: deixar a população protestar, mas ignorá-la por completo».
Um dos interesses deste livro é que levanta a questão do rigor da informação sobre Angola e qual é a informação em que podemos confiar. Uma leitura indispensável para a história do massacre e suas sequelas, mas também para o melhor entendimento da atualidade angolana.
Entre Londres, Luanda e Lisboa, Pawson conseguiu o que até aqui nunca fora possível: passados 40 anos, vítimas e testemunhas – ainda hoje sob a tensão do medo -, e até mesmo alguns dos carrascos, decidiram falar sobre o massacre, numa série de empolgantes entrevistas. João Van Dúnem, irmão de José, um dos líderes da revolta, bem como membros da elite angolana – por exemplo, Ndunduma Wé Lépi, ex-director do Jornal de Angola, ou Aníbal João da Silva Melo, deputado à Assembleia Nacional pelo MPLA – contam-se entre os muitos testemunhos que a autora reuniu. Lara Pawson foi correspondente da BBC no Mali, na Costa do Marfim e em São Tomé e Príncipe, entre 1998 e 2007. De 1998 a 2000, trabalhou em Angola, onde cobriu a guerra civil. Desde então, visita com regularidade o país. É atualmente jornalista freelance em Londres.
2 – Narração resumida das ações do golpe relacionadas com o prédio onde eu morava, na Praceta José Anchieta, onde morava o José Reis, autor do livro agora saído, Angola – O 27 de Maio, Memórias de um sobrevivente, e onde foi o primeiro ataque, às 2 horas da manhã de 27 de Maio, e a minha ida para a TPA, Televisão Popular de Angola, no meio de uma cidade subitamente silenciosa, depois a minha chegada à TPA com toda a gente a ver o cerco dos cubanos ao edifício da Rádio Nacional de Angola, e a decisão acertada de não regressar ao meu prédio, onde todos os estudantes e professores foram presos, pela sua simples condição de tal, conotados, portanto, como perigosos.
3 – Embora não tenha havido tempo para ler o seguinte texto, que apareceu no meu livro Angola, Estórias Esquecidas, Editora Hugin, Lisboa, 2003, achei por bem inclui-lo aqui por complementar de outro modo a história do 27 de Maio.
Pedro, o desaparecido
Chamava-se Pedro. Pedro dos Reis e Almeida. Ou melhor, Pedro Garrido, que assim era mais conhecido entre a malta. Não sei que nome usou depois que passou à clandestinidade, que viveu durante 15 anos, nem onde soube depois onde estava, mas, apesar de todas as aparências, soube – ou melhor, sentia – que ele ainda estava vivo.
Tinha-o conhecido em Pointe-Noire, República Popular do Congo, em Agosto de 1974, quando fui enviado pelo jornal “Unidade” – semanário fundado logo após o 25 de Abril pelo Xavier de Figueiredo, de que saíram três números – para lá fazer algumas reportagens com o MPLA, levando como repórter fotográfico o António Gouveia, mais conhecido como o Novato, que nos últimos anos esteve como adido cultural de Angola no Zimbabwe.
Como o Novato conhecia bem o Pedro, do Bairro de S. Paulo, o nosso encontro acabou nas “boîtes” da Cité, que ainda é o bairro mais popular de Pointe-Noire, seguindo-se farra todas as noites da nossa estada nos ambientes mais africanos da cidade, que na Ville, onde vivia a nomenclatura do partido no poder e os estrangeiros, nomeadamente franceses e alguns portugueses, as ruas ficavam desertas a partir das seis da tarde.
Festa diária era mesmo depois de atravessar a Avenida General de Gaulle, uma artéria onde fica a zona comercial, que liga os dois núcleos populacionais da cidade, com um bulício que só mesmo cidade africana tem, mesmo que a situação económica não seja brilhante, porque em África a vida é para ser gozada porque nunca se sabe o dia de amanhã. Não são precisas sequer máximas latinas, do género de “Carpe Diem”, o que interessa é a sua prática.
Neste contexto, não foi difícil criar amizade com o Pedro, até porque o 25 de Abril já tinha chegado e já tinha acabado o medo de falar à vontade coisas de política e do quotidiano. Amizade que se viria a consolidar depois que o MPLA entrou em Luanda, nos finais de 1974, quando o Pedro veio integrado nos serviços de segurança do Movimento, cargo que ele cumpria conscienciosamente e com espírito de missão, muito embora não tenha sido esse o comportamento de muitos dos seus colegas logo a seguir à independência.
No golpe de Estado do 27 de Maio, o Pedro estava de serviço e nos dias seguintes não deu sinal de vida. A família estava inquieta, mas dado o seu cargo e o teor do seu serviço, não era aconselhável sequer pedir informações. Mas elas vieram passados três dias. Um saco com a roupa que tinha com ele e as coisas que tinha na secretária. E um recado. Podiam fazer-lhe o komba, isto é, chorar a sua morte.
Não foi surpresa para ninguém. Apesar de não parecer estar ligado à facção nitista e do José Van-Dúnem, ele tinha-se manifestado várias vezes contra os fumos de corrupção que grassavam no País e estava desgostoso com a forma como as coisas estavam a correr, de maneira que, na violência que sobreveio ao dia 27, tudo era de esperar.
Por estas razões e outras óbvias e até porque era também amigo de alguns elementos da família do Zé Van-Dúnem, comecei a sentir-me olhado cada vez com mais desconfiança, situação que culminou na minha destituição de chefe de programas da Televisão Popular de Angola. A Ticha, que era esposa do António Carlos Silva, um angolano branco que tinha estado ligado à UDP, em Lisboa, e era a eminência parda dos grandes chefões da DISA, não perdeu tempo e conseguiu levar à certa o dr. Orlando Rodrigues, naquela altura confirmado como director-geral da TPA.
No momento, depois de ter estado refugiado no musseque Catambor, continuei a trabalhar como nada se passasse, mas, por razões de segurança, à noite continuava a dormir ao musseque Catambor, clandestinamente, de modo a evitar que fosse “cangado”, isto é, preso. Bem podia invocar que nunca tinha estado metido em nenhuma conspiração, o que era verdade, que isso de nada me valeria e eu sabia-o bem, até porque tinha visto, na própria televisão, um colega denunciar o Manuel Augusto, atual vice-ministro da Relações Exteriores, só pela forma como tinha olhado os julgamentos sumários que se processaram naqueles dias, portanto, deixei passar a tempestade.
Mais tarde, acabaria por abandonar a TPA, por razões de coerência e dignidade, mas, pelos bons ofícios do falecido Francisco Simmons, então chefe da Reportagem da Rádio Nacional de Angola, que, embora muito medroso nestas questões, achou que eu deveria ser aproveitado no País, e arrostou dizer isso mesmo ao Lúcio Lara, acabei por voltar a trabalhar naquela estação de rádio. Primeiro como chefe do Serviço Internacional e depois na chefia do Centro de Documentação que eu próprio criei.
Bem, mas voltemos ao Pedro. Ao Pedro Garrido. A família fez-lhe o komba, com tudo a preceito, só faltou o funeral, mas o corpo não tinha sido entregue. Passados dois anos, entretanto, a família quando chegava a casa, à noite, tinha sempre novidades. “O Pedro passou hoje aqui, e fez-me sinal” – insistia a mãe.
A única pessoa que ia acreditando nela era a viúva, a Rosalina, uma bonita crioula que o Pedro tinha trazido de S. Tomé quando lá tinha ido por ocasião das festas da Independência. De uma das vezes também o vira. Mas ninguém mais acreditava. A ânsia da mãe de ver o filho era tão grande que, com certeza, pensava que o via, mas não, era impossível.
Tinham-se passado mais de dois anos após o anúncio da sua morte, e uma tarde indo eu a passar pelo largo do Kinaxixe, ex-Lusíadas ou da Maria da Fonte, cuja estátua já tinha sido substituída por um tanque de combate para assinalar a vitória sobre a invasão da África do Sul, e ouço um assobio meu conhecido: a senha do Pedro para lhe ir abrir a porta do meu prédio, uma vez que as campainhas naquela altura já estavam todas avariadas.
É evidente que experimentei um verdadeiro choque; era impossível, o Pedro estava mesmo morto. Mas raciocinei depressa e pus-me a correr para o lado de onde tinha vindo o assobio. E lá ia ele, o Pedro, no seu particular modo de guiar. Ia num Simca 1000 azul, daqueles com rabo de peixe, muito fáceis de identificar. Chamei, gritei, mas nada, o Pedro seguiu como se não me voltasse mais a reconhecer.
Está claro que já não fui à Baixa para fazer o que tinha em mente. Regressei logo à ex-Avenida Brasil, onde moravam os pais, para dar-lhes a novidade. Eu tinha visto o Pedro, que me fizera sinal. Estava vivo!
À porta estava a jovem viúva, Rosalina, que me anuncia, por sua vez: “Olha, o Pedro acaba de passar aqui. Ia num Simca 1000 azul, daqueles com rabo de peixe”.
Pelo menos agora já não era só a mãe e a viúva que o viam. Eu também o tinha visto e vê-lo-ia de novo passado mais de um ano depois.
Entretanto, o Pedro não deu mais sinal de vida. Mas não estava esquecido. As minhas relações com o António Carlos da DISA podiam não ser as melhores, mas eu estava habituado a falar de frente. Queria deixar uma prenda à família do Pedro, que, entretanto, me tinha adoptado como se de minha família se tratasse.
Um dia combinei com a Bela, uma das irmãs, e antes de regressar a Portugal, em Maio de 1981, fomos à DISA falar com o António Carlos Silva para saber realmente do seu paradeiro. Ele foi peremptório: “Podes pedir-me tudo, mas sobre isso nem pensar. Não posso dar nenhumas informações. E não vale a pena insistires. Pede-me outra coisa”.
Era apenas aquilo que eu queria pedir e ansiava conseguir: saber o paradeiro do Pedro, para que a família finalmente descansasse. Mas percebi que era inútil. Faço algumas conjecturas, mas não passarão, porventura, de mera especulação. A seu tempo próprio se saberá realmente o que aconteceu e está a acontecer.
Mais tarde, em Lisboa, em 1985, quando a Linda – que tinha sido uma das namoradas do Pedro, no tempo das confusões de 75 – estava a explorar, em 1986, o bar Clave de Nós, no Bairro Alto, encontrei-a lá uma noite e perguntei-lhe pelo Pedro, o que é que sabia dele. “Está vivo”, assegurou-me ela. Ainda lhe perguntei como é que sabia disso, mas a sua resposta foi apenas um sorriso e: “Estas coisas sabem-se, mas não se pode dizer tudo, como aliás sabes”. Sei. Mas sinto que o Pedro continua vivo. Um dia aparecerá, com certeza, com muitas histórias para contar.
Resta dizer que esta estória não é ficção e nem mesmo os nomes usados são pura coincidência.
Nota Posterior – O Pedro acabou por ser abatido, provavelmente, em 1992