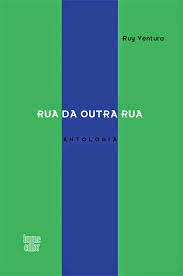|
|||||||||
REVISTA TRIPLOV
|
|||||||||
|
|||||||||
EDITOR | TRIPLOV |
|||||||||
| ISSN 2182-147X | |||||||||
| Contacto: revista@triplov.com | |||||||||
| Dir. Maria Estela Guedes | |||||||||
| Página Principal | |||||||||
| Índice de Autores | |||||||||
| Série Anterior | |||||||||
| SÍTIOS ALIADOS | |||||||||
| Apenas Livros Editora | |||||||||
| Domador de Sonhos | |||||||||
| Agulha - Revista de Cultura | |||||||||
| Revista InComunidade | |||||||||
|
Esta
Rua da Outra Rua
existe mesmo ou é uma criação a propósito da antologia? Como tudo quanto surge pela via da poesia, um título é simultaneamente imanência e transcendência, matéria e pensamento. A “Rua da Outra Rua” existe mesmo. Situa-se na pequena aldeia onde fui criado – Carreiras, a sete quilómetros de Castelo de Vide. Embora hoje o nome se atribua apenas a uma pequena travessa, até aos anos trinta do século passado designava um arruamento maior, que ligava a Rua Nova à antiga Rua do Castelo, ou seja, a novidade à tradição. Renasce, todavia, enquanto título de antologia. Como diria o poeta Sebastião da Gama, o símbolo visto ou ouvido tornou-se símbolo encontrado ou pensado, na medida em que o “outro” surge como elemento transfigurador da realidade. A rua deixa de ser rua ao transformar-se noutro lugar de circulação, se tivermos em conta a quase total homofonia com o termo ruah, que significa, como sabe, “sopro”, “vento”, “aragem”, mas sobretudo, na tradição judaico-cristã, o Espírito Santo. As epígrafes do livro, colhidas em Dalila Pereira da Costa, De Chirico e no padre António Vieira, explicam isto muito bem. |
|||||||||
|
|||||||||
|
A ordem dos livros na antologia
corresponde à data da escrita e não à data da publicação?
Nem uma coisa nem outra. No início da antologia coloquei uma sequência
publicada em 2003 na Black Sun Editores e que, de algum modo, é
excêntrica na minha produção. Em termos de pensamento, é simultaneamente
anterior e posterior a tudo quanto tenho escrito. Acabou por fixar-se
neste livro como prólogo e está bem assim, embora também pudesse ser um
epílogo, se este volume incluísse toda a minha poesia escrita e
publicada até ao momento. No que respeita aos outros livros, estão por
ordem cronológica de publicação, embora sem essa indicação, que pode ser
contudo conferida na nota final. Tentei reduzir ao mínimo todos os
aspectos paratextuais. Por isso retirei, também, as dedicatórias
originais (o que não significa um apagamento, mas apenas uma atitude
estética, tanto mais que para o leitor brasileiro nada significariam; só
uma edição portuguesa justificaria a sua manutenção, ainda assim em nota
final), bem como todas as menções às alavancas que levantaram os textos.
Alguns textos poéticos seus ficam
excluídos desta selecção. Existe uma razão especial objectiva?
A edição desta antologia permitiu-me iniciar o processo de reescrita de
todos os meus livros de poesia que, se algum dia houver editor, serão
publicados em volume conjunto. Tratando-se neste caso de uma reunião de
textos que sempre desejei investida de uma “esquelética robustez”, como
dizia o velho humorista, tive de proceder a uma selecção, não só em
função do meu gosto pessoal, enquanto leitor que de fora já lê os seus
poemas, mas também procurando dar alguma coerência ao conjunto. Não
consigo conceber um livro de poesia ou, sequer, uma antologia sem uma
coesão interna. Nunca publiquei colectâneas de poemas, mas sequências
poéticas. Não critico quem o faz, mas estou do lado daqueles que não
conseguem fazer feixes de poemas como se atassem molhos de lenha.
Já com 14 anos de actividade
poética permanente, reconhece-se na frase de Camilo Castelo Branco «A Poesia não tem presente: ou é esperança ou saudade»? Se tiver em conta que no
Arquitectura do Silêncio,
publicado em 2000, saíram poemas escritos entre 1992 e 1997, já
ultrapassei as duas décadas de actividade… Verdade seja dita que este
facto me provoca uma “inquietante estranheza”, como diria o Freud. Não
discordando do Camilo Castelo Branco, autor que leio sempre com gosto
não tanto pelas suas narrativas relativamente banais mas pela força da
sua expressão musculada e imaginativa, que o coloca entre os melhores
poetas em prosa da nossa língua, gosto sobretudo da noção de “saudade”
inventada (ou seja, encontrada, descoberta) pelo Teixeira de Pascoaes,
que bem se adapta ao que é a mais alta poesia: a poesia é
simultaneamente esperança e lembrança. Ou seja, não tem presente (a não
ser o da leitura). Esperança, porque é desejo, sonho e imaginação.
Lembrança, porque é dor, regresso e rememoração. É a poesia, ou seja, a
criação no mais elevado significado da palavra, que desfaz esta
antinomia, não destruindo os dois termos, mas associando-os. Por isso a
poesia é, simultaneamente, memória e profecia, recordação e amnésia,
lembrança e esquecimento. Mas, sobretudo, liberdade, não só enquanto
subversão dos códigos comunicativos da comunidade falante, mas enquanto
procura desse “manjar” sublime de que falava frei Agostinho da Cruz, que
consiste em “trazer o pensamento / Aceso na divina saudade”. Quem tiver
ouvidos para ouvir, oiça... Talvez não seja fácil escutar algo nos dias
que correm, em que o ruído nos acompanha, nos distrai e nos destrói… Sem
atenção, nunca haverá contudo poesia nem entendimento, o que será
decerto uma auto-estrada para a alienação mental e para o retrocesso
civilizacional.
O título
Rua da Outra Rua
sugere um conjunto de casas. Há uma casa inicial de onde o poema afinal
nunca saiu? Procurei encontrar e definir essa casa inicial
no meu primeiro livro – e por isso mesmo o intitulei
Arquitectura – e em todos
aqueles que lhe sucederam. Andei algum tempo às cegas, mas com muito
maior clareza vejo hoje em dia onde se situa, embora saiba que nunca
conseguirei sequer aproximar-me do seu esboço. Com os simbolistas
oitocentistas, também afirmo convictamente que a poesia e a literatura
não são campos coincidentes. Com frequência, opõem-se. Embora haja
muitos textos escritos em verso, com todos os tiques daquilo a que
costumamos chamar “poema”, uma grande quantidade pertence somente à
literatura e nem de perto chega à poesia. Luto para que os meus textos
não fiquem desse lado. Há na realidade uma casa inicial que é também a
casa final. Por isso mesmo, quanto um dia juntar todos os meus poemas
num único volume, hei-de dar-lhe o título de
Arqueologia, na medida em que
toda a poesia é uma forma imperfeita de tentar definir humanamente esse
“princípio”, esse “começo”, que os gregos designavam
arkhé.
Um dia Alexandre O’ Neill
escreveu que o Poeta é o contrário do publicitário porque este «acrescenta às coisas aquilo que elas não são». Concorda?
De certa forma concordo, na medida em que o poeta, enquanto instrumento,
pratica uma hermenêutica da realidade que, como se sabe, é bem mais
vasta do que o concreto e o quotidiano, mesmo quando passados pelo
joeiro da memória, quase sempre inventada ou recriada. Ou seja,
procurando a verdade, o cerne, da palavra, do significante, acaba por
descobrir, desvelando, a essência do significado. O que digo deve
arrepiar aqueles que ainda defendem a arbitrariedade do signo, mas só
numa língua de pau, de pau porque pauperizada (como aquela que a
comunicação social, a propaganda e certa universidade nos querem impor,
reduzindo-nos à condição de gagos mentais), é que uma coisa se separa
por completo da outra.
Isto vem dar razão a Jorge de
Sena quando afirma «ao longo
dos tempos a Poesia nunca hesitou em chamar as coisas pelos seus nomes»?
Primeiro temos de descobrir que nomes têm verdadeiramente as coisas. E,
ao mesmo tempo, encontrar os verbos que as fazem seres moventes e vivos,
e não apenas existentes. Só depois disso as poderemos chamar, ou seja,
invocar. Um velho poeta neoclássico, hoje quase esquecido, Francisco
José Freire (que assinava com o pseudónimo Cândido Lusitano), dizia com
muita razão que trovar, ou seja, escrever poesia, vem de “trouver”,
verbo francês que significa encontrar e descobrir. Essa será sempre a
nossa mais digna tarefa: descobrir, imaginar e interpretar. Não creio no
entanto que o Sena pensasse nisto que digo quando proclamou essa frase.
Talvez pensasse na poesia como veículo de intervenção social. Estou
muito longe de concordar com aqueles que usam e usaram os poemas para
fazer proclamações políticas e sociais. De boas intenções está o inferno
cheio… e não consta que seja um lugar bem frequentado. Não sou como o
outro que defendeu a abolição do “mistério da poesia” enquanto houver
problemas económicos, sociais e políticos. Houve alguma época boa na
história da humanidade? Não creio… Nenhum poema verdadeiramente grande
se alheia do seu tempo e dos dramas aí vividos, mas a partir do momento
em que se subordina a um desejo deliberado de transmissão de uma
mensagem filantrópica, deixa de ser poesia para passar a ser literatura
em verso, ou, pior, propaganda rimada. Muitos caíram nesse logro,
inclusive alguns nomes grandes da nossa poesia. Acontece o mesmo com
aqueles que julgam agarrar mais leitores imitando a linguagem
anti-simbólica do nosso tempo ou transformando os seus versos em
carrinhos de mão que transportam micro-narrativas mais ou menos inanes
ou descrições jornalísticas… Mas seria assunto que levaria muito tempo a
escalpelizar. Parece-me que não vale a pena gastar cera com ruins
defuntos… Na dicotomia entre «canção» e «reflexão» qual é o lugar da sua Poesia?
Não consigo separá-las e creio que nenhum poeta que deseje ser mais do
que um literato o conseguirá. De certo modo, a canção é um meio e a
reflexão o fim, se entendermos este termo não só enquanto sinónimo de
pensamento, mas também, na sua etimologia, enquanto devolução imperfeita
de uma imagem espelhada, não nossa, mas de algo que nos transcende
enquanto seres humanos.
Sente que a Poesia, tal como a
Oração, liga de novo os dois mundos separados pela Morte? Não sinto, penso. Imponho todavia uma
nuance na frase que me propõe.
O que separa os dois mundos não é a morte, mas a existência, que será
sempre uma redução da vida e até da vivência; a não ser que a existência
sem vida seja um sinónimo de morte; se assim for, a maior parte dos
seres humanos de hoje já morreu. Uma existência sem vida – aquela que o
nosso tempo nos impõe a todo o momento, sem que a maior parte dos seres
humanos saiba como fugir-lhe ou sequer tenha consciência do lugar
infernal a que desceu – só poderá transformar-se numa vivência rumo à
vida se nos dispusermos a trilhar o árduo caminho que nos leva à
liberdade. A arte, não enquanto espectáculo ou substituto, mas enquanto
catalisador da religiosidade, será sempre um dos melhores bordões nessa
peregrinação. Por isso, a arte mais importante é simbólica. O que é
simbólico liga, como diz a etimologia, e o contrário de simbólico é
diabólico… Mas quem, neste mundo onde somos seduzidos e reduzidos por
toda a tralha que o dinheiro pode comprar, estará disposto a tornar-se
peregrino, ou seja, novato, aprendiz, estrangeiro no seu próprio país?
Nem a maior parte daqueles que se dizem poetas…
No tempo de Cesário Verde era
mais famoso Cláudio Nunes, no tempo de Camilo Pessanha o conhecido era
Augusto Gil. Só o tempo pode decidir? Sem dúvida. Os alfarrabistas estão cheios de
livros escritos por autores que, em vida, eram idolatrados em todos os
areópagos da moda. Ninguém os compra. Talvez devamos concordar com
Pascoaes, que considerava a arte um ídolo falso que nos leva ao Deus
verdadeiro, ou, como dizia o seu discípulo Sebastião da Gama, uma chave
falsa que abre portas verdadeiras. Também não será má ideia relermos
A Capital, do Eça. Este mundo
está cheio de Romas… Como repetia uma senhora que o meu amigo bem
conheceu, não têm qualquer habilidade para fazer o vestido, mas sabem
“botar defeito”. Têm para cinco anos de imortalidade nas prateleiras dos
arquivos. Nisto tudo, temos de ser “simples como as pombas e astutos
como a serpentes”. Cristo tinha razão. Não podemos esquecer que, mesmo
agora, os escaparates e as colecções de poesia de algumas editoras de
topo estão cheios de grandes “ilusionistas”. Olhe, o David
Mourão-Ferreira identificou alguns na nossa santa terrinha. Mas quem lê
hoje os Vinte Poetas
Contemporâneos? Identificou alguns, mas nem todos… Cesariny também
descobriu a careca a um par deles, mas quase só na marginália dos livros
da sua biblioteca. Só depois da morte de um poeta, de toda a sua família
e de todos os seus amigos e clientes é que se sabe quanto vale a obra de
um escritor de poemas. Mas quem nos saberá ler daqui por uns anos? Se o
vocabulário se continuar a reduzir à velocidade actual, daqui por cem
anos os seres humanos voltarão a grunhir… Aí, batatas… Valeremos todos o
mesmo. Nessa altura, se houver cinquenta leitores de jeito em cada
língua será uma sorte. Ainda assim, a poesia convulsiva será apreciada.
Já estarão debaixo dos torrões ou feitos em cinza todos aqueles que, do
seu pedestal, agora cospem sobre os poetas menos coloquiais, aos quais
retiram direito de cidadania, reduzindo-os à condição de indigentes
culturais. Talvez essa malta tenha sorte e veja os seus restos colocados
no canteiro de um jardim público, onde os canídeos farão aquilo que a
natureza lhes manda. Que apoteose! Não tenho dúvidas: se vivessem hoje e
sem abrigo, como muitos poetas do nosso tempo, T. S. Eliot, Ezra Pound
ou Paul Celan seriam autores subterrâneos, rejeitados pela sua
dificuldade. Tiveram a sorte de existir noutro tempo. O que mais
interessa é trabalharmos honradamente, como uma vez me escreveu Fernando
Echevarría. Mas alguém se preocupa com a honra hoje em dia? A maior
parte das pessoas, com tantos versejadores à cabeça, deve responder como
um miúdo duma aldeia alentejana há quarenta anos: “Mais vale morrer sem
honra”… Os escândalos da alta finança e da corrupção, bem como a sede
existente nos nossos dias de ganhar dinheiro sem trabalho, provam que
sou capaz de ter alguma razão.
Entre o «sangue pisado» da vida e
o «estilo» da escrita será a Poesia um intervalo difícil de atingir
porque difícil de dosear?
A poesia nunca poderá ser um escape. Ou seja, tem de incluir na sua
massa o sangue pisado da existência e muito mais… Não há evolução humana
sem a compreensão e a aceitação da dor e do sofrimento. Nisso (e em
muito mais) ando de braço dado com o Raul Brandão, o nosso mais
importante poeta em prosa, como bem o qualificou o nosso amigo de São
João de Gatão. Tem de incluir na sua massa o sangue, mas não
exclusivamente. Se assim fosse, os poemas deixariam de ser poemas e
passariam a ser qualquer coisa parecida com as morcelas. Brinco com
coisas sérias, eu sei. Quero apenas dizer que metemos as mãos no monturo
para descobrir nele uma via de redenção. Como o pinto da história
tradicional, que encontrou um copo de ouro no meio do estrume... José
Mattoso acertou: não devemos ser apenas activos ou apenas
contemplativos, mas praticar uma acção contemplativa ou uma contemplação
activa. Ora, praticar esse caminho em poesia equivale a fazê-lo a tempo
inteiro e de corpo inteiro, nunca num intervalo ou por diletantismo, na
medida em que reconhecemos uma hierarquia, ou seja, um princípio
sagrado. O poema é o intermediário entre a poesia e o poeta. E quem diz
Poesia, como escreveu um vizinho meu falecido em 1952 com 27 anos, diz
Verbo, diz Vida e diz Amor. Por isso tenho como regra de vida as
palavras iniciais do salmo 115… |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Declarações tomadas em Azeitão por José do Carmo Francisco, a 11 de
Novembro de 2014. Uma versão mais curta desta entrevista foi publicada
na revista electrónica Inefável,
dirigida por Pedro Silva Sena |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Ruy Ventura (1973) nasceu em Portalegre e
vive em Azeitão (Portugal) sendo professor de Português na escola local.
Os seus poemas estão traduzidos em alemão, francês, inglês e espanhol. A
sua poesia está publicada em vários países (México, E.U.A., Brasil,
Alemanha, Espanha e Portugal). Além da poesia, os seus interesses como
investigador contemplam áreas tão diversas como a toponímia, o
património religioso, a poesia contemporânea e a literatura tradicional
portuguesa. O seu primeiro livro (Arquitectura
do Silêncio) recebeu em 1997 o Prémio Revelação da Associação
Portuguesa de Escritores e foi editado em 2000. Publicou entretanto
outros livros: Sete capítulos do mundo (2003),
Assim se deixa uma casa
(2003), Chave de ignição
(2009), Instrumentos de sopro
(2010) e Contramina (2012). Ao
fim de ver publicados nove livros de poemas, surge agora com uma
antologia publicada no Brasil (Lumme Editor, de São Paulo) em 2014.
Trata-se de Rua da Outra Rua. |
|||||||||
|
JOSÉ DO CARMO
FRANCISCO (Santa Catarina, Caldas da Rainha,1951). Prêmio
Revelação da Associação Portuguesa de Escritores. Colaborou no
Dicionário Cronológico de Autores Portugueses do Instituto Português do
Livro. Poeta. Possui uma antologia da sua poesia publicada no Brasil.
Jornalista, colaborou entre outros em "A Bola", "Jornal do Sporting",
"Remate", "Atlantico Expresso"... Autor de "Universário",
"Jogos Olímpicos", "Iniciais", "Os guarda-redes morrem ao domingo",
etc., bem como de antologias como "O trabalho", "O desporto na poesia
portuguesa e "As palavras em jogo", entre outras. É secretário
da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Vive em Lisboa. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
© Maria Estela Guedes |
|||||||||