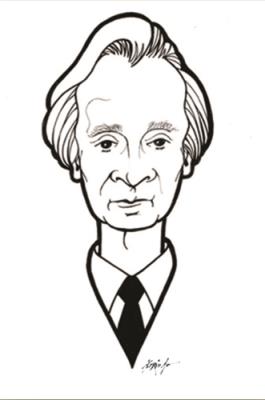|
|||||||||
REVISTA TRIPLOV
|
|||||||||
|
|||||||||
EDITOR | TRIPLOV |
|||||||||
| ISSN 2182-147X | |||||||||
| Contacto: revista@triplov.com | |||||||||
| Dir. Maria Estela Guedes | |||||||||
| Página Principal | |||||||||
| Índice de Autores | |||||||||
| Série Anterior | |||||||||
| SÍTIOS ALIADOS | |||||||||
| Revista InComunidade | |||||||||
| Apenas Livros Editora | |||||||||
| Jornal de Poesia | |||||||||
| Domador de Sonhos | |||||||||
| Agulha - Revista de Cultura | |||||||||
|
Não vale a pena fazer de Urbano Tavares Rodrigues
um grande esquecido de entre os escritores da sua geração lá porque não
lhe deram o Prémio Camões (velada, ou nem tanto assim, censura do
próprio ao terem-no atribuído a um poeta discreto como Manuel António
Pina?) ou sequer, alguma vez, o Grande Prémio de Romance e Novela.
Sucede que Urbano não precisou deles para nada. Não foi por isso que não
foi reconhecido, amado, viajado, odiado, que deixou de ter mulheres aos
cachos, como um dia se gabou em letra de forma, ou se viu forçado a
escrever livros para a gaveta. Como hoje em dia anda toda a gente com a
cabeça a prémios, pode questionar-se sem pitada de ironia o que andaria
um romance ou uma novela de UTR a fazer neste galarim onde deixou de
haver distinção entre “personalidades” que escrevem livros e obra
literária propriamente dita. A morte física de autor de tão vasta produção permitiu aos choramingas de serviço acudirem a carpir a “grande perda”, como se noventa anos não fosse uma boa idade para se morrer e cem livros não constituísse espólio suficiente para se entreterem a estudá-lo no resto da vida, emboscando despedidas lancinantes na voz embargada e na furtiva lágrima ao canto do olho. Procurei encontrar uma alternativa de homenagem que não fosse mais um soluço condenado a diluir-se no oficioso pesar colectivo. Urbano viveu e escreviveu que se fartou, deixou-nos páginas belíssimas e outras nem tanto, mas que uma antologia dos melhores momentos resgatará para uma obra fundamental do ponto de vista estético literário, conquanto nos planos social e de intervenção tudo o que escreveu seja aproveitável como pista de excelência para o esclarecimento de muitas das suas obsessões (“Claro que sou um poço de contradições. Eu e todo o homem que não minta a si próprio e saiba olhar para os seus desvãos, que não se renegue nem se envergonhe de tudo o que nele possa emergir de incoerente e absurdo”) (1), mas sobretudo contribuição ímpar para a história da vida privada em Portugal num determinado período do século passado. Nesta medida procurei furtar-me ao pranto geral para dar desde já, singela que seja, uma contribuição para que se comece a meter mãos à obra e a descobrir o que seremos capazes de ganhar ainda com o colossal legado de Urbano Tavares Rodrigues. Dando-me conta de que dispunha na minha estante de
um conjunto apreciável de livros (autografados) do Urbano valorizados
por prefácios subscritos por alguns nomes de referência (nem todos,
helas) do ensaísmo literário português à época em que foram
elaborados, achei por bem reler esses textos para deles obter um retrato
do autor, sem (quase) me citar, já que fui também dos muitos a quem a
escrita de Urbano tocou e sobre ela escreveu. Interessava-me mais a
visão dos outros sobre a personagem escritor do que a dele por ele mesmo
(através dos fragmentos de espelho em que amiúde se feria), ainda que
sem negligenciar esse lado, e por isso reli atentamente Horas
Perdidas (2) em que a autobiografia não é gato escondido com o rabo
de fora mas porventura o testemunho mais sincero de UTR sobre a suas
infância e adolescência. Conquanto o outro-ele-mesmo que lhe escreveu o
prefácio vinte e tal anos depois deixasse cair no texto como quem não
quer a coisa: “Fui encontrar neste livro, que aliás pouco ou nada tem de
biográfico…”. Entre o pouco e o nada haverá qualquer coisa. De
autobiográfico, certamente.
Ciente de que um prefácio tem por fim ajudar à introdução de uma obra específica do autor junto do leitor, em regra um elogio suficientemente expressivo com vista a criar uma corrente de empatia entre emissor, mediador e destinatário, dei por mim a reflectir acerca do porquê de nem tudo ser cortês nesses excursos interpretativos feitos de palavras que à partida deveriam ser estritamente amigáveis, átrios engalanados para estimular a leitura dos trabalhos assinados pelo intrépido contador de histórias. Mas também houve aplauso incondicional. |
|||||||||
|
|||||||||
|
O “porém” Os primeiros volumes que me saltaram para as
mãos foram A Noite Roxa (3) em 2ª edição revista (1967) e Nus
e Suplicantes (4) em 4ª edição revista. O prefaciador daquela 2ª
edição considera-se um homem vulgar (textualmente: leitor mediano)
(5) nem sempre atraído pelo “itinerário” de Urbano mas que se
permite um comentário “na esquadria da sociologia literária” por nestas
coisas de itinerários haver sempre um “porém” que pode fazer agulha para
que a locomotiva se desvie do destino programado. E lá abre brecha o
“itinerário” que nem sempre tem proporcionado prazer ao leitor mediano.
O “porém” em questão era tão só a novela Escombros que inaugura a
recolha. A novela mereceria, só por si, um ensaio crítico
de fundo por razões tão óbvias que não escapam, de todo, ao olhar do
nosso mediano observador: pretende-se compatibilizar um caso de crise de
valores da juventude do pós-guerra no cenário da Berlim ainda
parcialmente em escombros, com a “narração”, que é a escrita em processo
antes de se fechar em “narrativa”, exorbitando da secura estilística
para uma prosa de reverberações, sortilégios, digressões oníricas e
psicológicas, afinal “um alarido verbal que destrói a contenção,
conquista para se não ser
afirmativo e fornecer ao leitor aquela importante margem de
dedução e de aventura que é a natureza exacta das obras de arte.” Nem o prefácio-ensaio saiu com a profundidade
desejável nem se dá por adquirido que a dedução e a aventura sejam “a
natureza exacta da obra de arte”. Teríamos de ponderar o rasgo inovador,
o prazer do texto, a perícia sintagmática, a magia, a imagética e a
imaginística, o engenho com que se gere a abundância vocabular
arbitrando a tentação do desmando sem perder de vista o que nela é
excelência, tudo escolhas pouco consensuais relativamente a uma
“contenção” que as tolhesse e lhes impusesse baias para que os textos
que daí surgissem alcançassem a “natureza exacta”, etc. Sucede que o
leitor mediano em presença, que não suporta o “alarido verbal”, teve de
se conter para gostar de Escombros e encontrar o “porém” remidor
capaz de, num lapso de trégua, o reconciliar com o estilo exuberante do
autor prefaciado. Que, por fortuna, marca o ponto na novela com todo o
seu potencial de excesso. Ou seja: com grande alarido. Não deixa de ser curioso que o prefaciador
coteje a novela, à laia de velado correctivo, com obras de Carlos de
Oliveira, Marmelo e Silva, José Cardoso Pires, Augusto Abelaira e Isabel
da Nóbrega, todos, com excepção talvez do autor de “O Adolescente
Agrilhoado”, mais impulsivo, de fonética mais musical, convergindo na
exigência da contenção e do rigor (um segundo neo-realismo inventado por
Alexandre Pinheiro Torres, uma espécie de neo-realismo chique sequencial
ao neo-realismo miserabilista do Redol do primeiro Gaibéus,
Soeiro Pereira Gomes, Manuel da Fonseca, etc., mas que deixou UTR de
fora) sendo por demais evidente que em momento algum da novela Urbano
abdicou da torrencialidade nem fez poupanças na devassa íntima das
personagens, descritas até à saturação em contracorrente com o que à
data de 1956 já era moda instalada: a personagem com pouca psique, homem
ou mulher de acção, definida por traços caracteriais sumarizados. Nesta
medida é no mínimo intrigante que o prefaciador convoque uma novela como
O Anjo Ancorado, de José Cardoso Pires, para parente próximo ou
afastado, pouco importa, dos Escombros de A Noite Roxa. A
menos que fosse para dar um exemplo de como se fazia. Esta é a fase de Urbano Tavares Rodrigues na
qual insistirei por me parecer, ao contrário daqueles que se apressaram
a encaixotar a sua ficção num neo-realismo que ele só aflorou, ou nem
isso, forçado pelas circunstâncias (ou, dito de outra maneira, pelas
circunstâncias que ele próprio forçou para cumprir o projecto próprio de
transformação do anti-herói em herói que desse verniz cívico à imagem do
escritor aclamado) e, diga-se, bastante tarde, quando já havia cumprido,
e bem, um itinerário “marcado pelo existencialismo” e pelo seu “exílio
doirado” (Jacinto Prado Coelho) de leitor de português em França de Porquê Albert Camus metido nisto? Esta chamada a Albert Camus é parte de um desvio
que permite perceber quão fundo e longe foi a influência do
argelo-francês na colheita existencial do novelista português. Com a
mania que Urbano tinha de publicar em livro tudo o que acidentalmente ou
não lhe acudia à pena (até eu fui contemplado) parecia-me impensável não
haver referências a essa empatia para se ter uma ideia da dimensão de
tal “paternidade intelectual”, mesmo se os notáveis compatriotas (Óscar
Lopes, Jacinto Prado Coelho, Álvaro Manuel Machado) a deixaram implícita
ou explicitamente mencionada nos seus escritos. Modernamente, Urbano, no
afã de menorizar tal “fase”, não dava mais ênfase a essa dependência do
que a outras, designadamente a de Malraux, e foi preciso vasculhar num
livro de viagens, aliás notável e que eu não conhecia
(8) – a caução de uma
estima que extravasou da admiração pueril do jovem fascinado pelo brilho
do escritor maior que nele terá intuído, talvez, a centelha dos
predestinados no decurso de um relacionamento pessoal esfusiante. Se Camus era, de alguma maneira, à época, a
maior referência do escritor português, aquela que o fascinava acima de
todas as outras, pelo exemplo de probidade intelectual que dela
transcorria, pela arguta teorização da revolta individual e pelo seu
papel na resistência ao alemão invasor da pátria cultural, e, por
último, uma consciência comum do absurdo da vida – factores de
convergência intelectual – diferenciava-os as origens, a de um, a da
pobreza juvenil e atormentada de que todavia se orgulhava, a de outro, a
folga em teres e haveres de menino bem-nascido que se envergonhava de
ser rico, complexo de inferioridade patente/latente em muitas das
personagens da sua ficção. Havia, contudo, outras afinidades
interessantes entre ambos: os dois tinham combatido a tuberculose; a
obsessão da morte era-lhes familiar, agudizada pelo internamento
hospitalar; nutriam reduzido apreço pelas respectivas primeiras obras;
gostavam de mulheres e eram predadores. Que o diga Sartre ao ver a “sua”
Olga (9) receptiva ao charme do criador de Calígula. De Urbano,
então, nem se fala. Ou falaremos mais tarde, quando vier a talho de
foice D. Juan e o donjuanismo.
De Florença a Nova Iorque
oferece-nos a seguinte, exuberante, pista no capítulo Primeiro
encontro com Albert Camus, Paris, Dezembro de 1953 (uma entrevista
para o Diário de Lisboa): “Trazia já preparado um respeitável
quesito, quase solene, muito filosófico: afinal, animado pela simpatia
daquele sorriso irreverente, que pronto encontrava eco na minha
sensibilidade, saí da pele do jornalista mundano e literário que em
certas alturas é conveniente enfiar, e, quase sem garatujar uma linha no
papel, pus-me a discorrer com Albert Camus pela obra dele que tão
sincera e profundamente admiro.” Da descrição da entrevista vale a pena sublinhar os
seguintes pontos: “Após as primeiras palavras senti que um contacto
humano se estabelecia entre nós.” “No Calígula, no Estrangeiro, via
eu a rebeldia desprovida de sentido, revolta que já n’ A Peste
assumiria aspectos mais aparentemente positivos para ganhar com O
Homem Revoltado uma nitidez e um valor construtivo que seriam o
resultado de uma harmoniosa evolução espiritual.” “Concordámos em que o aspecto mais importante em
O Estrangeiro á afinal uma moral da sinceridade.” “Este homem, de saúde frágil, cuja obra é das mais
significativas do momento presente, tem ainda muito que dizer ao mundo e
ele sabe-o.” “E senti então, mau grado o desencanto que já me
vai atingindo, desencanto das coisas e dos homens, senti plenamente que
estava a viver um momento grande da minha existência.” “Desta vez [opinião sobre Calígula] com
grande satisfação da minha parte, obtenho a inteira concordância de
Albert Camus.” “Essa entrevista de antemão pensada, imaginada a
frio, convertera-se numa hora
para mim inapreciável de convívio espiritual.” À medida que Urbano evolui para um estádio
ideológico superior ao do homem revoltado, o elogio da influência do
escritor de Mondovi no despertar da futura estrela portuguesa vai
esmorecendo. Ao longo dos anos a referida dependência será cada vez
menos recordada. A morte prematura de Camus pode mesmo ter representado
uma espécie de libertação da tutela espiritual de alguém que não viveu o
suficiente para mudar de campo. Nas palavras de despedida perpassa a
vaga sensação de um reparo: o de o autor de A Peste não ter
ousado mais. (“A lenda fará dele o campeão solitário – e solidário – da
dignidade. Mas que teria dito ainda Albert Camus – perguntamo-nos – se o
destino entre nós o retivesse?”) É certo que o elogio fúnebre comporta o
reconhecimento da admiração privilegiada: “Porque a sua obra e a sua
maneira de encarar o mundo marcaram fortemente toda a minha juventude e
até muito do que tenho escrito e daquilo que sou me doem os equívocos em
torno de Albert Camus.” Mas também se lê na mesma peça estas palavras a
prevenirem – talvez – uma mudança: “É que não há talvez uma
verdade, mas verdades contrárias e necessárias, de cujos choques
precisamente resultam as grandes correcções dos movimentos dos homens.”
Voltemos ao “porém”. É um tanto ou quanto desajustado relacionar as personagens inconstantes de Escombros com uma sociedade em decadência tomando por referente simbólico uma Berlim ainda esventrada mas que recuperará a médio prazo, sendo que só Wolfgang é alemão, a escarafunchar a subsistência como guia turístico no seu país depois de o ter servido, não se nota que a contra gosto, nas fileiras nazis. Trata-se, de facto, de quatro destinos individuais que se cruzam sem que devam considerar-se sintomas de uma qualquer iminente vaga de fundo social cuja vocação nuclear fosse banir tal gente do mapa de uma só vassourada. O português Jacinto e as peruanas do corpo diplomático, residentes flutuantes, mantêm uma relação triangular ambígua, e é o espectáculo da tragédia do jovem, auto recriminatório, farrapo humano aos seus próprios olhos, de ânimo tão em baixo, o pobre, a querer alinhar-se por uma ética em que encaixe a sua imperiosa necessidade de passar a ser outra pessoa, o que alenta este conto moral, ou como lhe chamaria Óscar Lopes, exemplar, caso fosse de dar importância às fantasmagorias da má consciência, do remorso e da culpa. Não sem que o protagonista tirasse previamente a barriga de misérias ao experimentar a grande vida à pala da disponibilidade sexual da “diplomata”. Existencialista? Niilista? Desistente? Náusea e pessimismo? Flagelação masoquista? Os ingredientes do mal-estar existencial / individual estão lá intactos. Fica, pois, no ar a pergunta: em que medida este Jacinto não é outro senão o Urbano Tavares Rodrigues daquela altura? Deve ser doloroso tirar-se partido daquilo que se quer destruir (na circunstância sem saber bem como), já o dizia, por outras palavras, o endiabrado Voltaire. Não será esse o crime de lesa consciência que arrasta na lama o protagonista que em tão pouca consideração se tem? Há ali muito de Camus, sem dúvida, que em certas horas depressivas também não se tinha por grande espingarda.
|
|||||||||
|
|||||||||
|
“Demasiado adjectiva” O prefácio de José Carlos Vasconcelos é
contribuição valiosa para o enquadramento da obra ficcional de Urbano
Tavares Rodrigues, quando o escritor leva já dezoito anos de vida
literária activa, ou talvez bem mais de vinte se se considerar que
Horas Perdidas (10), como o próprio Urbano escreveu, é de
fabrico muito anterior a A Porta dos Limites.(11) E se não
entrarmos em linha de conta com Santiago de Compostela,
Quadros e Sugestões da Galiza (12), o livro de estreia – a estreia
das estreias. Contudo, o amigo JCV põe o dedo em várias feridas, a par
de justos elogios, no exame a que procede à obra do amigo Urbano, com a
vantagem para o leitor de ficar perante uma visão abrangente do percurso
do homem de letras, da obra e do cidadão, que muito o ajudará a situar
uma e outros. Em vários pontos convergimos, eu e JCV, com algumas
nuances, como quando escreve: UTR é um daqueles escritores de quem
interessarão apenas, para o futuro, as obras escolhidas, e nunca as
obras completas. Concordo, como atrás referi, que a separação do
trigo do joio proporcionará uma obra estético literária de enorme valor
mas discordo do tom peremptório da profecia
– agora que as obras completas
andam por aí – recusando a ideia de que tudo o que daquela reste não
passe de lixo irreciclável. Mesmo o joio tem que se lhe diga.
Implicando-se Urbano como se implica nas suas histórias e nas suas
personagens, nada do que escreveu é desperdício: é, antes, achega
importante para a caracterização do
ar do tempo e digno de estudo
a vários títulos (histórico, sociológico, psicológico) para além do que
o cânone literário entenda capturar da obra imensa para depositar no seu
relicário de obras chave. O homem Urbano Tavares Rodrigues, na
contradição vital é, em si mesmo, uma amostra surpreendentemente nítida
da viagem de menino do regime, de origem latifundiária e passando com
demora pela angústia existencial (em 1960 era ainda Freud quem lhe
fornecia a epígrafe para Nus e Suplicantes), até à “conversão”
comunista “por paixão” que conheceu o clímax vermelho nos idos de
setenta e cinco no regaço do PCP (em Exílio Perturbado (13)
Adrien era alguém “de vistas curtas e obstinado como todos os
comunistas” e no mesmo romance o esmagamento, pela tropa soviética, da
insurreição húngara de 1956 era condenado sem rebuço). Um exemplar com
muitas cópias neste país mas que como poucos se soube dramatizar,
capitalizando medos e angústias na tragédia pessoal que deu fôlego a uma
literatura de ambição universal ao fazer nascer do anti-herói falhado o
herói positivo, vencedor, clone de um certo homem português capaz de se
converter no outro após suplantado tormentoso sismo mental.
Aliás, estou parcialmente de acordo com JCV ao
classificar A Porta dos Limites “das suas obras mais débeis” mas
“das que podem ter maior importância para o estudo da trajectória do
escritor” (a minha não unanimidade prende-se com a adjectivação
débeis). Esta leitura de amigo vai encontrando pelo caminho
alguns escolhos por entre áleas de encómios. Vejamos os escolhos: “… uma prosa tendo a servi-la um grande arsenal
vocabular, que ali e além é pletórica, e por isso de mau gosto e que
frequentemente se tem perdido (embora cada vez menos se venha perdendo)
porque demasiado adjectiva.” “… Uma construção romanesca e uma efabulação em que
amiúde é bem visível a falta de amadurecimento das (apressadas?) obras –
o que resulta, como é natural, do ritmo de produção e publicação a que
atrás me referi.” “Disto resulta que eu – e o mesmo deve acontecer a
muitos dos seus leitores – sempre saia dos livros de Urbano com a
impressão de que ele é melhor escritor do que aquilo que escreve…” “De resto esta novela [Nus e Suplicantes]
– pungente e rigorosa em tantas páginas, excessiva e melodramática em
algumas outras – dá-nos do melhor e do pior (ou do menos bom se se
preferir) de Urbano…” “…(um amor em que o sexo tem lugar de larga
preponderância e por vezes atinge mesmo a obsecação ‘sic’)…” Dama de trunfo: “… um exercício de
especulação, não muito convincente, a partir do clássico triângulo
amoroso.” JCV nota com justeza: UTR “cada vez mais tende
para uma aproximação do real e uma intervenção na circunstância
portuguesa”. Já então Urbano teria aderido ao partido comunista (1969) e
sofrido no cárcere os rigores policiais tanto do salazarismo como da
“primavera” marcelista. Em Nus e Suplicantes, todavia, o
incompleto livre pensador ainda esbarra na ilusão de Deus. Em plena
cisão crística, segue a reboque da amante “católica progressista” que em
risco de vida lhe encomenda uma surtida a uma igreja do Rio de Janeiro
(à primeira que encontrasse) com a missão de implorar o milagre que a
salve. E o nosso apóstata de trazer por casa lá partiu para uma patética
deambulação até encontrar o templo onde, em vão, rezou a Deus e a todos
os santos e santas da sua corte de que se lembrou das águas passadas,
pela cura da bem amada. Deus, nessa altura, fingiu estar a passar pelas
brasas, negando-se a atender as (pouco dignas de confiança) preces do
inusitado intercessor. O misticismo cristão, mesmo nos primeiros livros
de UTR, raramente é temática axial, talvez porque a fractura vem muito
detrás, dos treze anos, disse ele (“Hesitei radicalmente entre Deus e o
Socialismo”) (14). Do que quer que seja hesitação radical e o
Socialismo entrevisto na paisagem do Alentejo, do lado da burguesia
suserana e terratenente, em tão recuada idade (“passei toda a infância e
a adolescência na província, Lisboa era-me ainda e ser-me-á uma cidade
estranha”, Dissolução) (15) pouco há a dizer, fica ao arbítrio de
cada um avaliar a extensão do conflito interior e as consequências
externas mais visíveis dos “riscos angustiadamente assumidos.”
Curiosamente: da radical hesitação na puberdade terá resultado
tombar para o lado de Deus? Quase treze anos depois dos 13 – aos 26
incompletos! – Urbano saúda “A Espanha de uma nova cruzada, em prol de
Cristo, contra os modernos inimigos da fé” no supracitado Santiago de
Compostela. Passo a palavra ao escritor galego Carlos Quiroga, (16)
que leu atentamente o livro e o comentou assim, no respeitante aos dois
primeiros capítulos: “retratam sem valorização aparente a instrumentação
político-religiosa de Santiago e do Apóstolo por parte do franquismo.”
Inocentemente ou não Urbano faz vénia à tralha aderecista do novo
ditador: “os falangistas de elegantíssimos uniformes, os estudantes com
a sua ardência bélico-religiosa, o sentido patriótico desta manifestação
de fé”, a indissolubilidade de dois valores: “Cristo e Espanha”. O
acrítico repórter que valoriza a encenação do “jacobeu franquista”,
empolgado com o que viu e sentiu, abre feridas que só o tempo há-de
curar. E vai curá-las com sangue, suor e lágrimas. Em 49 começaria por marcar presença na Voz do
Operário, a “aclamar” o general Norton de Matos “numa maré alta de
esperança do povo português.” (17). E o Socialismo com que se
confrontara seria, segundo ele, uma espécie de “socialismo cristão.”
(18) Isto não invalida que Urbano possa ter sido uma “esperança” da
“Situação”. Seu pai era, por essa altura, malgrado o passado
republicano, o redactor principal do Diário de Notícias, e
Santiago de Compostela traz a chancela editorial da Empresa Nacional
de Publicidade, ambos oficiosos porta vozes do regime; o prémio Afonso
de Bragança, que UTR recebeu, fora instituído pelo Secretariado da
Propaganda. O jovem e garboso cavaleiro que agora posa, equipado a
rigor, na sua montada, em fotografia de época, pronto para o galope, a
qualquer momento, nas planícies do cyberespaço, dá poucos ou nenhuns
indícios de vir a tornar-se um dia “aliado da classe operária”. (19) Não é hipótese a descartar que Urbano Tavares só se
tenha despegado da ganga situacionista quando cumpriu, longe da pátria,
o “mandarinato” francês, encandeado, primeiro, pelos surrealistas,
depois rendido ao existencialismo, mas apercebendo-se então, vendo e
lendo a pátria do exterior, quanto havia a fazer para se alcançar no
rectângulo ibérico uma felicidade que não fosse o seu simulacro.
Acho provável que nessa altura Urbano tenha ganho a “perspectiva”
que o levará mudar de rumo ideológico do que acreditar em histórias como
a de que era marxista desde pequenino.(20) Louve-se nas páginas inaugurais de Nus e
Suplicantes a esplêndida cena erótica, certamente das mais belas da
literatura portuguesa, e o divertidíssimo O Falso Pesquisador,
conto em que o escritor alardeia um reportório satírico-sarcástico que
em outras peças haveria de consolidar como dos seus mais apreciados
atributos. Mano a mano Quando José Carlos de Vasconcelos no
prefácio-estudo atrás mencionado realça a narrativa que eu tenho por
autobiográfica Horas Perdidas como ponto de partida fundamental
para se compreender a tortuosa caminhada iniciática de Urbano na arte e
na vida, alude a uma “muito esclarecedora nota introdutória” naquele
volume, subscrita pelo escritor, em que este afirma: “… a verdade que
aqui se procura não é rigorosamente a do facto histórico, mas uma
verdade subjectiva e uma verdade de geração – a inquietação e a dúvida –
de certos jovens dos anos 40.” No prefácio à segunda edição, Miguel
Urbano Rodrigues (21), explica e acrescenta essa nota. O meu exercício de leitura crítica não chegou
tão longe quanto pretendia, uma vez que o próprio UTR me facilitou a
vida. O esvaziamento catártico de uma “verdade” puramente individual ao
recuperar um texto de juventude em que a trama se entretece de
fragmentos desgarrados de romantismo social que nem como estereótipos
convencem e de desgaste egoísta de um ser humano em conflito com o mundo
que o não compreende, é de uma transparência total. Nisso, o irmão
Miguel tem razão quando escreve: “A saída para essa contradição não
resolvida [ir ao encontro das lágrimas, dos rogos, dos clamores da
humanidade] – e imperfeitamente consciencializada – era quase sempre
o refúgio numa meditação existencial que só podia abrir as portas de uma
falsa cultura humanística que não conduzia à fonte da alienação.” E um
pouco mais à frente: “A indignação, a revolta sentimental desses jovens
eram tão estéreis como o fora a cólera dos Tchernichevsky contra os
representantes da autocracia russa.” Miguel chama a si a nobre missão de
“proteger” o irmão contextualizando a sua literatura num tempo de
trevas, libertando-o da responsabilidade de não ter assumido então um
papel, na sociedade das desigualdades, consentâneo com o desejo de
intervenção, por falta de perspectiva, de horizonte, de estímulos à
vivência partilhada, típicos de uma sociedade totalitária no seio da
qual crescera a braços com as interrogações ontológicas, sem resposta,
que não o largaram nesse crucial período. Todavia, deixo claro que a narrativa depoimento
prescinde bem da falta de perspectiva política, pois desta se trata, ao
expor o homem sem qualidades, passe o roubo da expressão (Musil), que
assim se auto retrata, nos verdes anos, na sua mais crua e íntima
“verdade”. Urbano descarta a possibilidade de se tratar de um texto
biográfico. Discordo. Repare-se no que ele escreve: “Fui encontrar neste
livro uma imagem de mim (porque o autor sempre infalivelmente se
projecta nas suas invenções) (22), que já não coincidia [afinal tinha
coincidido um dia…] com a de agora, esse ‘eu’ dos vinte anos”; e
aludindo à “relutância em mexer nos fantasmas daquele tempo” como se o
fantasma não fosse conatural à reminiscência e ao tráfico íntimo dos
sentimentos do passado. O pior é que este fingimento ressoa nos tempos
modernos de uma maneira perfeitamente desconcertante. E se lessem o
livro, para variar? Urbano sugere no seu texto uma data de execução,
Maio de 1945, talvez para lhe justificar hipotéticas ingenuidades
conceptuais e formais, mas o que leio na segunda edição “revista” (só se
foi para limpar vírgulas ou reposicionar pontos finais e parágrafos), é
um texto guiado pela “mão” do escritor experimentado e não pela do
principiante que teria sido capaz de reunir, quanto muito, apontamentos
de sensações mais tarde aproveitáveis como matéria para um livro. E se
Urbano queria manter a escrita da idade da “frescura” por que raio de
impulso deu à luz um texto já com a marca de água do escritor feito?
(Veja-se, por exemplo, a prosa canhestra de Tempo de Cinzas). Em
todo o caso, as coisas são o que são, ficaram como o autor quis que
ficassem para que também os seus leitores as aproveitassem como
quisessem, e, por mim, coloco esta obra entre os escritos de juventude
que mais vivamente me impressionaram, pelo seu poder de choque, pela
lucidez implacável posta no julgamento dos outros, pelo fel da culpa
própria escorrendo de dolorosa autocrítica, pela incompetência amorosa
de quem não domina ainda a gramática dos afectos, pelo surdo rumor da
querela familiar (os pais), enfim, por todas as mazelas que trazemos
escondidas e nos moldam os aspectos, os ressentimentos, as relações de
parentesco, e nos tingem a memória de pecadilhos que um pouco mais de
azul teria evitado nos anos de formação da personalidade, aqueles em que
as “sequelas do passado deixam marcas indeléveis”(MUR). Urbano disse
algures que não se importaria de banir Horas Perdidas da sua
bibliografia. Ainda aqui um paralelismo com Camus, autor que aos vinte e
dois anos escreveu O Avesso e o Direito, livro que teve uma
edição minimalista na Argélia, o qual só foi reeditado vinte anos depois
contra a sua vontade, a instâncias de um amigo, porque “aos vinte e dois
anos, à excepção do génio, mal se sabe escrever.”(23) Mas se pensarmos que desta inquietação, desta
raiva, desta diabólica corrosão se cria o alicerce da mudança imperiosa,
e quando se muda para voos de grande rasgo como aconteceu com Urbano,
então talvez se valorize melhor a experiência por que passou quem se
sentiu mal amado na melhor idade da vida – escassos amigos, escassos
amores, escassa auto estima, a doença – e que a literatura, a grande
literatura, resgatou de um provável destino sombrio para uma viagem
gloriosa que cobriu todas as intensidades da existência de modo
avassalador e quase sempre compensador. Óscar, o mesmo em várias edições Óscar Lopes foi um prefaciador afortunado de
As Aves da Madrugada (24). Ao elaborado estudo que dedicou à segunda
edição (1966) do livro li-o pela primeira vez quando ia na terceira
(1970) e vim a recuperá-lo na quinta (1990), antolhando-se-me lógica a
inclusão do ensaio nas reedições intermédias a que não pude aceder.
Trata-se de um texto indiscutivelmente caro ao ficcionista e não menos
indiscutivelmente esmerado na abordagem à obra, não escamoteando o
crítico ilustre aspectos que lhe mereceram reparo, mas exercendo essa
prerrogativa com a mesma compostura com que releva as páginas dignas da
sua atenção, sempre com judiciosas justificações do agrado e do
desagrado. Foi talvez reconhecendo a seriedade e a densidade da análise
de Óscar Lopes que Urbano Tavares Rodrigues o quis associado ao sucesso
de público atestado pelas reedições do livro. É significativo que Óscar Lopes haja escolhido
para primeiro conto no seu exórdio aquele que o autor decidiu colocar em
último lugar na hierarquia do volume. Mesmo que assim seja merece
dois tipos de apreciação indissociáveis das parcelas de carácter que vou
capturando dos juízos dos outros sobre UTR: em primeiro lugar a
descoberta da coragem individual adquirida por um preso político, Ramón,
depois de submetido a tortura numa hipotética enxovia centro-americana;
e em segundo o poderoso enunciado das condições de reclusão de três
homens numa apertada cela de diminutas dimensões privada de luz, húmida,
inabitável, onde a doença que se propaga graças a esse ar irrespirável,
putrefacto, faz a primeira vítima. Trata-se, segundo Lopes, de um “conto
exemplar típico” em que “todos os recursos da arte de recontar convergem
aqui numa lição ética que é a de O Mito de Sísifo (25), de Camus:
exige-se que o leitor, tanto quanto possível, imagine como suas as
medonhas circunstâncias do herói, e que sobretudo aceite a
verosimilhança, ou, mais do que isso, a necessidade íntima de um
protesto sem esperança.” Isto é: o ensaísta preferiu iniciar a sua
apresentação pelo conto de que menos gostou, justamente pela
exemplaridade didáctica nele vislumbrada da superação do medo e da
ascensão à coragem mediante uma prova de resistência de que o Eu do
protagonista é o único espectador, o único beneficiário do gesto
rebelde, o único juiz, o único cúmplice. Eu acrescentaria alguma coisa
que pelo menos atenuasse a presunção de gratuitidade do heroísmo
individual: sendo o médico Ramón um céptico “distante” das questões da
política o facto de estar na cadeia nas mesmas condições dos dois
companheiros introduz uma noção de anterioridade/intencionalidade não
inocente. A anterioridade supõe já atitude fruto de um rebate de
consciência ainda não objectualizado em engajamento mas suficientemente
entranhado para o conduzir à masmorra. Apenas o motivara a “liberdade”,
a falta dela, explica, por ele, o narrador. Logo, o acto do herói
romântico ao cuspir no polícia que o tenta aliciar, é parte já de um
subjectivo alarme cujo ponto de partida não foi ali, ainda que a
intencionalidade traísse uma difusa predisposição para o combate. A chamada de atenção de Óscar Lopes para o
chapéu de chuva camusiano aponta para a influência primordial daquilo a
que Urbano passou a chamar a sua “fase existencialista”, mais próxima de
O Homem Revoltado (26) do que do homem revolucionário, como já
vimos. A colocação simpática dos reparos vem de mãos dadas com o
escrúpulo do historiador de literatura. Lopes, não o esqueçamos, é
co-autor da famosa História da Literatura Portuguesa, de parceria
com António José Saraiva, que constituiu durante decénios o melhor
instrumento de consulta sobre quem é quem e porquê na república das
lusas Letras. A honestidade intelectual a que uma tal cátedra obriga
leva OL a uma polidez relacional em que o ideário próprio se apaga
habilmente no tom neutro da equidistância táctica, “escolar”, ainda que
os indícios da racionalidade marxista aqui e além aflorem como quem não
quer a coisa. Ora custe o que custar ao realismo socialista de matriz
jdanoviana, não se pode enxotar borda fora o “existencialismo” de UTR
como se vinte ou mais anos “daquilo”, sempre em produção acelerada, nada
quisessem dizer. Dando de barato que Camus terá sido a mais sólida
referência de Urbano nessa altura e talvez com o “defeito” de as suas
personagens serem mais “vulneráveis” e “contraditórias”, logo de índole
mais fraca, do que as do autor de O Estrangeiro (27), é no
“terreno” que essa influência se torna mais directamente apreensível.
O mesmo raciocínio recai sobre um outro conto da
colectânea, Margem Esquerda: “A lição negativa do desfecho, a
moralidade a contrario sensu – isso é que fica a oprimir-nos como
estigma de um pessimismo histórico sem perspectivas… Voltamos assim à
ética camusiana do Mito de Sísifo que tínhamos encontrado no
primeiro conto atrás comentado.” Também o conto As Aves da Madrugada
não recolhe de OL completa aprovação: “O escopo de tal conotação não
cobre todavia os recessos todos da história […] paira uma certa
inconsistência entre a finura fenomenológica das melhores páginas […] e
a conotação fraseológica, mais ou menos vulgar, da protagonista.”
Surpreendemos o ensaísta a exprimir-se desta forma: sente-se “por vezes
a veia estilística inestancável de Urbano Tavares Rodrigues inchar em
certa amaneirada redundância por culpa dos coágulos da exemplaridade
prevista.” Naturalmente que a minha recolha, desconexada de
frases ou segmentos de frases que longe de serem desprimorosas não
excluem os contextos em que se entrechocam sensibilidades, diferenças
culturais e propósitos políticos, impõe a leitura integral do estudo de
Óscar Lopes no qual também se lê que UTR dispõe de “todo um órgão de
registos lexicais, fraseológicos e trópicos de tal modo que poderiam
caracterizar-se, só neste livro, nítidos diferenciais de estilo para
cada história, se vagar houvesse para tanto.” Mas não é tudo sub-repticiamente passível de
controvérsia neste laborioso exercício, embora o pareça. Há um conto que
fascina o leitor crítico como fascina o leitor comum: A Prova dos
Nove. Virtualmente autobiográfico, como quer OL? Liminarmente
autobiográfico digo eu, e comigo, quase toda a gente interior ao
assunto. Encontramos aqui o Urbano genuíno, sem máscaras, que já
conhecíamos de Horas Perdidas, o Urbano protagonista no seu
próprio “conto” completamente à solta a falar de si e dos seus, do
habitat da burguesia do campo, do monte alentejano, da herdade, dos
cavalos, do reconhecimento da superioridade intelectual do irmão, do
lugar de origem do grande remorso, que o acompanhará toda a vida, do
menino rico envergonhado de o ser resvés à pobreza dos que o rodeiam e
servem. Que o conto vale o livro, pela autenticidade, não o esconde OL,
sobretudo porque dele saem, com límpida nitidez, as linhas de fractura
que sedimentarão na personalidade de Urbano Tavares Rodrigues, na vida
como na literatura, a “má consciência” que presidirá à evolução do
escritor e do homem, perseguido pela sombra do irmão exilado no Brasil,
até aos limites da dor, da dádiva e da paixão com que lavará a “culpa”
do pecado original: o não ter nascido pobre quem se arvora em defensor
dos pobres.
Autor “corrige” prefaciador O ensaio de Álvaro Manuel Machado que prefacia a
2ª edição de Terra Ocupada (28) viria a desencadear uma das mais
pitorescas trocas de palavras de que há memória nos anais da literatura
portuguesa: num mesmo livro o autor puxa as orelhas ao seu prefaciador.
Aparentemente a editora pediu um prefácio a AAM sem conhecimento de UTR;
este terá sido surpreendido por algumas das considerações avançadas no
texto preambular. Mais uma vez o espírito do prefácio como
“apresentação” ou “introdução” foi ultrapassado pelo “estudo”, sendo
que, polémica à parte, há razão dos dois lados para que o leitor fique
grato pelo insólito qui pro quo, pois se num caso, o do autor, a
correcção de perspectiva o ajuda a impor a figura do homem de acção que
já não se quer confundido com as suas lastimáveis personagens de outros
tempos, o prefaciador descuida esse particular, preferindo concentrar-se
num juízo de valor que vai buscar ao historial remoto os traumas
responsáveis pelo tipo de pessoas de que são projecções os intérpretes
da ficção sob rastreio. Também por aqui se adivinha a flecha
“existencialista” na difícil tarefa, do escritor, de adaptar os seus
modelos ao homem que deles se desprendeu, pelo menos na vida real e pela
via exigente da coragem física. A nota correctora de Urbano Tavares
Rodrigues põe duas coisas em circulação que não têm a ver com a prosa
visada: a de que Álvaro Manuel Machado dele recebeu apoio quando se
refugiou em Paris “onde há muitos anos chegou com fome de muitos dias e
com a camisa que levava no corpo”e que o prefaciador tinha “desistido do
futuro”. São lamirés deixados um pouco ao correr da pena com endereços
terceiros e todavia ressaltados pelo tom desgostoso da réplica. Mas o
que Urbano mais vivamente contesta, não sendo embora necessariamente o
que mais lhe dói, é a depreciação do neo-realismo num texto que lhe é
dedicado em território próprio, o seu livro, reiterando admiração por
escritores como Fernando Namora, Carlos de Oliveira, etc., isto porque,
à margem desse movimento, dele gradualmente se foi sentindo próximo
tanto pelo engajamento partidário como pelas relações de amizade e
solidariedade mantidas com vários daqueles confrades. De Álvaro Manuel
Machado diz ter ele “repudiado” o neo-realismo. É este o ponto exacto que a susceptibilidade de
Urbano deixa à vista: quando AMM escreve ter redundado em fracasso a
iniciativa neo-realista de acabar com a transcendência da arte, ou antes
da arte defendida pela geração da Presença, o prefaciador quis deixar
clara a distância em relação ao movimento por si considerado
“pragmático”, amabilidade sua para não lhe chamar limitado ou redutor.
Ao recusar-se a cortejar o neo-realismo como uma vaca sagrada, e não o
censuro por isso, omite, porém, a evolução estética de vários escritores
dessa área; não desperdiçou, no entanto, a oportunidade de fazer chegar
a mensagem, às cavalitas do livro de Urbano, aos extractos sociais
pequeno burgueses e burgueses tout court que constituíam então o
leitorado maioritário do escritor. A coisa talvez não se lhe
apresentasse translúcida lá no exílio parisiense, mas na verdade Alves
Redol evoluiu enormemente em termos, digamos, artísticos, ao ponto de
Barranco de Cegos (29) estar cotado como um dos romances portugueses
de referência do século XX, e de ter ousado experimentar em O Muro
Branco algumas das técnicas “extravagantes” do novo romance. Sem
esquecer Não há morte nem princípio (30), romance também receptor
de implantes heréticos de idêntica natureza, da autoria de um dos mais
exigentes teóricos neo-realistas da primeira fornada (aquela que
pretendia acabar com a transcendência da arte), Mário Dionísio. Para não
falar do extraordinário apuro formal da poesia de Carlos de Oliveira, em
detrimento do seu conteúdo de “esquerda” e da deslizante demarcação de
Fernando Namora do “verismo superficial” por si atribuído à primeira
fase do neo-realismo e que José Palla e Carmo, clarificando, arredonda
depreciativamente para “naturalismo”. (31) Fora os dois pontos de fractura que o outro
Urbano, o do depois, já homem positivo pela acção, achou por dever
questionar, o seu estudioso leitor mostra-se empenhado em executar um
plano de trabalho em muitos aspectos revelador do “efeito Albert Camus”
no escritor português, fazendo apelo à obra O Exílio e o Reino
(contos em que aquele autor, menos céptico do que em realizações
anteriores, opõe a noção de exílio, ligada a uma vida infeliz,
plena de angústias e de falsidades, à de reino, a existência
solar, afirmativa, empreendedora, resultante de condições históricas
favoráveis a uma expansão harmoniosa das sociedades.) Parece-me correcto
e cirúrgico, ainda que não primando pela elegância, o perfil da
personalidade analisada através da própria obra: “Refiro-me à oposição
entre, por um lado, uma consciência de desenraizamento por motivos
históricos e sociais bem definidos e a necessidade de acção imediata que
acompanha essa consciência, e por outro lado um narcisismo essencial que
se manifesta na maior parte das vezes por um erotismo convulsivo, sempre
intimamente ligado à morte, erotismo através do qual as ideias, ou
melhor, a percepção do que muda ou pode mudar se dissolve,
transformando-se num sentimento de indefinida nostalgia e de culpa.” Há no enunciado das
funções de representação certos jogos de cintura que põem em causa a
idoneidade de algumas das personagens de UTR, a maioria das quais se
fica pela “imitação” ainda que outras – a minoria – atinja um grau de
“compreensão humana”, queira isto dizer o que quer que seja posto assim,
que as absolve dos modos de ser imputados às demais. Habilmente, o
ensaísta funde na crítica severa convocada para ilustrar o seu
pensamento palavras elogiosas ao chamar à liça “um dos melhores e mais
significativos livros de novelas de Urbano Tavares Rodrigues”,
Imitação da Felicidade.(32) Não obstante, Machado vê/lê a
enfarruscar a genuinidade do conjunto de contos e novelas “um corolário
de imitações” tão forte quanto esclarecedor: “imitações do amor, da
aventura, da acção política, da felicidade e mesmo do sofrimento.” A
aparente contradição de se dizer bem de um livro que contém, da flor da
pele ao interior mais escuso, o elemento responsável pela debilidade
estrutural constrangedora de que é acusado, não é isenta de malícia se
examinado o lastro deixado depois de si –
a sensação de quem fica a meio de uma
acção cujo objectivo implicaria chegar ao termo dela. Imitar é ficar
aquém da meta almejada. Numa perspectiva epigonal o conceito poderia
estender-se ao modelo influente na produção literária de Urbano, Camus,
mas a táctica de Machado contorna a comparação frontal, solicitando a Sá
Carneiro o projéctil com que completa o tiro: “Tudo nestas personagens e
na história das suas vidas é o “estar entre” de que falava Mário de
Sá-Carneiro, o incaracterístico, a hesitação infinitamente prolongada ou
pura e simplesmente a desistência.” Curiosamente também Camus esteve
“entre” na obra de que “transparece a “ideia do equilíbrio” que
incessantemente procurou: entre o que sou e o que digo.(33)
Álvaro Manuel Machado encerra o seu estudo com
uma tentativa de conciliação entre o exílio e o reino,
impondo a figura do autor de A Peste, tal como Óscar Lopes
apoiado no Mito de Sísifo, como referência tutelar do surreal /
existencial na obra coeva de Urbano Tavares Rodrigues, para quem a
revolta individual foi etapa necessária na evolução até ao homem social
mitificado pelo programa marxista ainda que a componente de “paixão”
dessa evolução, por ele reivindicada, introduza uma dimensão romântica
(bloqueio narcisista mal disfarçado?) decerto pouco simpática aos olhos
e às mentes dos ortodoxos do materialismo dialéctico. Não se trata bem
de estar “entre” porque Urbano Tavares Rodrigues deu exuberantemente
largas ao seu estatuto de convertido ao comunismo, no pico da revolução
de 75, com o mesmo grau de exigência fundamentalista dos puros do
sistema, enquanto “aliado” da classe operária. Isto não o poderia Álvaro
Manuel Machado então saber. Mas talvez o tivesse premonido ao “desistir”
tão ostensivamente do “futuro”, livrando-se de uma vez por todas de
companheirismos espúrios e reivindicando essa diferença onde mais
custoso se torna ao destinatário aceitá-la. Indiferença foi o que não
obteve do escritor analisado. É extremamente curioso que no II volume das
Obras Completas cuja edição em dez tomos está em curso, Manuel Gusmão,
no seu prefácio, venha inadvertidamente “vincular” a narrativa de UTR a
um neo-realismo do qual ele não esteve esteticamente próximo (salvo no
breve período revolucionário que se seguiu ao pronunciamento militar de
25 de Abril de 1974). E como a adesão do escritor ao Partido Comunista
foi um caso de “paixão”, também é ideologicamente discutível que a
racionalidade de que o neo-realismo se reclama tenha sido causa
inapelável do seu alistamento. Ouçamos o amigo Albert Camus a este
respeito: “[…] sonhar com a moral quando se é um homem de paixão, é
votar-se à injustiça
exactamente quando se fala de justiça.”
(34) Ora o escritor português é “eleito” por Gusmão à dignidade
de “neo-realista canónico” no que penso ser gralha ou efeito de
linguagem mal colocado na expressão precedida de um intrigante “já não
era” como se a obra do autor por si prefaciado tivesse tido alguma coisa
a ver com os Esteiros, a
Seara de Vento, o Gaibéus, o Vagão J, A Casa da
Malta ou A Casa na Duna – essas sim as obras canónicas do
movimento.
No mais, fiquei com a impressão de que a
“ofensa” de Álvaro Manuel Machado resgatada pelo “ofendido” no texto de
“resposta” de que venho falando, não é propriamente o ataque ao
neo-realismo, que não precisava de defensores a doc, mas a “dor”
causada pelo tom e o estilo do estudo proveniente de alguém que fora
ajudado quando estava em maus lençóis e a que corresponde o sentimento
que uma palavra bastante prosaica caracteriza: ingratidão. À primeira
vista trata-se de um gesto solidário dirigido a respeitáveis confrades e
amigos conotados com o movimento enquanto escola literária,
indirectamente vítimas de ataque injustificado – um álibi para desviar
para outro lado o cerne da “ofensa”: o facto de o prefácio, vindo de
quem vem, não ser declaradamente encomiástico. Senão, a que propósito
viria o lembrete do apoio ao recém-chegado a Paris? Urbano,
neo-realista? Qual! Se o próprio UTR se encarregou de pôr o preto no
branco em tomadas de posição públicas: “Não fui um neo-realista.” (35).
Quanto ao “canónico” voltarei a ele quando abordar o texto de Manuel
Gusmão. Amigos, amigos, Teixeira-Gomes à parte
Um dia, talvez a propósito de Régio, mas citando
Montaigne, Eugénio Lisboa escreveu que alguns ensaístas gostam de ser
“donos” dos “seus” escritores e que até saúdam outros que os corroborem
fazendo bloco na defesa do mais que tudo. Mas que não exorbitem na
idolatria. Dono é dono e os recém-chegados ao círculo da devoção devem
manter-se a prudente distância do objecto do desvelo não vá a
condescendência abrir espaço a intrusos que predispostos para o assalto
à coutada para reclamarem primazias a que não tenham direito. O prefácio de David Mourão-Ferreira à 2ª edição
de Vida Perigosa (37) rende homenagem a “uma coragem intelectual
tão inabalável como a sua própria coragem cívica” que fazem de UTR
“talvez o mais alto símbolo da indómita resistência do escritor
português e da sua por vezes incrível sobrevivência como escritor.”
Reclamando-se de um primeiro empurrão ao ainda relativamente imaturo
autor da edição de 1955 através de um texto de “apresentação” nas
orelhas do livro, David não afrouxa no tom venerador ao sublinhar nos
contos ainda de “atmosfera estrangeira” a “variedade de perspectivas”, a
“fecunda mobilidade de processos, com tão radical autenticidade na
constante renovação de motivos e de técnicas.” A excepção intitula-se
À Luz do Verão, mais um texto de temática alentejana no qual a visão
do menino do latifúndio (Chico Varrido: “Não era nosso criado, mas vinha
pelas ceifas e ficava quase sempre com um ajuste para o resto do Verão”)
(38) ombreia com a do calcorreador que por “formação e vocação” pisara
“as principais estradas da România cultural.” E onde está o nó do
problema de consciência com que Urbano se debaterá ao longo da vida. Mas
voltarei ao caso alentejano, detendo-me por agora num singelo exercício
comparativista resultante do facto de tanto David Mourão Ferreira como
Urbano Tavares Rodrigues serem émulos de Manuel Teixeira-Gomes, o
portimonense que a ambos inquietara com a sua Maria Adelaide
e com o seu Agosto Azul. As palavras são como as cerejas e o
caloroso depoimento de David Mourão-Ferreira em 1970 conduziu-me a um
outro texto em que o autor de Gaivotas em Terra, com quem privei
durante dois anos na direcção da Associação Portuguesa de Escritores e
tenho por pessoa de uma finura de trato acima de toda a suspeita, deixa
cair a máscara de uma subterrânea competição ao emendar Urbano
Tavares Rodrigues com particular severidade. Percorramos não exaustivamente o comentário (o
texto vem inserido na secção Notas e Comentários mas para Nota é
um bocado extenso: três páginas e meia) de David Mourão-Ferreira à tese
de doutoramento de UTR (Manuel Teixeira-Gomes: O Discurso do Desejo)
(39) na Revista de que o primeiro era à data o director (40) começando
por uma das conclusões: “Evidentemente que são pormenores: e todos eles
marginais em relação ao objecto central da própria dissertação. Mas
cremos ter sido útil indicar o que indicámos, até com vista à melhoria
da obra em ulteriores edições”. Só boas intenções, pois, pois. Os
pormenores, em todo o caso, são um pouco menos bem intencionados ao
longo do texto onde mais prosaicamente os toma o autor por dúvidas. E
são cinco as dúvidas que assaltam David antes de as despachar com o
rótulo de pormenores lá mais para o fim, contendo cada uma delas
as suas reservas. Primeira dúvida: O exegeta ter-se-á deixado
contaminar por uma característica “também comum à maior parte dos livros
do próprio Teixeira-Gomes, nos quais as micro-estruturas são igualmente,
regra geral, muito mais conseguidas do que as macro-estruturas.” David
sugere ter havido uma contaminação por mimetismo, perguntando: “Ou será
que certo caprichismo organizativo tão frequente nos volumes do
autor do Inventário de Junho acabará por exigir, da parte de quem
deles se aproxima uma atitude semelhante?” Segunda dúvida: “falta de atenção à cronologia de
M. Teixeira-Gomes”, tendo em consideração que as obras deste último se
dispõem “em dois diferentes e distanciados painéis temporais – o
primeiro de 1899 a 1909, o segundo de 1932 a 1939.” Pormenor
negligenciado por UTR. Terceira dúvida: “Não teria havido vantagem em
rematar a dissertação, ainda que à guisa de apêndice, pela parte
intitulada Notícias do Crepúsculo e constituída por ‘cartas e
postais dos últimos anos de Teixeira-Gomes’? Tal secção, que representa
mais de um quarto do volume (105 páginas para 300 do texto da própria
tese), muito melhor se adequaria, quanto a nós, se viesse a formar um
volume à parte…” Desde a sobrevalorização da correspondência trocada com
Manuel Mendes ao “esquecimento” de Castelo Branco Chaves há uma
contundente admoestação que chega ao verbo deplorar: “Ainda quanto a
Castelo Branco Chaves, deploramos igualmente que Urbano Tavares
Rodrigues não tenha ao menos discutido, a propósito do mecanismo da
memória de Teixeira-Gomes, o fecundo contraste – se bem que porventura
controverso – que esse crítico propôs, em 1935, entre a ‘memória
involuntária’ de Proust e o tipo de ‘evocação’ de Teixeira-Gomes…” Quarta dúvida: David manifesta estranheza e ao
mesmo tempo esmera-se em exibir um conjunto de autores de referência de
que Urbano não se lembrou: Giorgy Lukcács,
Harald Weinrich, Roger Kempf, Helène Cixous, Michael Rifatterre,
Leo Sptizer, Chatmann, Koch, Delbonille ou Mukarovsky, “autoridades”
mobilizáveis para discussão que obviamente encheriam de luz os desvãos
deixados na penumbra pela tese sob escrutínio. Para depois acrescentar
que “as referências bibliográficas de Urbano Tavares Rodrigues,
particularmente no domínio da narratologia, se mostram em geral não só
actualizadíssimas como também saudavelmente diversificadas.” Uma no
cravo e outra na ferradura? Ou uma cruel palmatoada? Não há quinta dúvida mas uma “quinta ordem de
dúvidas” suscitada pelo quadro sinóptico a propósito do qual David se
interroga se em vez das opções de Urbano não teria sido “mais importante
referir o lançamento da revista Seara Nova em 1921 que a
existência de um governo António Maria da Silva em 1922; ou o início da
publicação da Presença em 1927”, enviesando para lacunas como as mortes
de António Patrício e de Columbano, tão próximos “afectivamente e
esteticamente” do escritor algarvio. Claro que tudo isto seriam
“pormenores” para ajudar futuras edições do trabalho em causa mesmo se,
aqui chegado, David não tivesse carregado mais as tintas ao vincar que
no subconsciente de MT-G. nenhuma relação havia com o freudismo e que
nele “apenas serve de pretexto ou para a rememoração de eventos muito
conscientes ou para a rememoração de muito conscientes pontos de vista
de uma estética muito consciente.” David permite-se o trocadilho irónico
mas não fica por aí. Que é lá isso? Manuel Teixeira-Gomes manifestando
“interesse e simpatia” pelo Surrealismo? Ora aqui está um ponto que ao
ensaísta de serviço pareceu indispensável “rebater” muito a sério e sem
nenhuma espécie de paninhos quentes. Todavia, David não se lembrou
de que o facto do “caprichismo organizativo” com que MTG seduzia Urbano,
obrigando-o a imitá-lo, podia funcionar ao contrário e ser Urbano
a querer arrastar o escritor algarvio para um dos seus canteiros
secretos: “a ânsia de dizer tudo, mais forte do que o assombro
maravilhado ante a ‘zona luminosa do acaso objectivo’ dos surrealistas,
que era uma das minhas tentações de então” (pref. Horas Perdidas).
Tentação efémera? Pelo menos em 2005 ainda Urbano inclui em Os Poemas
da minha vida (Público) o poema Assim como a mão no instante da
morte, do proeminente surrealista francês Robert Desnos. E numa das
suas ultimas entrevistas põe fim a todas as dúvidas: “O Manuel Gusmão,
numa análise à minha escrita, refere elementos surrealistas muito
sensíveis no Alentejo Mágico, em A Porta dos Limites e em
muitos textos de A Noite Roxa. Até hoje nunca desapareceram
completamente as marcas existencialistas nem as marcas
surrealistas.”(41) Sim, a guinada estava lá e para ficar.
Quanto aos tais paninhos quentes reserva-os David
para o final do texto reclamando para a dissertação de Urbano, fértil em
“surpreendentes nexos intertextuais”, o pódio de “um invulgar
‘acontecimento’ na vida universitária portuguesa” deixando ficar a
palavra acontecimento entre aspas – derradeiro pormenor de controversa
solidariedade. A que ímpios juízos de valor se pode chegar, na
verdade, a partir da leitura de um simples prefácio. Citando a expressão
“autoridades” a propósito de terceiros, a alguém iludirá quem gasta três
páginas e meia da Colóquio a debitar questões supostamente de
lana caprina para amachucar o concorrente directo na disputa pela
primazia no amor ao autor algarvio e frisar que a “autoridade”,
ali, é ele? Sem explicitamente se apresentar como tal? A mim fica-me a
ideia de que David Mourão-Ferreira (aos dezassete anos já lera tudo de
MT-G) (36) não teria em mente apenas vincar distâncias relativamente a
Urbano Tavares Rodrigues (“o maior especialista em Teixeira-Gomes,
segundo Fernando J.B.Martinho”) (42) mas porventura enviar uma qualquer
mensagem aos membros do júri do doutoramento (no qual a sua presença foi
simbólica) com responsabilidade decisória na classificação da tese. Fica
para a história que aquele que saiu a ganhar desta saudável emulação foi
o portimonense a quem dois notáveis escritores portugueses
proporcionaram uma excitante segunda oportunidade de existir. Romance ou novela? A questão do tamanho.
Na vaga de prefácios dos anos sessenta /
princípios de setenta, em cuja crista se pretendeu criar já uma espécie
de cronologia do trabalho literário de UTR com a finalidade de
estabelecer uma hierarquia de prioridades e de valor, até porque esses
textos de apoio estão acoplados a obras em ciclo de reedição, há alguma
injustiça ao circunscrever-se ao conto e à novela curta a principal
aptidão do escritor, deixando na penumbra o romancista que também nele
habita, naturalmente influência da “quantidade” motivada pela pressão
editorial e exigência do público leitor. Urbano foi o autor da moda nos
anos sessenta e quis, talvez, mostrar-se capaz de se sair airosamente
respondendo taco a taco ao desafio do mercado. Mas se o conto e a novela
se conformam melhor à máquina trituradora da edição, bem como à
necessidade do escritor de ganhar a vida com o que escrevia, impedido,
como estava, por razões políticas, de leccionar, não obstante muitas das
novelas, quer no tamanho, quer na estrutura, poderem
considerar-se pequenos romances, ele não descurou o género maior, ainda
que ofuscado este pela preponderância “novelística”. Horas Perdidas,
repito, é um pungente romance autobiográfico da adolescência, sem
desvãos de sentido, sem intermitências na acção nem arritmias no estilo
que maculem o sentimento de tragédia individual que se quis transmitir.
O próprio Urbano, numa entrevista a António Augusto Menano em 1970 – ver
Deserto com Vozes, do mesmo ano – reconhece estar pouco traduzido
“por ter escrito mais livros de novelas do que romances”. Hoje, no
cômputo geral, verifica-se que recuperou bem essa “desvantagem”
consagrando-se predominantemente à produção de romances nos últimos
lustros da sua vida. No prefácio a Os Insubmissos (43), José
Fernandes Fafe liga o conceito de generosidade ao “encanto da fluência
de escrita deste romance”. É um ponto de vista em que a tónica da
generosidade aparece como fio condutor da explanação do receptor, desde
logo a chamar a atenção para a ductilidade da língua aberta ao termo
erudito, regional ou vernáculo: “tão espontânea é a
dádiva que não há tempo para a redução da escrita compósita a uma
unidade de léxico.” O que alguns tomariam por defeito, absorve-o Fafe
como efeito de generosidade mais adequado a outras regiões, mormente as
subjectivas, do texto ficcional. Fafe opera num universo onde as vozes
individuais – as das personagens – criam tensões ingurgitadas de teorias
do bem e do mal numa dialéctica cerrada que apela para os comportamentos
“honrosos” mas que alberga outrossim atitudes menos limpas consoante as
diferenças que o desenvolvimento narrativo demonstra existirem entre os
membros do grupo. Escreve o prefaciador que muitas vezes Urbano “acorda”
nas suas personagens. Nada que não tenha sido detectado noutros ensaios
interpretativos. Jacinto Prado Coelho di-lo-á no posfácio de Uma
Pedrada no Charco:”(44) “Raro conta na primeira pessoa mas
quase sempre adere às suas personagens, narra não ‘fora’ delas mas ‘com’
elas anotando do ponto de vista delas o que vão pensando ou sentindo – e
esta comunhão como processo é facilitada, naturalmente postulada pelo
facto de terem muito do autor, pelo facto de o autor através dela ‘se’
comunicar.” No que o A. se distancia de outros dos seus
trabalhos é no facto de não privilegiar o indivíduo em si mas indivíduos
agindo em prol de um objectivo comum – pôr de pé a revista Acção
Literária – ainda que reflectindo nos sucessos e no fracasso da
iniciativa as peculiaridades de carácter de cada um deles. É da fricção
dessas “identidades”, dos operacionais cheios de boas intenções e
“ideias” aos calculistas financiadores do projecto, que emerge o
romancista ao leme de uma intriga bem desenhada no espaço e no tempo
português da sociedade citadina, diversa e controversa, que recria com
um impressionante afinco narrativo que desculpa até um que outro lance
de estilo menos feliz. Neste romance o escritor opta, no início, em
muito do discurso directo, pela fala longa de pendor moralizante
redundante, intelectualizada demais para que possa ser ressonância de
conversação normal. Isto é: em vez da fala produzir, ela mesma, o
recorte psicológico de quem a diz em sínteses conformes ao discurso
corrente, ao alongar-se abre espaço à intervenção dos braços armados do
autor, os narradores, o narrador do discurso directo e o narrador do
discurso indirecto, propiciando ingerências do segundo na zona de
jurisdição do primeiro que acabam por afectar o prazer da leitura. A
linguagem fica mais parecida com fragmentos de uma peça de oratória, um
discurso, uma lição de moral. Aí, acorda, como diz Fafe com
inteira razão, o autor na sua personagem para lhe dar o tom que
ela sem essa ajuda não alcançaria. De então para a frente o romancista
emenda a mão: os diálogos fluem em
total harmonia com os apelos e as exigências da trama.
A respeitada voz de José Palla e Carmo (45), que
é capaz de sovar forte e feio UTR pelas debilidades que lhe saltam aos
olhos nalguns dos contos de As Máscaras Finais, louva em Os
Insubmissos (1961) e Exílio Perturbado (1962) as notáveis
capacidades do romancista, entrevendo porventura nas duas obras a
continuação da afirmação do ficcionista rumo ao apogeu no género maior.
“Os Insubmissos” – escreve – “volume com que Urbano Tavares
Rodrigues se estreia no género de romance, ficará, creio, a assinalar um
passo decisivo na carreira de um dos mais destacados escritores
portugueses contemporâneos… A obra de Urbano Tavares Rodrigues tem sido
uma constante e generosa dádiva; continua a sê-lo e talvez mais
completa, porque é um mais complexo homem que lemos no seu romance – e
que o seu romance lê em nós.” E acerca de Exílio Perturbado: “Uma
obra que se transmutou ao escrever-se, que cresceu, se concentrou e cujo
remate se realiza ao identificar o seu protagonista como um escritor e
este romance como o primeiro (sic) que escreveu e escreverá. (46) Exílio
Perturbado é a experiência individual do protagonista que no
estrangeiro, sempre amargurado, viaja pelos amores e pelas paisagens
urbanas da doce França até chegar a cenários de guerra do Egipto e
acrescentar sabedoria e experiência à sua demanda ôntica ao testemunhar
os horrores do conflito armado; Bastardos do Sol (47) é,
essencialmente, atmosfera de crise, mal estar respirável e opressor, um
clima de drama. O drama que baixa sobre o destino de uma mulher –
Irisalva – cujo “crime” é apaixonar-se por um femeeiro compulsivo, que
paga o donjuanismo com “selvática mutilação” às mãos do irmão e tutor
dela, eventualmente seu furtivo admirador para lá da restrição fraterna.
O ciúme incestuoso atravessa a narrativa sem explicitamente se
manifestar, disfarçado no combate à vingança sobre aquele “que lhe
conspurcara o sangue e a casa” e “não quisera pagar a sua dívida.” Entre
a crítica ao machismo e ao donjuanismo parte UTR para uma denúncia
comovida da condição feminina no Alentejo profundo. Um curto romance?
Sim, mas um livro notável considerado por muitos, e a justo título, o
seu melhor livro.
Se a estes romances, que honram quem os
escreveu, juntarmos novelas como Imitação da Felicidade (a novela
de abertura estende-se até à página 120) ou Escombros (16
capítulos) por exemplo, haverá a reconhecer que muitas vezes UTR
conviveu mais de perto com o romance do que com o conto. Há ainda um
outro universo por explorar, longínqua já a jornada existencialista e
menos longínqua mas relativamente distante a paixão vermelha, em que UTR
decanta todas as experiências em prosa romanesca crepuscular de
altíssimo nível, trazendo de volta o “epicurista”, o esteta, o lírico, a
bela escrita, o prazer de novos desafios eróticos temperados pela idade
mas nada melancólicos, o êxtase da paternidade tardia, numa exuberante
manifestação de longevidade criadora, tanto literária como vivencial, de
que é exemplo a narrativa A Estação Dourada (48). É esse o
“tempo” em que Urbano, já desencantado do amanhã comunista que se volveu
passado, memória e nostalgia, depois de reintegrado na Faculdade de
Letras e nesta jubilado, agora sem “pressas”, nos deu algumas das suas
mais saborosas páginas, porventura das menos lidas. Prisão, tortura, a terra a quem a trabalha A vontade / necessidade de ir a todas – ensaio,
crónica, crítica de teatro, e na ficção romance, conto, novela – tendo
por alicerces uma enorme capacidade de trabalho e uma facilidade de
efabulação nem sempre tão frívola como em certos quadrantes se pretende
fazer crer, transformaram-no no bombo da festa de muita crítica
respeitável (do circunspecto José Palla e Carmo ao sinuoso David
Mourão-Ferreira, de quem nunca deixará de ser recordada a sua esplêndida
poesia de amor mas que quanto a gerar anti-corpos na praça literária não
foi nada peco enquanto por cá andou) a que sempre respondeu criando cada
vez mais ficção e muita dela da melhor. Urbano regenerou como poucos o
discurso literário português ao colocar nele, com invulgar precisão, a
oralidade chã dos extractos sociais mais franqueáveis em seus nichos de
comunicação e oralidade. Seja a fala do motorista de táxi que viaja pelo
Algarve acompanhando duas francesas pretensiosas, seja a da intriga de
bairro alimentada pelo linguajar das “vizinhas”, sempre em dia com a
vida alheia, seja a litania, que lhe é tão íntima, da pronúncia
alentejana, sejam as conversas de café, seja o calão de bas fond,
seja o código comunicacional dos sem abrigo, seja o petulante patoá dos
intelectuais à procura de um sentido para a vida, o radar do autor de
Imitação da Felicidade é implacável na captação tanto dos registos
linguísticos da vida trivial como da erudita, plataforma de que parte
para a invenção de tipos inesquecíveis em boa parte psicologicamente
moldados pelo espontaneísmo da palavra dita de viva voz. José Fernandes
Fafe, diga-se, viu bem a coisa . Foi muito provavelmente esse perfeito modelo de
mimese coloquial, talvez em contraponto às convenções da grande
literatura mas mais directo na interlocução com o leitor que se revê em
tal posicionamento do narrador, uma das causas da apreensão do livro
(Imitação da..) pela polícia. Este último tinha condições para
chegar às mãos dos menos letrados e nestes repercutir o mal-estar das
opiniões das francesas a nosso respeito como país e como povo, dadas
pelo A. com algum verdete masoquista, o que não terá agradado às
autoridades. Mas a causa principal da apreensão do livro terá estado na
alusão à guerra colonial e aos mortos em combate longe da terra mãe. UTR
esticou a corda até violar a zona protegida pelo arame farpado de uma
férrea censura de guerra de
onde a retaliação não se ter feito esperar, peça de um processo de
perseguição política, com episódios violentos, que decorreria entre 1961
e o 25 de Abril. A experiência desse período é recordada pelo
ficcionista no prefácio a Contos da Solidão como no intróito a
Dissolução, obra atípica redigida em ditadura e em democracia (um
remake de Dos Passos com “colagens” de recortes de jornais,
anúncios, depoimentos em fitas gravadas, etc.) que estabelece a
transição do ficcionista para uma escrita abertamente de intervenção,
utilitária, despojada e directa, então sim mais conforme a um
neo-realismo de convertido à praxis comunista que o próprio, no entanto,
sempre de sensibilidade em riste, admite ser um livro “errado” como
exercício literário. Nessa zona de compromisso directo na revolução
saída do 25 de Abril publicará trabalhos como Viamorolência,
As pombas são vermelhas, Desta Água beberei, Ensaios de
após-Abril, As grades e o Rio, Palavras de combate,
etc. mas não creio que a História da Literatura lhes confira
importância, face à magnitude da obra anterior e posterior. Aliás, em
1986, fora do colete partidário estrito, Urbano voltará a
proporcionar-nos mais um pequeno grande livro: A Vaga de Calor
(49). Já nos tempos finais, recordará aos críticos
mais jovens, apressados em fixarem-lhe o rótulo de neo-realista, não o
ter sido, de facto. E quanto à generosidade de “doar” a herdade
alentejana aos trabalhadores, “gesto romântico” muito apregoado num
desses lancinantes epitáfios de idêntica proveniência, ainda bem que o
próprio Urbano pôde revelar, numa entrevista, (44) a engenharia
financeira da operação, não fosse pensar-se que andara a distribuir
cristãmente a terra a quem a trabalha em esmolas individuais. Foi assim:
no tempo das ocupações de terras pelos activistas da Reforma Agrária
dizia-se que tudo tinha sido nacionalizado no Alentejo quanto a grandes
propriedades exceptuando a da família de Urbano Tavares Rodrigues, à
entrada da qual flutuava a bandeira do PCP. A notícia, naturalmente,
corria com o seu quê de boato leviano mas tinha por trás alguma coisa de
verdadeiro. A propriedade fora vendida ao primo latifundiário (ficando,
por conseguinte, na família) contra a garantia de que não seria
nacionalizada, o que Urbano e o seu irmão Miguel asseguraram (presumo
que o acordo se estenderia às restantes propriedades do agrário). Urbano
e Miguel entregaram os seus quinhões do dinheiro ao Sindicato dos
Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Beja mas o terceiro irmão, Jorge,
não abriu mão da sua parte. “Era um homem que vivia fundamentalmente
para o dinheiro”, dirá dele o escritor na entrevista. Que em todo o caso
o terá ajudado nos anos difíceis, dando-lhe trabalho na Agência de
Publicidade que dirigia em Lisboa, digo eu. É realmente uma história
bonita mas não tão romântica como aquela que para aí se conta. O
dinheiro foi doado aos “representantes” dos trabalhadores para aplicação
provavelmente sujeita ao cumprimento de condições que os doadores terão
imposto. Em suma, esclarece Urbano, podia ter sido um homem muito rico e
não ter passado pelas privações por que passou. Como o mano Jorge. Quem
lhe mandou querer ser pobre remediado como muitas das suas personagens?
Finalmente a vida a imitar a ficção? Em certa medida antecipou o apelo
de Camus em O Primeiro Homem (50), a propósito do conflito
argelino: “Dêem toda a terra aos pobres, àqueles que não têm nada e são
tão pobres que nunca desejaram sequer ter e possuir, na sua maioria
árabes e alguns franceses e que vivem ou sobrevivem aqui por obstinação
e resistência.”
Vozes
consensuais A recolha a que até aqui procedi de textos
prefaciais capazes de facilitarem a leitura da obra de Urbano Tavares
Rodrigues, incluindo os do próprio, de forma não dispersa, e dessa
leitura partir para a definição do perfil humano do escritor, entra
agora num circuito em que são mais as vozes consonantes do que as
dissonantes a pronunciarem-se sobre o homem e a obra na perspectiva de
que Portugal teve no autor de Aves da Madrugada um cidadão que
foi capaz, a golpes de vontade, de construir e fazer perdurar o seu
mito. Herói? Traidor? D. Juan? Agitador? Galã cultural? Misantropo?
Filantropo? Ou alguém que para lá destas ideias feitas ainda falte
conhecer melhor? Duvido, evidentemente, que os prefácios (e um posfácio)
sejam a via mais certeira para se alcançar a resposta correcta mas não
deixa de ser fascinante que entre eles, as personagens e o autor se
criem vasos comunicantes em que o leitor pode imiscuir-se e desfrutar de
um sentimento de apropriação aos poucos sedimentado através de uma
cumplicidade sem mácula. Talvez, quem sabe, se encontrem nos
prologuistas consensuais
pistas de concórdia que acabem por nos revelar um Urbano reconciliado
com os seus fantasmas. Que este que conhecemos andou sempre à pancada
com eles. Um outro Urbano espera por nós? Mário Sacramento, Luiz Francisco Rebelo, Jacinto
do Prado Coelho, Eugénio Lisboa, Eduardo Lourenço, Sottomayor Cardia,
José Manuel Mendes, Manuel Gusmão e José Saramago são os senhores que se
seguem. A José Fernandes Fafe já me referi, mas também ele poderia ser
incluído neste naipe. Armando Ventura Ferreira subscreveu um insípido e
pomposo “estudo” a abrir a 3ª edição de A Porta dos Limites sobre
o qual prefiro não me alongar. Vejamos como o médico-escritor de Aveiro
trata da saúde àqueles que andam a por aí a tentar fazer de Urbano
Tavares Rodrigues o neo-realista que nunca foi. O diagnóstico do médico de Aveiro Mário Sacramento, assumido neo-realista, foi um dos mais bem informados críticos literários do seu tempo, uma mente aberta ao diálogo entre contrários. No prefácio à segunda edição de Imitação da Felicidade, referindo-se ao autor, lê-se ter tido sempre “um grande fraco por este escritor […] sobretudo […] se me acontecia discordar dele.” Mário Sacramento tem a percepção agudíssima de como esta literatura encaixa no seu projecto teórico de dar ao existencialismo e ao neo-realismo, juntos, uma oportunidade de salvação, ou seja, a “aceitação”, pelo neo-realismo, da lição existencial como via para o enriquecimento da ficção materialista acrescendo-lhe carga subjectiva e com ela dimensão universal. No livro de UTR ele viu, maravilhado, concretizar-se essa fusão. E explica como a coisa acontece: “Conseguir dar a poesia, a crítica social e a própria cultura mediante a metamorfose e o estilo formalmente charros de um motorista de vilória, que extraordinário encanto!” E mais adiante: “Vazando a sua novela em três estilos retintamente diferentes e bem caracterizados, o autor consegue que os três monólogos atinjam uma luminosa existência literária, sem que para isso recorra a qualquer artifício (diário, narrativa a terceiro, arremedo de escritor improvisado, etc.), o que nos obriga a ponderar o lastro de postiça convenção que o materialismo deixou em herança ao realismo verdadeiro, e que este nem sempre sacode com o vigor e lucidez que tal exemplo nos dá.” Sintomas de uma crise profunda que já afectava o neo-realismo, as palavras de Mário Sacramento ressoam como dobre de finados de uma visão maniqueísta do mundo, característica de uma “escola” que segundo ele se afastou do “realismo verdadeiro” quando o sentido ainda se chamava conteúdo. No precioso ensaio Há uma estética neo-realista? MS defende haver uma evolução na escrita dos melhores escritores neo-realistas para um plano estético de alto estatuto como Carlos de Oliveira, Manuel da Fonseca, Fernando Namora, Redol, Mário Dionísio, entre outros, o que em seu entender se trata de renovada atenção ao trabalho da forma e por conseguinte uma transferência do político para o literário, assim justificada: “ O neo-realismo foi colhido ou tolhido, com efeito, por uma adversidade a que não conseguiu eximir-se: a de a literatura ser a única expressão viável de aspectos de vida social que noutras circunstâncias teriam cabido à política, ao jornalismo e ao livro doutrinário.” No caso de Imitação da Felicidade Sacramento culmina o seu perturbador recado enaltecendo uma “dimensão que é real porque está em unidade dialéctica com o contrapolo de um ideal irrealizado.” E é esse irreal, prossegue: “que perpassa em todos os contos deste livro, definindo a cada um o seu tipo de realismo: fantástico, à maneira de Kafka (mas com toques de surrealismo e de escola-do-olhar), em Trânsito; tchekoviano em O Casamento e Espírito; freudiano em Trânsito e Testamento Quotidiano; crítico à oitocentos em A Samarra… E, não obstante, todos eles são pessoalíssimos, marcadamente originais – na concepção, na sugestão, no estilo”. Onde está, aqui, esse neo-realismo de século XXI cuja carapuça, desde o caudaloso Miguel Real (JL) à inocente Isabel Lucas (Público), que decerto acredita à primeira em tudo o que lhe dizem (uma literatura [a de Urbano] primeiro marcada pelo neo-realismo que ditava as regras), enfiam em UTR, a que o erudito Nuno Júdice acrescenta que o escritor “sem nunca abdicar da sua ideologia marxista” foi sempre fiel ao seu partido, etc. (Público) A palavra nunca infirma a afirmação. É mesmo uma ironia que um marxista verdadeiro como o foi Mário Sacramento dê superior ênfase ao que notou de kafkiano, tchekoviano, surreal, freudiano, crítico à oitocentos, afim do novo romance ou a remeter para o fantástico e para um vago realismo aparentemente só crítico, se erga da tumba para puxar as orelhas aos desenvoltos analistas que engoliram o “já” de Gusmão sem terem percebido que aquilo estava mesmo ali a mais. E então vá de despejarem o “neo-realista canónico”, explícita ou implicitamente, por tudo quanto é sítio. Para quem quiser saber o que são neo-realistas
canónicos nada melhor do que ler devagar, devagarinho, Há uma
Estética Neo-Realista?, esquecendo minudências adverbiais que,
voluntária ou involuntariamente, só atrapalham. E, já agora, vejam se há
por lá algum senhor chamado Urbano Tavares Rodrigues. É fácil, é barato,
basta clicar. Miscelânia Jacinto do Prado Coelho sentiu a
responsabilidade de executar no posfácio a Aves da Madrugada um
retrato literário daquele que foi seu discípulo na Faculdade de Letras
de Lisboa, cuja tese de licenciatura em filologia românica orientou
(sobre Manuel Teixeira-Gomes, Introdução ao estudo da sua obra,
1949) e que de perto acompanhou os primeiros passos do futuro escritor,
porventura nele augurando, desde cedo, a esplêndida carreira que veio
efectivamente a cumprir-se. É um testemunho simultaneamente exigente e
comovido, ainda que de uma comoção temperada pela compostura
professoral, pela exegese do discurso e pela competência com que deu à
obra o enquadramento estético e circunstancial que os contemporâneos
achavam compatíveis com o estatuto académico. É evidente que Jacinto
Prado Coelho não quis extrapolar do literário para o social, mas ainda
assim o seu posfácio é uma peça essencial para se ascender ao
conhecimento do ficcionista e relacionar melhor as suas metamorfoses com
as da sua escrita.
Luiz Francisco Rebelo teve a sorte de ser
convidado para prefaciar a 2ª edição daquele que é para muitos o melhor
livro de Urbano Tavares Rodrigues, Bastardos do Sol. Como já
mencionei, esta avalancha de prefácios, confinada a uma faixa epocal
precisa, recaiu sobre reedições às vezes muito afastadas, no tempo, das
edições originais, o que levava os autores daqueles a evitarem
debruçar-se sobre cada texto em si, preferindo partirem dele para
digressões interpretativas dos vários contextos em que o escritor se
movia. A circunstância de o livro em causa já ter passado pelo crivo da
crítica e saído vencedor do teste da recepção pelo público desencorajava
análises a esse nível.
À data da segunda edição de Bastardos do Sol
Urbano Tavares Rodrigues é já outro homem. Não admiraria que LFR se
mostrasse mais interessado, por exemplo, na evolução cívica de UTR do
que nos aspectos formais do romance em causa. Mas é nos aspectos formais
que o prefaciador gasta mais palavras para ressaltar a importância do
livro ao ver nele a linha de fronteira que separa o naturalismo daquilo
a que David Mourão-Ferreira, por si citado, tem como “a aspiração de uma
intemporalidade mítica do assunto.” O tempo dentro do tempo, o romance
dentro do romance, a história dentro da história, a reorganização do
espacio-temporal, a importância da
coisa, eram as fórmulas captadas no novo-romance para se combater o
naturalismo “que desde há praticamente um século nunca deixou de ter
entre nós foros de cidadania.” Mas o repto não foi tão longe como o
queria um dos papas do movimento, o francês Alain Robbe-Grillet: “Os
nossos romances não têm por fim criar personagens nem contar histórias”.
Rebelo reconhece que Urbano se mantém fiel a esses dois vectores do
protocolo tradicional – a história e as personagens – declarando
tratar-se Bastardos do Sol de uma “síntese, notável de equilíbrio
estético, sem a hibridez inerente às soluções conciliatórias.” Sottomayor Cardia e José Saramago assinam dois
calorosos prefácios a, respectivamente, Dias Lamacentos
(50) e Casa de
Correcção (51), não
se excluindo que a ambos, independentemente do apreço literário noutras
ocasiões demonstrado, motivou a sintonia política, tendo em conta o grau
de intervenção dos três na oposição à ditadura. Faz sorrir a contenção
estilística de Saramago, tão em contraste com escrita desenvolta de
agressivo repto à gramática, de Memorial do Convento. Ei-lo,
aqui, ao lado de Eduardo Lourenço com quem constitui um duo de
prefaciadores (ainda que na condição de repetente) a considerar
Carnaval Negro “uma das melhores e mais acabadas novelas de Urbano
Tavares Rodrigues.” Sottomayor Cardia será, todavia, menos “literário”
ao defender que os contos e as novelas de Dias Lamacentos
“assinalam uma atitude de identificação com o sofrimento, de ligação ao
povo e à terra. Insistem particularmente, embora de forma indirecta, no
papel dos intelectuais enquanto cidadãos voltados para a compreensão das
aspirações que os humildes não sabem formular e para o apoio à defesa
dos mais instantes dos seus direitos.” Da espuma dos dias à festa da literatura Estranhamente, um texto de Eduardo Lourenço apresentado como prefácio da 3ª edição revista da colectânea Casa de Correcção, aparece datado de Março de 1979, sendo a reedição em causa de 1987 e tendo a 2ª edição, de 1972, saído com o prefácio de José Saramago, naquela replicado. Presumo tratar-se de uma gralha, caso a data do texto fosse outra ou então Eduardo Lourenço possuía um escrito, inacabado, sobre o Urbano, ao qual acrescentou a parte final sem emendar a data. Nada de importante. Trata-se na verdade de uma peça veemente e amigável, redigida com a fogosidade e a altura intelectual de alguém que revê no objecto da sua conivência afectiva o próprio percurso de expatriado e que por isso lhe é tão próximo, o sente tão perto. Com aguda percepção do que representou a obra de Urbano Tavares Rodrigues num espaço e num tempo enquanto portadora desses “sonhos e visões que toda a gente vivia só por procuração cinematográfica, caídos do céu de celulóide dos países onde se passava alguma coisa.”, Eduardo Lourenço traça um perímetro de novidade no meio do qual explode a bomba-relógio da paixão, “paixão pelo que entusiasma, agride, comove, enoja, deste amor mórbido pelo fait divers do sentimento ou da violência” e relativamente à qual “os seus leitores lhe serão gratos e fiéis por adivinharem que sob eles se oferece desarmado um homem sensível à mistura indiscernível de esplendor e ignomínia que brilha no coração de cada um de nós.” Há uma ligação pulsional como quem partilha não as vicissitudes da história contada mas a ludicidade da escrita e dos imaginários que ela veicula, num estado de alegria que entra em combustão com a palavra alheia, juntando-se ao verbo iluminado o enlevo do pesquisador de tesouros – o elo de uma corrente que no ensaio encontra a solução de continuidade. Num cenário de magia, o celebrado autor de Heteredoxias faz coro com o autor de Casa de Correcção para brindarem à literatura num comum folguedo de emoções, tracejadas por risos de júbilo, entre criador e fruidor – o encontro genuíno de duas almas gémeas. São de grande sabedoria as palavras com que Eduardo Lourenço fixa o papel do escritor em causa na literatura do seu, nosso, tempo: “Não houve metamorfose da sensibilidade ocidental nos últimos trinta anos, ética, mística, ideológica, que não tivesse encontrado curiosidade ou eco fascinado, espasmódico ou aflito no homem de espírito romântico e romanesco que é Urbano Tavares Rodrigues.” Em Casa de Correcção há pelo menos três contos de antologia, daqueles que vão ficar: Tio Deus, A Morte da Cegonha e Carnaval Negro. É bem certo que são histórias que não migraram de nenhum “desses países onde se passa alguma coisa”, mas arrancadas ao universo asfixiante do Alentejo e à nebulosa noite lisboeta em momento de catarse colectiva de baixo teor ético e lúdico. |
|||||||||
 |
|||||||||
| Maria Lúcia Lepecki (de pé), Fausto Lopo de Carvalho, Natália Correia, Urbano Tavares Rodrigues e Júlio Conrado numa sessão de entrega de prémios na Associação Portuguesa de Escritores nos anos 80 | |||||||||
|
Mendes & Gusmão, uma dupla
convergente Tanto o estudo de Manuel Gusmão como os
prefácios (52) de José Manuel Mendes salvaguardam o tom erudito de quem
os escreveu a pensar no leitor identificado com as linguagens da
constelação universitária – o jargão académico a deslizar, à sorrelfa,
aqui e além, pelos interstícios da prosa. Não lhes falta ousadia no
recurso a meios operativos, da sintaxe à mensagem, usando munições
requisitadas ao paiol da Nova Crítica, ainda que, no caso de Gusmão, ele
manifeste alguma relutância em depurar a parte do seu discurso que se
rege pelo vocabulário terra a terra. Seria necessário um extenso
relatório para cobrir todos os tópicos colocados em cima da mesa pelos
dois prefaciadores, não coadunáveis com a economia deste texto,
considerada a sua própria especificidade. Decidi então isolar algumas
linhas de força e por elas fazer passar o meu comentário, começando por
José Manuel Mendes e detendo-me em três pontos capitais: Urbano e o
realismo crítico, Urbano e o sexo e Urbano e os seus estilos literários.
Em qualquer dos três campos há propostas que, sem suscitarem grande
contestação, sugerem alguma ponderação.
Surpreende-me um tanto que muita gente ande com a boca cheia do
“neo-realismo” de Urbano e nem uma palavra sobeje para o realismo
crítico, escola a que a sua literatura melhor se amoldava e à qual esse
rótulo por larga temporada lhe esteve colado sem reclamações. O realismo
crítico não propugnava como o realismo socialista que toda a obra de
criação literária (e não só) fosse portadora de um significado
ideológico determinado. Havia um campeão dessa corrente: chamava-se
Georgy Lukacs, era húngaro e viveu na União Soviética, onde, durante a
jdanovitcha, foi visto como revisionista e desviacionista, e obrigado a
“repudiar-se” mercê de autocríticas que o mantinham à tona e lhe
salvavam a pele, recorrendo ele habilidosamente a uma táctica que
deixava confusos muitos dos adversários jurados: o léxico utilizado nos
seus escritos era marxista, com forte acentuação na “decadência do mundo
burguês” mas os grandes autores por si estudados eram preferentemente
desta extracção, mesmo quando procurava em exercícios de literatura
comparada modelos negativos para opor aos positivos. Em todo o caso não
foram poucos os lapsos de tempo em que teve de ficar calado. Só por
ocasião do 2Oº Congresso do PCUS, que reconheceu os crimes do
estalinismo, ele pôde escrever e publicitar estas palavras: “Enquanto
viveu Estaline e reinavam as teorias jdanovistas não era possível
encontrar uma forma de oposição mais explícita. Para demonstrar que o
meu simples silêncio foi tomado como uma rebelião, basta evocar as
discussões literárias durante as quais censuravam de diversas formas a
minha recusa obstinada em mencionar o romantismo revolucionário.
Aproveito com satisfação a primeira oportunidade de poder exprimir-me
assim, também sobre este assunto, sem recorrer à linguagem da
fábula.”(53)
Com efeito, o
realismo crítico, emergência da liberdade de criação artística
vivenciada fertilmente nos primórdios da Revolução de Outubro, esses
anos que inauguravam a União Soviética, viria ser desvalorizado e
hostilizado pela jdanovitcha, mãe do realismo socialista – o nosso
neo-realismo – defensora de uma praxis escritural, regulada por decreto,
que privilegiasse a épica laboral em detrimento do individualismo e suas
adjacências psicologísticas ou passadistas num país em que a prioridade
política ia para o hoje musculado. Noutro texto faço notar que o
realismo socialista / neo-realismo se aplicava no império soviético à
realidade concreta do exercício do poder e no nosso país se confinava ao
romantismo social baseado num modelo longínquo, filtrado por uma
poderosa máquina de propaganda, em razão do que o homem novo soviético
se construía na obediência às directivas do governo despótico vigente e
o “homem novo” português se alimentava de amanhãs que cantam e outros
slogans de futuros alimentados por um imaginário do “concreto” afim da
mística do milagre, isto é, de fundo religioso, imaterial, se assim se
pode dizer.
Ao húngaro Georgy Lukacs, guru do realismo
crítico, a lógica de ferro do estalinismo que nunca deixou de o ter por
alvo, obrigou-o a pagar caro o estatuto de tolerado do sistema. Mas
Luckacs era esperto: a vulgarização da “descrição” de Zola não era
contrapontada pela crítica de qualquer escritor comunista ortodoxo mas
sim pela arte de “narrar”, de Lev Tolstoi; o absurdo kafkiano não era
denunciado chamando à liça um afecto à linha oficial mas sim um
fora-de-série como Thomas Mann (Franz Kafka ou Thomas Mann? Uma
decadência artisticamente interessante ou um realismo crítico verdadeiro
como a vida?) (54) E assim por diante com Beckett, Balzac, Joyce,
Proust, Dostoievsky, Flaubert, Shakespeare, etc. O que nele estava
entranhado era uma admiração sem limites pela grande literatura do
“mundo burguês”. Resumindo: é no
realismo crítico que cabe pelo menos metade da ficção de UTR e, nessa
metade, a melhor. Num realismo crítico “verdadeiro como a vida”. José
Manuel Mendes aí, leu bem o seu, nosso, autor, não permitindo que o
homem socialmente comprometido prevalecesse sobre o escritor que não
alienava a sua arte abdicando da liberdade de escolha, atitude que aliás
não descurou mesmo depois da adesão ao Partido Comunista. Se o quiseram
tiveram de o aceitar como ele dispôs. Tal como era. Por paixão, disse um
dia a quem isto escreve.
Mendes trata a
questão do sexo na ficção de UTR com elevação. O que está em causa é a
libertação, a dignificação da mulher pela via da independência sexual
que gera, como prolongamento natural, a “libertação” do homem. Muitas
outras coisas, porém, libertaram a mulher: a guerra colonial, que lhe
abriu o mundo do trabalho em esferas onde este lhe era interdito; a
consequente independência material; a invenção da pílula, mais do foro
da química farmacêutica do que do discurso da cama, e, modernamente, o
acesso generalizado a profissões de “perfil” masculino, como camionista,
piloto da Força Aérea, taxista ou agente policial. Mas na função amática
parece que o ardente novelista não era tão escrupuloso como edificante
era a moral sexual nos seus livros. Mais uma variável de “entre o que
sou e o que digo”? Ainda a procissão ia no adro, já se gabava de ter
tido “mulheres aos cachos”. Em final de carreira, depois do repúdio do
“papel” de D. Juan ao longo da vida, concede ter sido um D. Juan
especial por causa da ternura com que tratava as mulheres. Elas, as
pobres coitadas, é que não o deixavam em paz. Pelo caminho foi dizendo
que “estragou vidas” e que por causa disso o atormentava um remorso
muito grande. Fica-lhe bem o remorso em fim de festa. Mas o seu
historial mais vulgarizado dispensaria a propagação do serôdio
sentimento de culpa. (55) Urbano cortava a direito – a lenda não é
benevolente com ele. E privilegiava, tanto quanto se sabe, a tabuada de
somar. Não se revia em Miguel de Mañara mas não desdenhou chamar a si
uma versão “português suave” do mítico galador (a serem verídicas as
façanhas de alcova atribuídas ao ex-eclesiástico). Foi um D. Juan, sim.
Resgatou à grande e à francesa os jejuns do deprimido adolescente de
Horas Perdidas. Quanto a não se
lhe reconhecer um estilo mas estilos, e dessa maneira arrumar a questão,
é simplista fazê-lo sem se ter em conta a pressão que uma escrita
“instável” exerce na calibragem da “fala” receptora desalinhada de
semelhante turbulência. José Manuel Mendes não se recusa a enfrentar a
dificuldade. Mas nota-se-lhe vontade de não abdicar do rigor judicativo
ao tentar encontrar o fio lógico que produza um efeito de reconciliação
entre os modos de expressão autónomos. Urbano tinha dois exemplos
próximos, um deles em casa, de escritores cujos estilos literários
reflectiam uma exigente austeridade de processos na definição do gesto
literário: Maria Judite de Carvalho, sua mulher, e Fernando Namora, o
amigo do peito. É possível admirar, e eu viajo nessa barca, a
magistralidade das personagens femininas da escritora, tão fiéis ao seu
tempo, bem como assinalar no grande romancista a vigilância que exercia
sobre o processo narrativo. Mas estaria ao alcance de qualquer destes
dois grandes escritores ser, em simultâneo, mágico no Alentejo,
arruaceiro no bas fond, múltiplo na relação amorosa, cáustico repórter
do caso quotidiano, crítico social capaz da raiva e do sacrifício, com o
esplendor de quem não dá tréguas à tentação de existir no limite da
novidade? do risco? “com” a vida? Se o estilo é o homem, no triângulo em
apreço Urbano é refém do princípio do prazer (e da ansiedade de ser) e
os seus pares do princípio da realidade (e da responsabilidade de
fazer). A psicanálise, a genética e a sociologia explicam isto muito bem
e não serei eu quem ousará invadir o território da ciência, de onde só
aproveitaria uns quantos clichés meio estafados. É para mim mais
aprazível arrimar-me à fórmula dos “três estilos” de Mário Sacramento,
fronteiras sabiamente demarcadas num discurso narrativo plural que, ao
sê-lo, nada perdeu em fascínio e pujança. José Manuel Mendes
presta tributo à atenção com que Urbano Tavares Rodrigues acompanhava a
evolução dos jovens aspirantes a literatos. Tanto eu como JMM em
momentos decisivos do nosso crescimento como escritores, ficámos a dever
a UTR apoio concreto excepcional e associo-me inteiramente às seguintes
palavras do meu parceiro de geração: “Em vários destes como de outros
ensaios avulta a infatigável generosidade do Urbano. Ela assenta numa
condição de reconhecimento do outro, de absorção profunda do que
transporta, em consonância ou clivagem com os projectos sedimentados, da
fisiologia de uma produção no tempo e no espaço concretos em que um
trajecto analítico tem lugar. Quantos poetas, ficcionistas, ensaístas
(portugueses e não só) foram “descobertos” e revelados por quem
celebramos aqui? Do jeito como alguns lhe corresponderam não falarei,
seria a peregrinatio por veredas de visco e danosidade.”
Relativamente a Manuel Gusmão: o texto deste categorizado poeta (em
funções de ensaísta) que integra o II Volume das Obras Completas de UTR
está competentemente organizado; respeita a condição do escritor no
momento histórico correspondente à elaboração das peças recolhidas: Uma
Pedrada no Charco, As Aves da Madrugada, Bastardos do Sol e Nus e
Suplicantes. Trata-se de um quadro referencial já bem instalado na
presente panorâmica, não escapando, por isso, a uma que outra
sobreposição de pareceres idênticos, tendo este o mérito, ainda assim,
de situar a trajectória de Urbano no contexto próprio, pulverizando as
dúvidas que o advérbio impertinente possa ter levantado. Do próprio
texto de Gusmão se soltam as labaredas que reduzem a cinza o insecto
atrevido. É-me evidente que o “realismo socialmente fundado” referido
por Gusmão não é outro senão o realismo crítico, em seu entender
relacionável com a “chamada polémica do neo-realismo” mas não mais do
que isso. A busca de unidade na resistência à ditadura justificava
estratégias de proximidade com o neo-realismo, nunca o ensaísta
asseverando, ou sequer insinuando, uma adesão de princípio do autor
estudado ao movimento em questão. Gusmão não cede à tentação de sonegar
o “papel” do sujeito, dissolvendo na corrente histórica em marcha
particularismos caracteriais de personalidade em prol de um todo
maniqueu que sacrificasse o individualismo à dinâmica das “massas”. Com
precaução e sageza equilibra o apelo do social e o que é único em cada
homem: o seu universo privado, a sua sensibilidade, testada por
frequentes choques contraditórios, a sua aptidão para gerar e
multiplicar emoções, instâncias de liberdade relapsas à disciplina no
geral exigível ao intelectual engajado.
Em expressões como
“experiência existencial, social e individualmente construída”;
“personagens individualmente desenhadas”, “experiência pessoal e
biográfica”; “projecto soberano de um indivíduo, de um sujeito”;
“obsessões e mitos pessoais”; “a individualização feliz” e decerto em
algumas mais, Gusmão não descuida a matriz subjectiva / individualizante
da ficção que tem entre mãos “naquele momento da obra”, indissociável da
“urgência ou um desejo de comunicação”, fosse qual fosse o rumo visado
por esse desejo. O expediente de Urbano que consiste em falar de si
através das suas personagens, aliás denunciado pela maioria daqueles que
sobre ele escreveram, processo que permite a transferência para o outro
recalcitrante em revelar-se na primeira pessoa, também não foge à lupa
de Gusmão. Menos elaborada se me afigura a gestão do
vocabulário vulgar em que a recorrência de algumas expressões ou termos
como “entretanto”, “desde logo” – num caso até “entretanto desde logo”
juntando-se os dois tiques sem prevenir o diferente grau cronológico de
cada um deles –, e o défice de autoridade expresso no persistente jogo
marcado pelo princípio da incerteza, abundando os “talvez”, “parece”,
“quase”, “porventura”, “de certa forma”, “não sendo rigorosamente”,
“mais ou menos nítida”, “mais ou menos disseminada” ou a redundância
possessiva num “procedimento que caracteriza a arte do seu autor e o seu
modo de configurar o seu mundo ficcional”, sem esquecer o comprometedor
“já” lá onde ficou sentado, nem “os quatro títulos aqui reunidos neste
volume.” Pequenas discrepâncias formais de que a boa escrita não se
ufana embora não cheguem para descolorir o labor interpretativo a que o
poeta se votou. Janelas com vista
para uma paisagem global Termino esta
digressão “prefacial” com Eugénio Lisboa, autor do preâmbulo do I volume
das Obras Completas, por me parecer constituir, de toda a prosa do
género por mim revisitada, aquela que se afirma como a tentativa mais
empenhada para concretizar, em texto relativamente breve, o retrato
síntese, global, de uma obra, de um ser humano e de um percurso como o
de Urbano Tavares Rodrigues. Mesmo quando elegantemente evita tomar
partido por esta ou aquela opção estilística, por este ou aquele
disperso movimento de fuga à vocação centrípeta da figura estudada, o
ensaísta deixa pistas para discussão que dispersa por um conjunto de
citações das quais aflora predominantemente o louvor mas também o vasto
campo onde o cotejo e a questionação se posicionam como instâncias
alternativas de qualificação extremamente úteis. Lisboa planifica no seu
texto sete subregiões a partir das quais obtém a visão de conjunto do
território, a saber: Clareza: “Mesmo na
sua complexidade e profundidade, a obra do autor de A Noite Roxa é
servida por uma linguagem de admirável clareza ou, talvez, melhor,
claridade. Camus dizia, com alguma maldade, que os que escrevem com
clareza têm leitores, mas os que escrevem obscuramente têm só
comentadores.” Não deixa de ser curioso que ao ler-se Urbano se vá dar,
mais tarde ou mais cedo, a Camus. Ora a esta “caricatura” camusiana não
deixa EL de reconhecer “algum teor de verdade” e a partir dela
espraia-se em considerações que abonam um pacto do ficcionista com a
escrita clara. No grande universo da ficção de Urbano nota-se, com
efeito, a rota de uma viagem rumo à clareza por um rio que vem a
desaguar no delta de que são ilhas maiores A Vaga de Calor, Deriva,
Horas Incertas, Filipa nesse Dia, Nunca Diremos quem Sois, e por aí fora
até esse afortunado e já muito perto de nós, A Estação Dourada,
estabilizando a sua linguagem literária num patamar clássico do qual só
interinamente fora apeada. Muito antes disso, no entanto, o jornalista
do “porém” que lhe não suportava o “alarido verbal”, o poeta que lhe
censurava a prosa pletórica devido ao grande arsenal vocabular, o guru a
sentir por vezes a veia estilística inestancável […] inchar em certa
amaneirada redundância, muitos tinham molhado a sopa a chamarem a
atenção do autor para alguns chumaços no estilo, obstáculos à fluência
do discurso, barroquismos de linguagem, a ausência de um estilo próprio.
E se a realidade mágica do Alentejo o levava a salvaguardar o lirismo
que a respectiva evocação lhe inspirava, não se coibindo de o expressar
mais na obediência estrita a códigos íntimos do que reverenciando os
protocolos da literatura, mais de um factor de distúrbio se intrometia
na almejada coesão formal de que se obteria a recepção clara da
mensagem. Concordo, evidentemente, com Eugénio Lisboa, ao eleger a
clareza como elemento determinante na obra em apreço, atrevendo-me
apenas a sublinhar que também aí Urbano travou um combate estrénuo ao
longo dos anos para polir a sua escrita. Variedade (de
temas, de técnicas, de personagens, de tons). EL mostra-se senhor de
pontaria impecável ao conotar com Balzac “uma enormíssima variedade de
personagens, de atmosferas, de intrigas, de conflitos, de intenções
(sondagem psicológica, ontológica, social, política) que lhe dão o
estatuto de uma autêntica enciclopédia da vida ou se preferirem, com uma
chapelada à Balzac, de uma verdadeira comédia humana.” Eu somaria às
sondagens a sondagem erótica que está no cerne da novelística de UTR e
que à comédia humana do seu memorável fresco acrescenta não pouca
substância, fruto de inesgotável energia e de uma vontade de ferro de
vencer, na literatura como nos labirintos do amor pela activa, como
diria o nosso Camões – à sua maneira, como atrás se conta. Complexidade,
capacidade de entretenimento, ousadia. Três sub-regiões tratadas
separadamente por Eugénio Lisboa mas que eu junto não só por comodidade
mas porque se interpenetram e se citam. No que respeita a complexidade
presumo que o que o observador releva do alto da sua torre de vigia tem
a ver com o processo de crescimento de UTR gravado por este em letra de
forma no preâmbulo a Horas Perdidas: “Era o tempo das vivências
atropeladas, das exasperantes perguntas sem resposta, da busca
incessante, obsessiva, do que me obstinava, do que nos obstinávamos, em
chamar o sentido da vida.” Esta, a origem de tudo. A complexidade da
obra de Urbano Tavares Rodrigues advém da instabilidade psicológica do
autor, permanentemente confrontado com realidades que o desarrumam como
se o sentimento de identidade com a sua época só se pudesse manifestar
contra essa época e a literatura, as mulheres e a responsabilização do
outro, tanto o outro referente como o outro ele-mesmo, fossem elementos
estruturais de um teatro da crueldade concebido para “vazar”
inquietações geracionais que de longe excediam a capacidade de as
resolver mas que eram as perplexidades daqueles que nessa escrita
vibrante as reconheciam, nelas se reconhecendo. E assim foi Urbano
criando um mundo exterior à sua circunstância perante cujas exigências
passou a ter de responder. Eugénio Lisboa
capta a dimensão dessa responsabilidade e junta-lhe a destreza do autor
em socializá-la através da “clareza da linguagem e da exposição”,
acrescentando que “a claridade ajuda a iluminar melhor a complexidade,
tornando-a mais acessível.” No seu prefácio
estudo EL destaca a capacidade de entretenimento, discreteando em torno
dos truques usados pelos grandes autores clássicos para que a sua
literatura não se tornasse entediante. Ora toda a literatura de Urbano,
forjada no miolo da vida, nada tem de aborrecido, mesmo ao invadir
submundos pouco divertidos. As últimas
sub-regiões (o ensaísta preferiu tratá-las por alíneas) são Ousadia,
Conteúdo e Energia. Quanto à Ousadia, escreve Lisboa: “Este realismo
singular, como já observámos, intersecta outros vectores: o símbolo, o
mito, o desafio, a metáfora ousada. Atinge, por vezes, uma espécie de
loucura lúcida, uma violência quase intolerável, como no romance a que
já se aludiu, Nunca Diremos quem Sois. Num escritor que já passou a
marca dos oitenta anos, essa juventude da imaginação surpreende.” Esta é
já a fase da fera amansada em que todas as angústias estão esclarecidas
e o autor se deleita a desfrutar da sua sabedoria, do prazer do texto
temperado pela experiência, das alegrias que a matura idade ainda lhe
proporciona, da certeza de ter vivido uma vida cheia que apesar de tudo
ainda faltava completar. Essa juvenilidade madurã é igualmente desforço
das Horas Perdidas da adolescência cinzenta, resgate que culmina, na
minha opinião, nesse precioso A Estação Dourada, publicado quando o
presente século ia já no terceiro ano da sua primeira década.
Relativamente ao Conteúdo – ao ter que dizer – EL recrutou UTR para
tripulante da Nau Catrineta (tem muito que contar) e a síntese desse
acumulado de vivências expulso para o papel está bem patente na
conotação balzaquiana da comédia humana chamada a compor o universo
multitudinário que o olho clínico do leitor de alto escol que é Eugénio
Lisboa não deixou fugir. Pela pujança física e mental responde a
absorvente entrega ao ofício sem paralelo entre os escritores do nosso
tempo e que Eugénio Lisboa define como “a inquebrantável energia desta
escrita, a alegria, o brio, a elegância, que redimem mesmo os textos que
nos falam de depressão, de desencanto, de degradação e de morte
*** Este não é, em
rigor, como qualquer exegeta o apreenderá ao primeiro relance, um
verdadeiro estudo na acepção corrente, mas uma tentativa de mapear o que
valeu a ficção de Urbano Tavares Rodrigues para um “júri” composto por
elementos da inteligência literária portuguesa do século XX e o
respectivo comentário. Um retrato de corpo inteiro de UTR teria de
cobrir a sua ensaística, a literatura de viagens, a actividade
jornalística de testemunho do real quotidiano nos seus mais diversos
registos sociais, humanos e culturais, enfim, o produto do afã de nada
querer deixar passar, de tudo querer reter na escrita sobre um tempo de
sombras que ele iluminou com a sua arte. São áreas que este texto não
contempla senão de passagem mas que não deixarão de interessar os
investigadores que neles quiserem encontrar vestígios idóneos do que foi
o nosso país da ditadura à queda do império e à conquista da democracia,
combate não isento de sobressaltos como os que nos atormentam nos tempos
actuais.
Fique, no entanto,
claro que dos vários “Urbanos” disponíveis aquele que me interessou
homenagear com este trabalho foi o da fase existencialista. Decerto por
ter sido a sua escrita de então a que mais intensamente me fascinou
quando a literatura me abria horizontes de fruição e mais tarde de
participação, ainda que tivesse sido o neo-realismo a conduzir-me a mão
nos primeiros tempos. Tudo se corrigiu sem excessiva dor nem repudio.
Tudo foi aprendizagem e experiência. Ainda que eu e o Urbano tivéssemos
a dada altura percebido que rumávamos a destinos ideológicos não
coincidentes.
|
|||||||||
|
|||||||||
|
BIBLIOGRAFIA & NOTAS
2.
Horas
Perdidas, 1969; 2ª ed. 1973, pref.
Miguel Urbano Rodrigues
3.
A Noite
Roxa, 1956; 2ª edição 1967, pref.
Batista Bastos
4.
Nus e
Suplicantes, 1960; 4ª ed. 1970, pref.
José Carlos de Vasconcelos
5.
Batista
Bastos
6.
Tempo de
Cinzas, 1968
7.
Albert
Camus, Cadernos II
8.
De
Florença a Nova Iorque,
viagem,
1963
9.
Olga
Kosakievicz a quem é dedicado A Convidada, de Simone de Beauvoir,
1943, ed. portuguesa 1989
10.
O narrador
sugere o ano de 1945 como data da conclusão de uma primeira versão de
Horas Perdidas
11.
A Porta
dos Limites, 1952
12.
Santiago de Compostela,
Quadros e Sugestões da Galiza, 1949, ENP
13.
Exílio Perturbado, 1962
14.
Tempo de
Cinzas,
prefácio
do autor
15.
Dissolução,
1974, prefácio do autor
16.
Carlos
Quiroga, in Portal Galego da
Língua, 23.8.2013 (Internet)
17.
Tempo de
Cinzas,
prefácio do autor
18.
Jornal
Negócios, entrevista de Anabela Mota Ribeiro de 7.9.2012 e
republicada por ocasião da morte de UTR
19.
Foto
de época divulgada na Internet. Urbano a cavalo.
20.
Jornal
Negócios, entrev. de AMR
21.
Miguel
Urbano Rodrigues, irmão de UTR
22.
Do
prefácio de UTR à primeira edição de Horas Perdidas
23.
O Avesso e
o Direito, de Albert Camus, do
pref. do autor
24.
As Aves da
Madrugada, 1959, 2ª ed. 1966, pref.
Óscar Lopes
25.
O Mito de Sísifo, de
Albert Camus, versão portuguesa traduzida por UTR
26.
O Homem
Revoltado, de Albert Camus
27.
O Estrangeiro, de Albert
Camus, o romance que valeu ao autor o Prémio Nobel da Literatura de 1957
28.
Terra
Ocupada, 1964, 2ª ed. 1972, pref.
Álvaro Manuel Machado
29.
Sobre a
evolução estética dos neo-realistas ver o ensaio de Mário Sacramento
Há uma estética neo-realista?,1968 e o prefácio de Eduardo Lourenço
a um dos seus clássicos Sentido e Forma da Poesia Neo-Realista,
1968
30.
Romance
que marca uma viragem “formal” na obra de Mário Dionísio
31.
Do Livro à
Leitura, de José Palla e Carmo
32.
Imitação
da Felicidade, 1966 (ed. apreendida).
A 2ª ed., de 1974, saiu com um prefácio de Mário Sacramento.
33.
O Avesso e
o Direito, prefácio. A frase completa
é: Simplesmente, no dia em que se estabelecer o equilíbrio entre o
que sou e o que digo, nesse dia talvez, e mal ouso escrevê-lo, possa
construir a obra que sonho.
34.
Ibidem
35.
Entrevista
a Maria Augusta Silva em 1994 por ocasião da atribuição a UTR do Prémio
Fernando Namora (Internet); entrevista conduzida por Ricardo Palouro e
António Melo, A23 Online, 4.2.2010.
36.
Vida
Perigosa, 1955, 2ª ed. 1970, pref.
David Mourão-Ferreira
37.
Ibidem
38.
Lisboa,
Edições 70, 1983
39.
Revista
Colóquio Letras, nº 86, Julho de 1985
40.
Entrevista
conduzida por Ricardo Palouro e António Melo, A23online, 4.2.2010
41.
Segundo
Teresa Martins Marques, especialista em David Mourão-Ferreira
42.
Segundo
Serafina Martins, em recensão publicada na Revista Colóquio Letras
sobre o livro A Horas e Desoras, 1993, dando eco à opinião de
Fernando J. B. Martinho na Revista Românica 3
43.
Os
Insubmissos, 1961, pref. José
Fernandes Fafe
44.
Uma
Pedrada no Charco, 1958; 2ª ed. com
posfácio de Jacinto Prado Coelho
45.
Do
Livro à Leitura, o único livro
publicado de José Palla e Carmo
46.
Ibidem
47.
Bastardos do Sol, 1959;
2ª ed. 1966, pref. Luiz Francisco Rebelo
48.
A Estação
Dourada, 2003
49.
A Vaga de
Calor, 1986
50.
Entrevista
ao Jornal Negócios supracitada
51.
Publicação
póstuma em 1994
52.
Dias
Lamacentos, 1965; 2ª ed.1972, pref.
Sottomayor Cardia
53.
Casa de
Correcção, 1968, 2ª ed. 1972, pref. de
José Saramago; 3ª ed. 1987, pref. de Eduardo Lourenço
54.
Prefácios
de José Manuel Mendes: Despedidas de Verão, 2ª ed. 1974 e
Carnaval Negro, Porto,2005; prefácio de Manuel Gusmão ao II
Vol. das Obras Completas, 2012.
55.
Georgy
Lucaks: Significado Presente do Realismo Crítico, Lisboa, 1964;
Ensaios sobre Literatura, Rio de Janeiro 1965
56.
Ibidem
57.
Entrevista supracitada em A23Online.
Agradecimentos: Associação Portuguesa de Escritores Dorindo Carvalho, autor do desenho que ilustra o
texto. Drª Luísa Duarte Santos, curadora da exposição
bibliográfica sobre Urbano Tavares Rodrigues que o Museu do
Neo-Realismo, de Vila Franca de Xira, consagrou ao escritor em 2009. Museu do Neo-Realismo, de Vila Franca de Xira,
que por iniciativa própria me fez chegar por via electrónica o bem
documentado catálogo da exposição bibliográfica. O ensaio de Nuno Júdice
que integra este catálogo desenvolve uma ideia feita com várias décadas
de idade. Se a memória me não atraiçoa a paternidade da teoria de que a
censura e a autocensura teriam destituído a literatura neo-realista da
sua conflitualidade intrínseca cabe a João Palma-Ferreira. O autor de
Três Semanas em Maio exprimiu
num suplemento cultural a convicção de que o realismo socialista
literário seria observado no futuro como qualquer coisa de
incaracterístico, tendo em conta a invisibilidade dos seus objectivos
programáticos. O que o tornaria irreconhecível. Face à confusão que por
aí reina, não é de estranhar que o futuro esteja a dar razão a João
Palma-Ferreira. Escritora Maria Graciete Besse, que me enviou um
texto de sua autoria sobre a literatura de viagens de UTR, no caso uma
viagem à Índia. Infelizmente não pude aproveitá-lo, dada a índole deste
trabalho.
Apêndice O catálogo da exposição de Vila Franca de Xira não faz qualquer referência aos vários textos de crítica e divulgação de que sou autor e ao longo dos anos fui publicando na imprensa cultural de expansão nacional, designadamente Jornal de Notícias, Porto, anos sessenta; Vida Mundial, Lisboa, anos setenta, e Diário Popular, anos oitenta. O livro Nos Enredos da Crítica (2006) insere o texto da minha intervenção no Colóquio de homenagem a UTR, pelos cinquenta anos de vida literária, que teve lugar na Universidade Lusófona em 24 de Março de 2003 promovido pela Sociedade de Língua Portuguesa. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Júlio Conrado (Olhão, 26.11.1936,
Portugal) Escritor, crítico literário. Durante vários anos alternou a crítica literária com a ficção (incursões esporádicas na poesia e no teatro), centrando-se actualmente no romance a sua principal actividade. Fez crítica no Diário Popular, Vida Mundial, Colóquio Letras e Jornal de Letras. Colaborador de Latitudes, Cahiers Lusophones (Paris) e Revista Página da Educação (Porto). Coordenou a revista Boca do Inferno, de Cascais. Integrou os corpos sociais de Associação Portuguesa de Escritores, Pen Clube Português, Centro Português da Associação Internacional dos Críticos Literários e Associação Portuguesa dos Críticos Literários. Participou nos júris dos principais prémios literários portugueses. Textos seus estão traduzidos em francês, alemão, inglês, húngaro e grego. Obras principais: Romance: Barbershop (2010), Estação Ardente (Prémio Vergílio Ferreira / Gouveia (2006), Desaparecido no Salon du Livre (2001), De Mãos no Fogo (2001), As Pessoas de minha casa (1985), Era a Revolução (1977) e O Deserto Habitado (1974); Poesia: Desde o Mar (2005); Teatro: O Corno de Oiro (2009). Ver currículo alargado no site do Pen Clube Português |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
© Maria Estela Guedes |
|||||||||