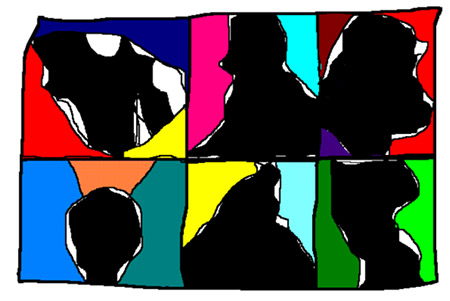NICOLAU SAIÃO
a Fernando Guerreiro(FG), poeta de mérito e editor lúcido e capaz
que possibilitou entre nós a edição de “Os Fungos de Yuggoth”, de H.P.Lovecraft
Há, no mundo da escrita, as chamadas “hipóteses levantinas” – que são as que ficam a jusante desse rio que pelos continentes da fábula corre lentamente e desagua no grande oceano das concepções que, mais ou menos ocultamente, se vislumbram, tacteiam e finalmente se agarram entre luz e sombra, entre sol e lua. Para tudo dizer: por detrás do monte, da colina onde se acoitam os mundos do imaginário.
Não esquecer, também, que no “texto novelesco” por extenso (cf. J.B.Priestley, Eric Ambler, etc.) o levantino era por tradição habitante dúplice dum lugar híbrido, figuração de mistura (que é o sinal mais típico do monstro) receptáculo de obscuros conteúdos de baixo e de cima, de dentro e de fora. (“Desconfia dum egípcio; mas jamais, jamais confies num grego ou num turco” – Ambler).
A hipótese que FG nos propõe nos dois escritos que constituem o objecto deste pequeno ensaio, é a denominada “hipótese do fantasma”, plasmada num texto nascido tempos atrás e que se prolonga, com outra materialidade, se vela e se revela e, finalmente, se ergue e se põe a correr no texto posterior “Os deuses estão entre nós”. Ambos notáveis pela informação que denotam, pela clareza do enunciado, pelo estilo sóbrio mas de bom recorte, pela inteligência que deixam adivinhar.
Mas textos que partem do reflexo. Que são evidente sinal não diria de sedução vampírica mas de imersão num mundo que dialoga com os habitantes do país das trevas e dos nevoeiros. Sem ter considerado que os monstros, (na minha concepção), vivem todos deste lado e que, quando digo deste lado, digo que o que os move não é a magnífica revolta, muito menos a rebeldia, mas a assumpção do pavor e do domínio sobre os viventes. Mas eles camufladamente têm artes de enganar – que são as artes da sedução mefítica e despertam nos pensadores, quando calha, “solidariedades” algo impuras que são todavia filhas dessa boa-fé que eles arteiramente suscitam para melhor destroçarem os humanos.
Ou seja: estes dois textos de FG partem de uma hipótese levantina, partem de pré-concepções que, afinal, negam a própria existência da sua escrita enquanto lugar legítimo onde a maravilha acontece e onde a quimera finalmente cobra rosto, voz, figura e realidade. Que, em suma, negam a poesia (que é a vida das palavras na sua máxima força) enquanto espaço de liberdade.
Se de facto fosse real a existência do “realismo absoluto dos simulacros”(sic), isso significaria que fora estabelecido o relativismo dos não-simulacros, ou seja: a proposta da assumpção da morte como valor de referência, de natureza naturante, logo de extinção da escrita como carne pulsante, nascente e nascida, reconvertida e podendo pôr-se a si mesma em causa mediante a desconstrução que a poesia é.
Os monstros não podem criar porquanto são infecundos – um monstro-monstro não é nunca uma personagem trágica mas sim uma negação que produz tragédia – que, como se sabe, pressupõe o humano e é a sua melhor prova, o seu mais seguro sinal com toda a carga absoluta que isso arrasta. (E a escrita é a busca incessante do absoluto).
O fantasma só existe enquanto criação dum cérebro (plasmado, quando muito, num aparelho, numa máquina de engendrar – paleta, livro, câmara de fotografar ou de filmar – uma vez que o fantasma parte da indeterminação do espírito e nunca parte ou é parte da carne mas, quando muito, da sua cessação – logo da materialidade havida, materialidade que é a única substância que pode forjar “imaterialidades”: pensamentos, desejos, intuições fantasmas. Precisamente por isso é que as encenações engendradas por Lovecraft podem ser classificadas por outrem, por diversos críticos (ou o foram por ele mesmo) como “absolutamente materialistas”. Porque ganharam corpo na escrita, tão simplesmente. Os fantasmas, a existirem mesmo, não seriam pois mais que realidade, logo matéria não ficcionada. Como canonicamente desaparecem assim que são trazidos à luz da Vida, só a escrita lhes serve de comprovação, de registo que nos assegura que efectivamente existiram. E é este o supremo paradoxo: só existem civilmente, reconhecidamente, se já não existirem (se tiverem passado para o mundo dos relatos que os certificam) só existem aos olhos dos mortais se forem matéria de memória – oral ou perpetuada em narrativa escrita, desenhada, filmada. Porque os fantasmas, de acordo com a tradição, não são espectáculo de multidões a não ser na Arte (pintada, escrita, filmada), são experiência de um ou alguns poucos. Leia-se: matéria de embuste, simulação, aparência intimidada que procura ser intimidatória.
Vejamos agora o título proposto por FG para o seu texto “Os deuses estão entre nós”.
Não tomemos a frase pelo valor simbólico que poderá veicular. Tomemo-la à letra. Para efectuar o contraste – como se procede para aferir que algo é de ouro ou de prata – sujeitemo-lo a uma pedra-de-toque. Por exemplo – e uma vez que a única citação directa que o trecho transporta é a frase de Holderlin “os deuses já estão entre nós”. Então, teríamos como contraste “os deuses já não estão entre nós” e, a seguir, “os deuses sempre estiveram entre nós”, “os deuses nunca estiveram entre nós” e, adicionalmente, como matéria vinda do país do humor negro e da ironia sibilina, “os deuses estão e/ou não estão um bocadinho entre nós”.
Consideremos, antes de passarmos adiante, que Holderlin, o grande poeta contemporâneo de Goethe, esteve são durante um período da sua vida e louco durante outro. Perguntemo-nos, então: a frase foi concebida no período de sanidade ou de loucura? No primeiro caso, perguntemos mais, ainda: quanto de loucura nela se misturou? No segundo caso, quanto de sanidade? E isto muito simplesmente porque a escrita pressupõe a possibilidade de contaminação (alguns diriam: implica-a) da vida, assim como a vida pressupõe a contaminação da escrita, tal como no resto do texto é sugerido, proposto, assumido mesmo.
Continuando a usar a pedra-de-toque, ponhamos: os deuses sempre estiveram entre nós. Tal significaria que fazem parte tanto do mundo dos sonhos como do mundo da realidade que nos é apontado. (A primeira e mais poderosa característica dos deuses, de acordo com os cânones, é a sua ocupação total do mundo no qual os homens se movem apenas por concessão do alto. Os deuses são a totalidade, de acordo com os pensadores fideístas ou com os que os citam cabalmente). Mas neste caso não existe nem nunca existiu a soberania autónoma (mesmo que mitigada) do homem, logo não pode existir ou ter existido a escrita “absolutamente materialista” de Lovecraft ou outro. Na melhor das hipóteses não passaria de equívoco (visto o autor, como todos nós, não passar de “símio dos deuses”) quando muito mera função objectual, cobaia ou marioneta para indescerníveis andanças divinas, sujeito de obscuro propósito não desvelado/revelado, reflexo ou pretexto para actividades não susceptíveis de conhecimento humano. Porque a característica dos deuses é serem os seus manejos incompreensíveis para o homem, que de acordo com esta proposição se deve limitar ora à aceitação ora à expectativa.
Nesta conformidade, o presuntivo materialismo absoluto da escrita lovecraftiana não passaria de imagem virtual, direita ou invertida, dos propósitos inconcebíveis, incompreensíveis, inscritos no livro dos deuses equacionados.
Vejamos agora a outra premissa: os deuses nunca estiveram entre nós. Se assim é, porque são convocados/invocados? Isso corresponderá a um desejo de que o venham a estar? Ou por tal ser uma sensação/encenação que permite o engendrar duma escrita, de pensamento ou lucubração num continente onde um determinado tipo de imaginário não aparece como inverosímil, não só possível mas também credível? Porque, pertencendo pois a soberania ao homem, este pode entregar-se sem amarras à criação e a todas as suas contaminações?
Ou seja, poder ele inclusivamente erguer a frase positiva, a negativa e a irónica, uma vez que tem acesso ao lugar absoluto da liberdade. A todas as congeminações e criações, outorgadas ou inerentes, ou conquistadas.
Passemos agora a outro ponto, vejamos os pressupostos em actuação: se não há, do ponto de vista da criação, verdadeiras diferenças entre escrita, cinema e vida (sic), porque é que há da sua forma própria vida, cinema e escrita? Poderia haver só escrita ou só vida ou só cinema… No entanto sempre houve vida, a dada altura passou a haver escrita e, muito mais tarde, passou a haver também cinema. Então, de duas uma: ou os sinais são o mesmo operativamente ou têm equivalência quando considerados. Se são o mesmo, tanto faz viver só no celulóide como só no quotidiano, viver só na folha de papel ou só na película – o que é uma inviabilidade provada pois é a vida quotidiana que vai ao cinema, que o faz, que produz escrita – sendo por seu turno contaminada por estes desde sempre a partir do surgimento deles.
É necessário, para chegarmos a algo num continente não-fantasmal, que concluir: os sinais têm equivalência. Mas a equivalência (como e qual?) não é nem significa identidade, antes pressupõe a diferença. É porque estão separados absolutamente que há cinema, vida e escrita. É por isso que a escrita e o cinema – a Arte – multiplicam as vivências; se estivessem juntas, em identidade, estariam sempre mergulhadas num universo extático, num limbo gelado, infecundo, espectral e portanto proto-vampírico.
Há um dado ponto, como os surrealistas antes e depois da letra descobriram ou constataram, em que várias realidades (sublinho, realidades) se unem. Por outras palavras: a poesia une-se à vida. Nalguns pensadores tal facto parece-lhes ser a existência de uma matéria contendo sinais contrários tendo o mesmo valor operativo. Em termos morais: o mal igual ao bem, o mal ser o bem ou o bem ser o mal. Ou seja: existir uma matéria una, múltipla, constituída pelos dois polos.
Todavia, a prática alquímica ensina-nos que as coisas se passam de maneira bem diferente: existe a matéria afastada contendo em potência, desordenadamente, o mercúrio filosófico e o enxofre filosófico. Convenientemente excitados pelo sal tratado pelo duplo homem igneo, transfiguram-se. Depois de várias operações que não interessa trazer a capítulo e subidos vários degraus da Obra, acaba por se entrar na posse da matéria próxima que a seu tempo iluminará o vazio mediante a sua própria iluminação.
Noutro plano: a palavra só tem poder transmutatório se se reconverter tornando-se outra coisa – palavra livre em conjunto, forjando uma frase livre ou seja, real e coerentemente ligada à sua figura com reflexo no espelho da existência (ao contrário do monstro, que não tem reflexo por não ter vida).
E é por isso que não há incarnação doente, mutante, produtora de seres híbridos e impuros (sic). O que há, neste plano, são projectos de incarnação que só podem existir por terem seguido a “via mala” no meio-caminho entre a vida e a morte; seres de mistura e de desordenamento como o dragão escamoso dos sábios. Note-se, entretanto, que pode haver sobre eles uma luz, mas é a da falsa estrela que os alquimistas bem conhecem e que aparece pouco antes do derradeiro tour-de-main, armadilha colocada aos incautos pela Senhora da Luz para lhes testar a sabedoria, passo final antes da suprema iluminação que os levará aos confins do tempo e do espaço, à poesia das coisas e do que vive no seu interior, uma vez que o que está dentro é como o que está fora, atingido desta forma e só desta forma o milagre de uma coisa só. Se o operador (o poeta, o pensador, o alquimista) se deixar embalar nessa falsa certeza, pese às aparências mundanas irá dar a um lugar onde só há choro e ranger de dentes, onde só existe frio e escuridão.
Reparemos num detalhe que convém recordar: de acordo com a tradição, o vampiro é o produto do esperma masturbatório que caíu num solo absolutamente infecundo, logo impuro. É por isso que ele é não mais que simulacro não criativo, aparência de vida, mentira absoluta e absoluta violência. Repare-se ainda que o Engendro de Victor Frankenstein, segundo Mary Shelley, é formado por fragmentos de mortos, juntos (e não unidos harmoniosamente) pelo poder da electricidade (de fora para dentro, enquanto na vida a força vem de dentro para fora). Ou seja: pelo poder da tecnologia, que no Frankenstein moderno aparece – ainda mais reveladoramente – através das multiplicações produzidas pelos computadores. Dizendo de outro modo: pelo poder da nova diplomacia, que detém tanto o poder de criar monstros (ultimamente, os livros e filmes de vampiros para adolescentes) como de criar novos engendrados literários que só produzem uma escrita morta, deturpada e medíocre.
No segundo texto de FG refere-se, citando Nodier, que o homem dum tempo a vir viveria simultaneamente duas vidas, a diurna e a dos sonhos. A primeira seria então permeabilizada pelo vampirismo existente no mundo onírico ou das imagens insubstanciais. Essa, real e material, onde se pode escolher, onde existe o espaço de liberdade (cf. Cesariny, que dizia lucidamente num poema que em vigília é possível optar mas se é sonho tem de se ir mesmo…) ficaria inteiramente preenchida pela fantasmagoria dos sonhos que se têm a dormir, dos sonhos que fornecem por vezes encantamento mas não têm poder criativo no seu próprio plano. (Aqui, recorde-se o ditame “Os que sonham de olhos abertos têm possibilidades de achar coisas que os que só sonham de olhos fechados nunca encontrarão”). Por outras palavras: a substituição da vida onde é possível criar objectos, relacionamentos, arte e o acesso à sabedoria, pela vida obrigatória dos sonhos – similar ao entorpecimento provocado pelo ópio, pelos diversos ópios, que parte de projecções que a dado passo são pesadelos.
A vida do quotidiano, com a liberdade de criar a que se tem inteiro direito, deve pôr-se em guarda contra a contaminação de um pretenso sonho figurado que tenta ocupar o espaço real e que é constituído por todas as imagens dadas como uma realidade, mais, uma verdade actual e performante. A mais pura liberdade vive entre, por um lado, o espaço constituído pelo direito de o escritor ou o artista por extenso, o homem, criar encenações que finjam ser a verdadeira vida e, por outro lado, o direito de se recusar a ser ficção como se existisse apenas nelas.
Porque, de facto, o homem não vive duas vidas – e sim uma, mas por mor da sua soberana imaginação pode visitar o outro planeta (a escrita, o cinema, toda a arte), sem que dele ou dos deuses que o habitam constitua mero símio ou mero reflexo.
A não ser assim, corre o risco de – por obra da armadilha aludida atrás – se tornar carne para os monstros, quando não carne dos monstros. Tanto a arte como a vida – como a literatura – estão longe de ser mera encenação para acatitar monstros ou deuses. E muito menos são um sonho passivo ou enlouquecido – de simples mortos-vivos difundindo a epidemia dos que tentam aguardar nas trevas a figura impoluta do homem para eficazmente a devorarem, tal como se passa no mundo que os poderes discricionários buscam ainda hoje dominar inteiramente.
Post Scriptum – A hipótese central e imaginativa/argumentada posta por Lovecraft em “O caso de Charles Dexter Ward” é clara por diferença na sua constatação: não são mortos que voltam numa condição mutante/mutada mas sim não-seres que tentam apoderar-se de vida mediante práticas de permanência espúrias; não uma outra espécie a vir presente futura, mas simulacros, tentativas de um reflexo condenados por isso ao inevitável desaparecimento.
O livro, sublinhemos, chama-se por isso “The case of Charles Dexter Ward” (e não “Os mortos podem voltar”) ou seja: o caso de um vivo, de um indagador que, por armadilha de um simulacro, foi colhido no caminho para a sabedoria, para o conhecimento. Morreu porque tentava compreender ingenuamente (isto é, sem se precaver), porque não conseguiu escapar ao retrato em que se plasmava Joseph Curwen. A meu ver, por esta soma, o título dado na primeira edição portuguesa não é justo, porque o que tenta reflectir é uma acção postergadora dum direito evidente, existente, soberano e inscrito na espécie ela mesma: não voltar. Esse título acontece por mero detalhe editorial, eventualmente por pequeno sensacionalismo da época.
Adicionalmente, diga-se que a morte (a calcinação, quarto degrau alquímico, negrume do corvo místico) é referida duma maneira cabal e esclarecedora por, entre outros, Bernard Trevisan e Fulcanelli. No caso português, em textos avulsos de modernos alquimistas que têm difundido a sua obra através dos meios editoriais normais.
ns