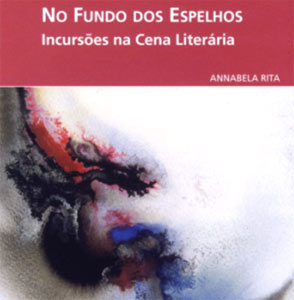|
EÇA DE QUEIRÓS: PROMOVENDO A INTERROGAÇÃO - ANNABELA RITA 2. O CONDE DE ABRANHOS O sujeito enunciador assume, logo de início, o estatuto de cronista/biógrafo de um homem de quem foi secretário e confidente. Na carta-dedicatória, Z. Zagalo, com aparente falsa modéstia que é, na realidade, uma acusação disfarçada, diz-se escritor e acusa o público de benevolência crítica, insinuando uma relativa sobreposição das figuras do narrador e do autor implícito, sobreposição que se denuncia especialmente pela cultura evidenciada. Outros elementos funcionam como alertas para o leitor, sugerindo a componente lúdica que atravessa o texto e em que ele assenta: a discordância entre o tom formal que se pretende (?) assumir no inicio, na dedicatória à «Ex Sr. Condessa d´Abranhos», viúva, e o anedótico de alguns episódios narrados, a identificação final de Z. Zagalo como «ex-secretário» (livre da autoridade hierárquica) e «sócio honorário do Grémio Recreativo...» e, ainda, a data de «l.° de Janeiro», tradicional instauradora de uma nova ordem e subversora da anterior. Acresce a isso que o Z. De Zagalo evoca uma assinatura dessa outra construção paródica que é O Mistério da Estrada de Sintra. Julgo, aqui, que a identificação do destinatário desta narrativa clarifica a problemática fundamental da mesma: quem fala, fala para alguém, figura virtual ou concreta que vai influir (e muito!) no discurso do emissor. Ora, o destinatário parece ser a sociedade portuguesa de um modo geral, quer dita no singular paradigmático d’«o leitor» (pp. 40, 58, 60), quer no plural «Vós» (pp. 36, 108, 135), «S. Ex.as» (p. 92), com o mesmo quadro de referências histórico-culturais que o narrador (p. 172), quer, ainda, no cúmplice «Nós» (p. 117), só usado a partir do momento em que se verifica a coincidência de pontos de vista entre o narrador-autor e o seu receptor face ao Conde d´Abranhos. Se é, portanto, o leitor que vai determinar o tom e a estratégia discursivos, e se ele é a colectividade admiradora do «grande homem» (p. 10), o narrador, distinguindo-se pela individualidade e pelo SABER — o conhecimento do «homem em chinelos e robe-de-chambre» (p. 10) —, vai destruir a imagem pública, revelando iluminando da forma mais inteligente a sua face oculta(da): afectando sempre partilhar a opinião generalizada como modo de assegurar a receptividade e a leitura, (de)mo(n)stra o seu erro, realizando uma subversão com muito maior alcance!. E o leitor por excelência é aquele que, inteligente (p. 39), pressente «por um trecho o colosso, como Cuvier, por uma vértebra, adivinhou o MASTODONTE» (pp. 58-9) (atente-se no depreciativo), ou seja, o que, captando o «piscar de olho» do narrador, entra no jogo... O perfil deste narrador «indigno de confiança»18 vai-se esboçando ao longo do texto: —diz-se « a testemunha da sua [,do Conde d'Abranhos,] vida», mas raramente presencia os acontecimentos (!), recorrendo quase sempre a fontes orais (confidências do Conde e depoimentos de testemunhas oculares ou indirectas) ou escritas (os manuscritos e notas para as «Memórias Íntimas» do próprio biografado, a sua correspondência e o rascunho dos seus discursos) em cuja veracidade insinua a desconfiança (cf. p. 155); —confessa reiteradamente a sua não omnisciência, o que é, aliás, exigido pela verosimilhança interna (é homodiegético), embora o distanciamento temporal lhe permita um conhecimento mais vasto do que tinha quando personagem, mas, ocasionalmente, na falta de documentos, usa a focalização interna (cf. pp. 166-7); —afirma-se «historiador honesto», isento, imparcial, não opinativo, mas comenta os acontecimentos e as personagens (pp. 20-1, 66-7), imagina diálogos (pp. 128-9) e episódios (pp. 72-5), embora com algumas ressalvas do tipo de «tal devia ser» (p. 75), etc., e manifesta o gosto do pormenor indiscreto, geralmente acompanhado por uma desculpa pseudo-justificativa como «estes pormenores não são indiscretos, pois que os dois esposos repousam no cemitério dos Prazeres» (p. 78), etc.; — diz não ter estudos nem grandes conhecimentos (cf. p. 41) e exibe uma vasta cultura literária, filosófica, político-social e histórica que denuncia, afinal, a figura do autor, escondida por detrás da do narrador: o cotejo de algumas opiniões com as expressas noutros textos de Eça (ex.: Cartas de Paris) revela a coincidência de pontos de vista e, até, aqui e além, de linguagem. Nem tudo, porém, é contraditório: de acordo com o subtítulo («Notas Biográficas...»), o narrador opta por uma escrita memorialística (p. 174), digressiva e não cronológica (cf. p. 32), «apenas [dando], a traços largos, as feições essenciais da /.../ fisionomia histórica [do Conde d'Abranhos]» (p. 40). Ora, o «traço largo» e a redução ao essencial pertencem ao domínio do anedótico e do caricatural, sugeridos, quer pelo emprego da expressão (p. 61), quer pela referência ao Almanach pour rire de que Z. Zagalo-perso-nagem é leitor e plagiador (p. 162)... Uma vez que falo em estratégia discursiva, impõe-se-me analisar os processos de que o narrador se serve para desmi(s)tificar «esta soberba figura histórica» sem, no entanto, levantar a barreira da incredulidade do leitor, dotado, à partida, de um quadro de referências outro. Eis alguns dos que se me afiguram mais interessantes e recorrentes: —a reprodução «indignada» de «insinuações pérfidas» (p. 19), divulgando pormenores que, afinal, as vão corroborar inteiramente, como acontece, p. ex., com a carta do Conde ao Dr. Cardoso Torres, nunca publicada por «motivos óbvios» (p. 116), ou com a cobardia daquele, ocultada pela «acta» (p. 154); — a atribuição ao Conde d'Abranhos de pensamentos «elevados» que não quadram com as circunstancias ou, mesmo, com a sua linguagem (p. 160) — o elogio hiperbólico ao génio de Abranhos, em vivo desacordo com a «amostragem», uma exemplificação subversora da apologia: a inspiração poética acentuada pela repetição que seria supostamente patente na quadra «Deus existe! Tudo o prova, / Tanto tu, altivo Sol, / Como tu, raminho humilde / Onde canta o rouxinol!» (pp. 30-2) , a lealdade jornalística que se percebe ao «subsídio», à «cheta» (pp. 59-63) e a política bem evidente na deserção «com as suas armas de eloquência e a sua bagagem de saber para o campo inimigo» (p. 133), abandonando o ministério «gasto» e «sem futuro» (p. 132), a coragem heróica de duelista, tanto maior, quanto o «horror dos conflitos de força» (p. 144) lhe provocava «vómitos» e «intempestivas indigestões» (p. 154) , etc. etc.; — a pseudo-«justificação» de atitudes ignóbeis do Conde a que simula aderir, exprimindo empoladamente o raciocínio tortuoso daquele (pp. 33-40. 45-46, 51) ou argumentos que visam «defendê-lo» (pp. 134-5). Isto, por um reconhecimento implícito do «altruísmo» de quem se deixava conduzir por «deveres maiores para consigo mesmo, para com a sua carreira, o seu nome» (p. 133)... — a exposição de ideias verdadeiramente escandalosas que Zagalo finge partilhar entusiasticamente (pp. 34-6, 41-4), com «admiração muda e reconhecimento correcto» (p. 41); —o comentário subversor do discurso afectadamente laudatório da autoria do narrador (p. 127) ou atribuído a outrem; — a insinuação da dúvida subversora, p. exemplo, relativamente aos factos «calados» pelo Conde (p. 136), algumas vezes no meio de um trecho apologético como no caso do heroísmo da «acta» e das «portas fechadas» (pp. 186-7). Que resulta de tudo isto? Um Conde d´Abranhos-outro, cujo perfil se vai sobrepondo ao anterior: a técnica de apagamento é insuperável! Logo de início, a referência à mudança da «DIVISA» (pp. 23-4) coloca a personagem sob o signo do oportunismo, o móbil determinante dos seus actos. E procede-se à desmi(s)tificaçao do «Grande Homem» a todos os níveis: familiar, estudantil, social, jornalístico, político, parlamentar, legislativo, intelectual e moral. Relativamente às origens do Conde, Z. Zagalo contrapõe à plebeia, indiciada logo pela semelhança do apelido com «abrunhos», frutos de planta espontânea, a aristocracia dos Noronhas, ascendência que «documenta» com a legenda (!) e nobreza «ilustrada» (!) pela imoralidade feminina e pela indignidade masculina... No âmbito da família, instituição que diz sacralizar (cf. p. 76), o seu comportamento é «exemplar»: — filho, repudia os pais que, «em nome dos interesses do Estado» (p. 38), não poderia «admitir em sua casa, no convívio da sociedade mais raffinée de Portugal!» (p. 39); —sobrinho, vê na tia a «galinha dos ovos d'oiro», ideia perpetuada pelo monumento funerário «onde o Anjo [ele, Alípio Abranhos!!!] chora sobre uma coluna truncada que sustenta um livro, símbolo da educação que facultara ao Conde, e uma pequena bolsa, emblema da fortuna em terras que por testamento lhe deixara» (p. 40); —homem apaixonado, desfruta e lança na miséria uma jovem criada, recusando-lhe uma esmola, «tanto a esta alma severa e forte repugnavam as moles condescendências e as vãs piedades!» (p. 51), torna-se amante de uma mulher casada e socialmente inferior, pois um nível superior fazia-o temer pela sua carreira (cf. p. 77) e desposa uma «encantadora herdeira de doze mil cruzados de renda» (p. 105) após um «cerco» estrategicamente realizado: aproxima-se do influente Pe Augusto, insinua-se no grupo, estuda as personalidades daquele, de D. Laura e do desembargador e, ciente das suas fraquezas, em especial da ambição e da beatice, passa à ofensiva com a lisonja generalizada, o «suborno» disfarçado (p. 98), as manifestações de espírito religioso (p. 97) e o interesse pressuroso e cínico (pp. 100-5). A sobrevalorizaçao da carreira em detrimento da família é, aliás, patente em vários momentos (pp. 124-5, 188-9, 178), mas talvez seja o diálogo imaginado entre o Conde e D. Laura aquando do nascimento de Bibi que melhor cristaliza esse egoísmo «alipiano»: enquanto a sogra falava do parto, do outro lado da cama em que jazia «D. Virgínia, branca [...] [e]xaust[a]» (p. 129), ele evocava os seus triunfos parlamentares... Estudante (sete anos iniciáticos!), o comportamento dissimulado, alegada «discrição», a denúncia anónima e a lisonja, formas de «aplicação», ilustram(!) claramente o seu «profundo amor à Ciência, à Disciplina e à Ordem» (p. 46), a sua «lealdade» e a sua «nobreza»... Jornalista, honra a divisa (!) e saúda a instauração de uma «nova política» (p. 53), uma «nova táctica social» (p. 55) que, «condizendo com o seu temperamento» (p. 53), assenta... na (dis) simulação e na intriga! Orador parlamentar, os seus discursos, mais literários que políticos (cf. pp. 126-7), em que nem tudo «vinha a propósito» (p. 127) e frutos de plágio (cf. pp. 119-120)... vão ser modelares e célebres pelo «estilo», «colorido» e «período» «genuinamente de Alípio» (p. 127). Legislador, o seu «magnífico projecto» (p. 34) de «disciplinar» a Caridade por meio de «Recolhimentos de trabalho» «nunca conseguiu passar nas Câmaras» (p. 36). Estadista, após uma entrada «inteiramente providencial» (p. 109) —uma «Providência» de nome (Dr.) Vaz Correia!— na Câmara dos Deputados e um tempo de aprendizagem (segunda iniciação), mergulha intrepidamente nas «límpidas» e «calmas» águas da política: a ambição, o cinismo, a traição e a intriga (em suma: a ESTRATÉGIA!), sob a máscara do «patriotismo esclarecido» (p. 170)... Relativamente à sua «brilhante» figura de ministro, verifica-se a completa inadequação do homem ao cargo: — chefia «admiravelmente» (p. 190) a Marinha, temendo e detestando o mar «e tudo que dele vive ou nele trabalha» (p. 190), sem nunca ter entrado num navio e «[sem dar] grande crédito à ciência da navegação» (p. 190)... —administra «genialmente» (p. 189) o Ultramar, desconhecendo onde se situam Timor e Moçambique e manifestando uma perfeita (!) ignorância da geografia e de quaisquer outros «detalhes práticos que preocupam os espíritos subalternos» (p. 191)... A nível intelectual, há uma «sublime» combinação do raciocínio tortuoso (pp. 169-170) e da lógica paralogística (p. 42) e abusivamente generalizadora (p. 95) deste «notável filósofo» (cf. p. 26) com um espírito d'«o olho no rasgão da lona» (p. 93)... O progresso deste metódico e sistemático trabalho de desconstrução semelhante ao das farpas é, já o disse, acompanhado pelo da aproximação narrador/narratário (-leitor), no sentido de uma cada vez maior cumplicidade: do neutro «Alípio Severo Abranhos» (p. 17), o tom enciclopédico do parágrafo inicial rapidamente substituído por «Alípio Abranhos» (pp. 24, 32) e por «Alípio» (p. 36) antecedido dos adjectivos «pequeno» (p. 24) ou «jovem» (pp. 26, 33) , passa-se ao «nosso Alípio [Abranhos]», no momento em que se firma o pacto de leitura, e à introdução entre ambos dos qualificativos «grande» (p. 51), «fino» (p. 100) ou «inspirado» (p. 128). É, porém, na expressão «nosso lírico» (p. 48) que julgo poder detectar mais raramente a emergência do autor implícito 19, entidade que se situa no limiar do mundo romanesco, da ficção, e que, transcendendo o âmbito meramente intratextual, participa do literário englobante20 : a cumplicidade narrador/narratário «filtra», na realidade, a do autor/leitor, essa empatia que se vai desenvolvendo entre ambos e que permite responder a uma «piscadela de olho» com outra... Em suma, não se trata, como pretende (?) Eça-Autor-editor, de um narrador «idiota», «tão tolo como o ministro /.../ que, querendo fazer a apologia do seu amo e protector, /.../ [nos apresenta] /.../ com crua realidade a nulidade da personagem», mas, creio, de um sujeito que opta por uma escrita assente no jogo de pretensa ocultação (simulação) e desvendamento, jogo indiciado, à partida, e entre outros «sinais», pela recorrente e enfática afirmação do seu saber qualitativamente diverso do dos outros — «só eu o vi /.../ em chinelos e de 'robe-de-chambre'» (p. 22), «eu conheço o homem» (p. 23), «o meu conhecimento intimo da sua vida» (p. 23), «eu sei» (p. 24, sublinhados meus) — e da sua função de revelador — «quem melhor do que eu poderia tornar conhecido este português histórico [?]» (p. 21)—, quebrando o «silêncio» e a «escuridão» relativos à biografia «privada»: «E surges para a História redivivo O Conde D´Abranhos institui-se claramente como texto-resposta e não «complementar»21 à opinião pública e à homenagem que a materializa. Começando por uma referência à estátua erguida ao Conde e terminando com a sua descrição, ciclicidade que reforça o estatuto de texto-resposta, afirma-se, quase diria, como uma «heteropsicografia» e, diante da imagem física, esboça o seu «negativo» psicológico-moral. Fingindo corroborar a opinião pública que vê no Conde d'Abranhos o «varão eminente» (p. 9), «Orador, Publicista, Estadista, Legislador e Filósofo» (p. 9), um espírito elevado e recto, o narrador vai, na realidade, (de)mo(n)strar o seu carácter ambicioso, mesquinho e oportunista, desconstruindo metódica e sistematicamente a imagem anterior. No final, «regressamos» à homenagem e à escultura (ponto de partida), mas já transformados pela leitura, num movimento em espiral: às «condecorações» («merecimento»), aos «manuscritos» (o «homem de letras»), à «espada» e aos «olhos erguidos» («fé» e «patriotismo») já sabemos «corresponderem», respectivamente, a lisonja e a intriga, a ausência de valor cultural e intelectual, o egoísmo e a cobardia e a ambição e o oportunismo de Alípio Abranhos. Nos deslizamentos da sua escrita que já referi no ensaio anterior, Eça tem o cuidado de ir inscrevendo índices interpretativos que favorecem a leitura dos seus textos como textos irónicos, além de promoverem um efeito de interdiscursividade. Assim, se pensarmos, como disse atrás, que o Gama Torres deste romance se fará reconhecer no Pacheco d’A Correspondência de Fradique Mendes, cujo percurso sintetiza, grosso modo, o do próprio Conde d’Abranhos, qualquer deles, afinal, simbolizando o político português, creio que a referência de Fradique ao seu encontro com a viúva de Pacheco reforça a minha leitura: o espanto e a melancóloca comiseração dela face à afirmação deste sobre o talento do falecido induzem-nos a ver este ao contrário... No fundo, trata-se de uma escrita lúdica e que se ostenta enquanto tal: criando uma distância entre o que «se diz» (voz colectiva) e o que se «mostra» (cenas), vai instituí-la como um inter-espaço, onde se inter-diz (voz do sujeito) o «interdito» e, ao mesmo tempo, se enCENA o processo de escrita, se ostenta a figura e a atitude enunciatórias. Entre o dito dos outros (colectividade) e o feito do outro (Conde d´Abranhos): um inter-dizer-fazer do eu num espaço que é, simultaneamente, lugar de jogo e, porque (também) especular, de auto-observação (narcísica?)... “Civilização” (22) Se o título criar a expectativa de uma síntese inicial de algumas das leituras mais interessantes e incontornáveis do conto «Civilização»23, confesso já que não pretendo corresponder-lhe, porquanto as sei bem conhecidas de todos nós, o que me permite reflectir comodamente a partir de alguns aspectos já por elas destacados. No início... é o eu, a primeira pessoa abre uma longa fala que constitui o conto «Civilização», sustentando na subjectividade tudo o que é dito. Depois, na afirmação «Eu possuo preciosamente um amigo /.../.» (p. 67), o adverbio introduz-se como um sinal de estranheza, chama a atenção sobre si, instaurando uma modalização irónica no discurso, a distância entre o sujeito e o seu próprio discurso. Distância irónica entre o narrador e o narrado, discurso e história, portanto. Vou observar como ela se desenvolve no texto e o que ela implícita através da intertextualidade. No conto, à partida, parece falar-se, em particular, de Jacinto, personagem da história e, em geral, da Civilização, tema enunciado no título. O Jasmineiro é o nexo entre Jacinto e a Civilização, em rigor, a supercivilização: lugar que inscreve um no outro e pelo qual aquele é absorvido por esta. Torges representa a outra modalidade possível de civilização, para alguns, a sua falta. Esta relação entre conteúdo' e 'continente' indica, aliás, uma outra, incontornável, entre o homem e o mundo, o que nos remete para uma problemática existencial, mas também permite durante largo tempo falar de um quando se fala do outro (pela analogia e identificação de ambos) e, numa segunda fase, falar de um contra o outro (pelo contraste e desidentificação entre ambos). Consideremos, primeiro, a Civilização. Como fala dela o narrador? A dificuldade de falar da Civilização ao leitor leva o narrador especialmente a duas opções: descrever e simbolizar. Encará-las em separado revela-se, nalguns casos, cómoda artificialidade. Quanto à descrição, observo que o narrador a realiza principalmente enumerando e especificando. Esse «admirável mundo novo» que o Jasmineiro condensa, resume, desdobra-se à nossa frente longa e minuciosamente: os objectos e as suas funções vão-se alinhando, sucedendo e multiplicando linha a linha, página a página. É um procedimento quase contabilístico: o narrador faz uma espécie de levantamento do que é considerado instrumento característico do século XIX, afirmando-o reino da máquina na plenitude do materialismo. Isto é óbvio, em especial, numa expressão como «armazém do saber» (p. 68) designando a biblioteca: os livros cristalizam informação parada, estanque, arrumada. O saber, aí, quase só ocupa lugar. Nesse levantamento sistemático, os objectos aparecem sem mágica, pois, ou surgem disfuncionalizados na enumeração quantificadora, ou excessivos no seu uso pela personagem, ou impertinentes na sua coexistência pacífica (p. ex. as «obras cruciais da inteligência — e mesmo da estupidez», p. 68). Assim sendo, esses objectos vão ocorrendo e acorrendo na ficção e no discurso provocando um efeito de monotonia na personagem e no leitor: o cansaço do primeiro contamina o outro através do alongamento discursivo obtido pela enumeração, na pretensão de exaustividade, o bocejo de Jacinto tende a repercutir-se no nosso próprio bocejo. Tratando-se de ensinar o que é a Civilização (do ponto de vista do narrador), esta monotonia este desprazer constituem o modo de iniciação do leitor, em ritual que duplica o da personagem. A distância emocional que marca o tédio introduz-se entre o leitor e o narrado, no caso, o descrito. O narrador consegue, pois, desmitificar a prestigiada civilização reproduzindo em nós o sentimento de Jacinto, contaminando-nos com o tédio e o desinteresse por via retórica. Por exemplo, as «operações do alindamento de Jacinto» cansam-no tanto como a nós:
Por outro lado, tal enumeração, promovendo uma multiplicação de "objectos" no discurso, cria também um efeito de exotismo e, portanto, o estranhamento em relação ao que, afinal, rodeava o indivíduo do século XIX na grande urbe civilizada. Estranhamento que o autor explora no final ao encenar a ruína da supercivilização cumulativamente com a perda de laços entre ela e o Homem no modo como o narrador atravessa o Jasmineiro abandonado. Na civilização assim conformada, só a disfunção sobressai: quando o equilíbrio entediante é quebrado pela avaria que abala o status quo e que revela a maquina como potenciadora da desordem (p. ex. o caso do fonógrafo). A nível retórico, o narrador recorre, então, ao recorte do pormenor, à sua repetição e à caricatura. Para as personagens, o eleito é de irritação, enquanto para os leitores ele se torna cómico: em ambos os casos, o tédio é quebrado. O narrador fala, pois, da Civilização ensaiando objectividade: procura dar conta dela, enunciando os seus objectos, signos identificadores de uma cultura do ter. No entanto, como disse, a subjectividade sustenta todo o discurso. Em primeiro lugar, tudo é dito em função do narrador: é o que ele observa, o que sabe, o que sente e o que imagina relativamente a tudo que vai sendo veiculado. Na descrição do espaço, p. ex.:
Na informação que dá de Jacinto:
E podia multiplicar os exemplos da subjectivizaçao do discurso por este «eu» que encontramos desde o início do texto e que se nos impõe esclarecendo a natureza parabólica do narrado no fim do conto, quando atravessa o Jasmineiro tomado museu de objectos degradados pelo tempo e pela falta de uso. A subjectivizaçao do discurso observa-se também no procedimento de simbolização que referi atrás. O Jasmineiro é imposto como símbolo da Civilização, «abregé» que permite o seu mais cómodo estudo tornando-a visível ao leitor, quantificando-a e descrevendo-a para, assim, nos fazer vivenciá-la e qualificá-la, em sintonia com a personagem. Porém, o Jasmineiro é também o lugar onde encontramos Jacinto, seu e nosso protótipo. Jacinto impõe-se-nos como símbolo, figura emblemática: ele é a possível personificação sinedóquica do mundo civilizado. Mais ainda: ele é o elemento imprescindível para que se fale de Civilização concretizando. A reivindicação de veracidade que poderia estar em causa na afirmação de abertura do texto («Ru possuo /.../ um amigo /.../») foi logo infirmada pelo excesso da caracterização da personagem, da vida e origens, assunto a que voltaremos. Com a personagem, o espaço historiciza-se de forma a suscitar a curiosidade no leitor, contrariando o tédio promovido. Vejamos como. Antes de mais, Jacinto dinamiza a estrutura em que se inscreve: com o seu movimento no Jasmineiro, a descrição narrativiza-se. Os objectos adquirem movimento na sua relação com a personagem: o narrador usa-o para demonstrar as funções dos objectos, mostrando-os em funcionamento. Põe-nos, assim, em evidência e promove a sua visualização. Ao mesmo tempo, o levantamento toma-se interessante para o leitor. A abundância de objectos referidos exige uma cuidadosa manipulação: o narrador tem de tratar diferentemente esses objectos ou nós encararíamos longas passagens como uma espécie de 'catálogo da existência' de um armazém. E o narrador dá provas de capacidade inventiva, chegando a ‘recortá-los’ e impô-los no centro de cenas independentes, funcionando ou disfuncionando. Nessa manipulação, o narrador chega a explorar a capacidade de alguns deles potenciarem sequências narrativas, como é o caso do fonógrafo. Depois, Jacinto multiplica o espaço ficcional: ele viaja para Torges, desloca-se, possibilitando que o narrador fale dessa viagem, do novo espaço, da relação do amigo com esse espaço e da sua própria relação com essa relação observada. Viajando, Jacinto transforma-se, o que também potência um discurso de reconhecimento. Viagem e transformação distanciam duplamente Jacinto do narrador: refiro-me ao afastamento de facto c ao emocional e intelectual. Tal afastamento justifica a rcvisitação pelo narrador do Jasmineiro abandonado, espaço cuja degradação é evidenciada pela comparação com um grotesco humano. É esse o momento pôr excelência para o narrador se impor no centro da cena e descodificar a parábola, conferir ao seu conto um estatuto exemplar, moralizar. Esse afastamento é também o factor que permite modalizar a parábola com uma ironia que a suspende na indecisão semântica. Falando de Jacinto, o narrador tem um discurso já dubitativo, não assertivo: «Ouço dizer que ...», «... decerto...», etc.. Não podendo afirmar inequivocamente, o narrador não deixa que a moralidade final o seja verdadeiramente, ou, pelo menos, que ela seja inequívoca: parece-nos que Jacinto será feliz, parece-nos que Jacinto estará a realizar a síntese entre a cidade e as serras, a alegada civilização e a sua alegada falta (ou as duas modalidades de civilização, os dois possíveis cenários da civilização característica do Portugal de oitocentos), parece-nos. De facto, no fim, não vemos Jacinto nem o ouvimos, antes perdemos o contacto com ele, pelo que a dúvida permanece. E a indecisão semântica que a ironia favorece informará o título do texto que se desenvolverá a partir do conto, cristalizando-se na copulativa de A Cidade e as Serras e criando aí uma simetria não resolvida. Por outro lado, esse distanciamento de Jacinto realiza-se, por repercussão, relativamente a nós, leitores. Logo, não "ficamos com ele" no final, não o acompanhamos até ao fim do seu percurso, isto é, não somos captados para a causa da terceira fase que ele protagoniza (permanência no campo transformado pela Civilização estritamente necessária). Finalmente, Jacinto tem uma biografia, mais uma história que redimensiona a história que nós acompanhamos da cidade às serras. E aqui o simples rcvela-se complexo. No início, o narrador diz que Jacinto «nasceu num palácio, com quarenta contos de renda cm pingues terras de pão, azeite e gado», evoca uma infância e adolescência sob o signo das «Fadas Benéficas», feliz, cumulada, sem doenças, etc.. Essa informação inicial activa o nosso intertexto. Oscilamos entre a voz popular e a erudita. Por um lado, Jacinto aparece-nos numa espécie de «Era uma vez...» do conto oral e tradicional, das histórias de encantar, emergindo ficcional desde o início. Por outro lado, actualmente, podemos evocar, por exemplo, o sujeito poético de «Lusitânia no Bairro Latino»:
É o sujeito poético de Só que, na «Memória» de abertura, constrói a ficção das suas origens em Trás-os-Montes, sob a protecção das «três moiras», tempo de abundância, embora com sinais da perda a sofrer. Talvez esta associação seja mais forte quando acompanhamos a perda da bagagem que afecta Jacinto à chegada às serras. Nessa altura, o lamento do António de «Lusitânia no Bairro Latino», onde outros se fazem ouvir (como o pranto da Maria Parda vicentina), faz ecoar, por extensão, o de um Portugal que vai tendo que confrontar-se com a transformação do seu próprio corpo geográfico ao longo do tempo (24). Para já não mencionar o intertexto bíblico, activado pela referência, p.ex., ao «surge et ambula» de Lázaro ou à tribo da descendência de Jacinto prevista pelo narrador, o que sinaliza a natureza parabólica do conto e favorece a pertinência de uma leitura que considere a intertextualidade. O ciclo biográfico de Jacinto inscreve, assim, esta ficção noutro ciclo bem mais vasto. Ou seja: através de Jacinto e da sua história, talvez este conto se redimensione na inscrição intertextual numa «linhagem» literária de textos atravessados por uma componente mais ou menos subtil de reflexão sobre a identidade e a história nacionais, sobre o passado e o futuro da sociedade portuguesa. É a ficção a pensar a História, sistema onde a cultura equaciona a relação entre o homem e o que o envolve e a dinâmica desse conjunto. Reflexão que, mais do que oferecer respostas, coloca os problemas: no lugar onde a resposta seria possível (aqui, no final), a ambiguidade deixa o leitor entregue a si próprio. Aliás, desde o início, o narrador vai promovendo a interrogação ao falar insistentemente no tédio de Jacinto... “José Matias” (25) Sem me deter numa síntese inicial de algumas das leituras mais interessantes e incontornáveis do conto “José Matias”(26), bem conhecidas de todos nós, proponho-me observar uma certa modalidade da ironia queirosiana em “José Matias”: refiro-me ao modo como a ambiguidade se constrói, conduzindo o leitor à indecisão interpretativa. Mais ainda: interessa-me também analisar como essa indecisão semântica favorece um efeito de leitura modelizante do conhecimento, ou seja, como a personagem e o discurso sobre ela emergem com natureza artificiosa, ficcional, e ludicamente reflexiva. Comecemos, pois, pelo princípio: a ironia. Dispensando-me de considerandos teóricos, atenho-me à distância fundadora da ironia. Apontemos alguns factores que, neste conto, se combinam para a gerar e a ampliar. O primeiro e mais óbvio factor é a tripla ciclicidade: a do percurso existencial de José Matias, a do trajecto do seu funeral e a do discurso do narrador sobre ele. Unidades que se fecham na completude do que não se pode continuar. Destes ciclos, só o do discurso do narrador retoma fielmente o início: o comentário à "linda tarde" e a displicência modal. Ora, esta displicência, englobando tudo, tudo fundamenta. Fazendo-o, denuncia distância entre narrador e narrado e reproduz-se entre nós e o que lemos. Tal reprodução da distância parece favorecer a proximidade entre os sujeitos de escrita e de leitura, proximidade insinuada na ambiguidade de um nós (“nossa ardente geração”) englobando ambas as instâncias e o narratário, projecção do leitor em desejada convivialidade. E digo parece porque veremos como essa proximidade é também ela feita de distâncias. Outro operador de distanciamento é o recurso sistemático ao demonstrativo. Apontar, indicar, releva sempre de uma distância entre sujeito e objecto do discurso e confirma-a. José Matias é inumeramente designado por "este" (quando vivo) e por “esse” (referência ao corpo): “este moço interessante” (p.200), “este José Matias” (p.201), “este extraordinário Matias” (p.211), “este Matias” (p.212), “este inexplicado José Matias” (p.222), “esse, que aí levamos” (p.200). Note-se como mesmo o deíctico lê proximidade, anteposto ao nome, revela afastamento, às vezes reforçado pelo adjectivo. Aliás, a diferença que distingue José Matias dos seus contemporâneos assinala desde logo a irredutibilidade da distância que vai dele a todos: ele foi o “único intelectual que não rugiu com as misérias da Polónia; que leu sem palidez ou pranto as Contemplações, que permaneceu insensível ante a ferida de Garibaldi !” (p.201). Terceiro factor de distanciamento é a multiplicação espantosa de adjectivos e de advérbios com que o narrador vai conformando José Matias. Ele é “macio”, “louro”, “ligeiro”, “nobre”, “puro”, “intelectual”, “triste”, “comedido”, “quieto”, “extraordinário”, “interessante”, “ultra-romântico”, etc.. Esta adjectivação é ainda salientada pelo facto de tender a dispor-se ternariamente e/ou maximizada por advérbios: “tão macio, tão louro, tão ligeiro” (p.209 ?), “nobre, puro, intelectual Matias” (p.209), "tão infinitamente triste" (p.218), “tão comedido e quieto” (p.203), etc.. Mesmo os adjectivos denunciam o excesso na personagem: o “extraordinário Matias” (p.211) é dotado de “horrenda correcção” (p.202), de “uma imensa superficialidade sentimental” (p.201) e o mais que se sabe. Quanto aos advérbios com que o narrador vai modalizando a atitude da personagem, o número e variedade são impressionantes: ele surge-nos “desesperadamente”, “angustiadamente”, “melancolicamente”, “freneticamente”, “subitamente”, “precipitadamente”, ȁviolentamente”, ȁserenamente”, ȁtremulamente”, “inteiramente”, “infinitamente”, “infalivelmente”, “subtilmente”, “submissamente”, “incessantemente”, “cautelosamente”, “perenemente”, “desvairadamente”, “escandalosamente”, etc... Como personagem, José Matias movimenta-se no seu universo. Mas tudo o que caracteriza essa acção é pouco natural, artificioso: passeia-se solitariamente num “grande cavalo branco”, com um “imenso chicote” (p.214), janta com “serpentinas profusamente acesas e a mesa juncada de flores” (p.205), p.ex.. A referência à mudança na decoração do seu quarto (cf. p.205) reforça o efeito de encenação, de montagem cénica. E, se de montagem cénica se trata, logicamente ela é feita para o leitor. Na fisionomia de José Matias, o elemento mais marcante é o sorriso cujas modulações o narrador nos faz acompanhar ao longo de muito tempo: ele esboça-se “iluminadamente”, “deliciadamente”, “extaticamente”, “irresistivelmente”, “calmamente enternecido”, “religiosamente atento”, com “deliciosa certeza” e “segura beatitude”, “lento e inerte”, etc.. “Perene” , esse sorriso acaba, devido a isso mesmo, por se nos tornar inaceitável: incrível na personagem e tornando a personagem igualmente inacreditável para nós, apesar da transformação que ela sofre. E o amor por Elisa que o narrador lhe atribui? É “submisso e sublime” (p.209), “esplêndido, puro, distante, imaterial” (p.204), “suspenso, imaterial, insatisfeito”(p.209), “forte, profundo, absoluto” (p.203). Em suma, trata-se de um amor “transcendentemente espiritualizado” (p.205), de uma “adoração sublime”(p.212), “a mais pura adoração” (p.212), para não mencionar outras variantes da mesma caracterização. Ora, este excesso, além de não ser confirmado pelo discurso da personagem, dissonante relativamente a tal excesso, é contradito no discurso do próprio narrador que chega a atribuir-lhe “uma alma escandalosamente banal” (p.202) e "uma imensa superficialidade espiritual" (p.201). O excesso e a contradição distanciam também José Matias de nós, leitores, e conferem-lhe ficcionalidade. Complementarmente, Elisa é também observada à distância e em cenas a que não falta a moldura enquadrante ( o jardim, a janela), a cor destacante e simbólica (o branco e a sua progressiva substituição), o movimento lento. Esta encenação reforça a de José Matias: entre os dois, desenvolve-se a ficcionalidade do artificioso. Tudo isto que temos vindo a observar remete José Matias para outro espaço que não o nosso: distancia-o perspectivantemente de nós, leitores, e denuncia esse espaço como ficcional, onde veracidade e verosimilhança são categorias destituídas de pertinência. Isto já confere a José Matias natureza problemática, porquanto os nossos critérios de conhecimento se revelam inadequados a tal objecto. Lembro que problema, etimologicamente, é o que é projectado no espaço, adquirindo maior visibilidade. A questão ainda é mais complexa: o próprio narrador, ao mesmo tempo que vai definindo José Matias, também o indefine. Indefine-o pela contradição, como assinalei. Indefine-o pela dúvida diversamente formulada e em diferentes graus. Além do tradicional recurso ao advérbio “talvez”, é o caso do par de interrogações coordenadas pela disjuntiva:
A dúvida também se insinua na aparente assertividade das frases modalizadas pôr “decerto”, “certamente”, “com certeza”. Outros exemplos poderiam ser evocados, inclusivamente mostrando como a suposição que o narrador faz num momento acaba por ser infirmada pelo conhecimento posterior, injustificando o seu enunciado. Por fim, o narrador indefine a sua personagem confessando o seu desconhecimento, quer de factos, quer de pensamentos, quer de sentimentos e/ou motivações da personagem: “não sei” (pp.203, 206, 213, 220, 221), “não creio que” (p.213), “nunca compreendi” (p.206), "sempre me pareceu que" (p.208) e suas variantes sucedem-se no discurso do narrador. Sendo este narrador uma instância que recorrentemente ostenta insígnias de saber (é professor de filosofia e autor de várias obras que menciona) e de conhecimento de José Matias (foi seu amigo, acompanhou o seu trajecto e teve amigos comuns), tal incompreensão resulta como que “institucionalmente” justificada, sancionada: José Matias não é apenas “inexplicado” (p.222), mas mesmo “impenetrável” (p.210) à análise. Esta “impenetrabilidade” analítica projecta-o na esfera da indecisão de leitura (“era talvez muito mais que um homem - ou talvez ainda menos que um homem...”) cujo equilíbrio só ele próprio poderia destruir. Ele não fala (ou quase) e essa falta do seu discurso impede-nos e ao narrador de o compreendermos, obsta à sua apreensão, ao acesso a ele. Está em causa mais do que a ambiguidade apenas: a afirmação final de que ele “era talvez muito mais que um homem - ou talvez ainda menos que um homem...” cria uma grande amplitude interpretativa, potenciando a diversidade entre os opostos. Deste modo, José Matias emerge com natureza duplamente problemática: a distância entre ele e o leitor é aumentada pelo facto de nela se introduzir a distância de desconhecimento que, afinal, existe entre ele e o narrador, instância de quem esperaríamos a explicação da personagem. À distância, a personagem surge claramente como artefacto, modelo, desviando a nossa atenção desse ficcional para o discurso que se vai tecendo, para um raciocínio que se vai desenrolando sobre ele. Estes mecanismos, em si e na sua combinatória, parecem-me de natureza amplificadora e esta montagem cumulativa emerge emoldurada por observações do narrador que relevam de grande displicência (contrastando com o teor da história e reforçada pela ironia inerente, queiramos ou não, ao próprio nome do cemitério dos Prazeres onde tudo termina). Assim, ocorre-me que também possa encarar “este José Matias” (p.201) como uma espécie de exercício reflexivo de algum virtuosismo e muita ironia, exemplo de como se pode procurar analisar uma personalidade, uma história, um comportamento. Este conto constituiria, então, a hipótese de uma reflexão sobre tal tipo de objecto, sugerindo uma propedêutica a uma metodologia de conhecimento: anotar os factos, tentar “surpreender” (a palavra é do narrador) os comportamentos, procurar ir tirando ilações. O conto teria, portanto, também uma componente pedagógica, de modelização do pensamento cognoscente. E a estranheza de José Matias, ambiguidade ou polissemia, derivaria do seu estatuto ficcional: à margem do real, este exercício de pensamento não teria de conduzir a nenhuma conclusão por se realizar sobre uma ficção que se faz reconhecer como tal... _______________ NOTAS 1 Sintetizo aqui e refundo o que disse em: “No início, quando o verbo se faz mundo...” (comunicação apresentada no Congresso de Estudos Queirosianos - IV Encontro Internacional de Queirosianos organizado pelo Professor Doutor Carlos Reis no âmbito das comemorações do centenário do autor e realizado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, de 6 a 8 de Setembro de 2000); “Imagem em deslocação” (comunicação apresentada no Colóquio “Eça, de Évora para o Mundo: o jornalismo e a literatura”, organizado pela Universidade de Évora no âmbito das comemorações do centenário do autor e realizado a 11 e 12 de Setembro de 2000). 2 Cit. por seu filho José Maria na “Introdução” a A Capital, Porto, Lello & Irmão, 1966, p. 11. 3 Cf. Annabela Rita. Eça de Queirós Cronista. Do “Distrito d’Évora” (1867) às “Farpas” (1871-72), Lisboa, Cosmos, 1998. 4 Distrito d’Évora (1), Évora, 6 de Janeiro de 1867, p. 3, col.1. 5 Uma Campanha Alegre, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., pp. 16/17. Para comodidade do leitor e porque as variantes não reduzem a validade das minhas observações, evitei citar aqui da versão original, de difícil acesso. 6 Op. cit., p. 9. 7 Op. cit., pp. 39/40. 8 Op. cit., pp. 322/342 e 386/405, respectivamente. 9 O Primo Basílio, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 38. 10 Pelos motivos já explicados, continuarei a utilizar a edição de Uma Campanha Alegre, p. 401, sublinhados meus. 11 Cf. conferência de encerramento do Congresso de Estudos Queirosianos / IV Encontro Internacional de Queirosianos, realizado na Faculdade de letras da Universidade de Coimbra de 6 a 8 de Setembro de 2000. 12 Cf. Rudolf Arnheim. Arte & Percepção Visual. Uma Psicologia da Visão Criadora, 2ª ed., S. Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1984, pp. 213/223. 13 Cf. Rudolf Arnheim. O Poder do Centro, Lisboa, Edições 70, s.d. (1990), pp. 17/30. 14 Maria Adelina Amorim. Viagem e mirabilia: monstros, espantos e prodígios in Fernando Cristóvão (org.). Condicionantes culturais da Literatura de Viagens. Estudos e bibliografias. Lisboa, Cosmos, 1999, pp. 133/134 15 "A desmi(s)tificação do 'grande homem' n' O Conde d' Abranhos", Colóquio-Letras (73), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Maio de 1983, pp. 13/20. 16 Na edição de Lello & Irmão, Porto, 19.51: «Por». 17 A edição utilizado do texto foi a de Livros do Brasil, Lisboa. A « Introdução — dois manuscritos a lápis » (1925) de José Maria Eça de Queirós, incluída na edição deLello & Irmão (1951, por reproduzir uma carta de Eça de Queirós ao editor E. Chardon relativa ao livro em causa. 18 Cf. W. C. Booth, «Distance et point de vue», in Poétique, n° 4, 1970, p. 521-2. 19 Cf. W. C. Booth, op. cit., pp. 514-5. 20 Cf. também Jaap Lintvelt, «Modèle discursif du récit encadré», in Poétique, nº 35 , Setembro de 1978, pp. 352-3. 21 Como Z. Zagalo declara na carta-dedicarória (cf. p. 9). 22 “Relendo Eça: de novo, ‘ivilização’”, Vária Escrita – Cadernos de estudos arquivísticos, históricos e documentais (nº 4 – volume de Actas do “Colóquio Internacional Eça de Queirós – 150 anos do nascimento”, realizado em Sintra de 22 a 25 de Novembro de 1995), Sintra, Câmara Municipal de Sintra, 1997, pp. 83/89 (publicado também em separata da revista). 23 Conto publicado na Gaveta de Notícias do Rio de Janeiro em 1892 e coligido por Luís de Magalhães no volume póstumo Contos, 1902. 24 Sobre essa transformação e o modo como ela favorece uma reflexão quase obsessiva sobre a identidade nacional cf. Annabela Rita «Portugal ou o País das Maravilhas» e «Ainda o Pais das Maravilhas: problemas de identidade», Islenha (n.os 2 e 4), Funchal, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, Jan.-Jun. de 1988, pp. 31-35, e Jan.-Jun. 1989,pp. 128-129. 25 Relendo Eça: “José Matias” mais uma vez in AA. VV.. 150 Anos com Eça de Queirós (Anais do III Encontro Internacional de Queirosianos), São Paulo, Centro de Estudos Portugueses, 1997, pp. 79/82. 26 Conto coligido no volume póstumo Contos, da Livraria Chardron de Lello & Irmão, do Porto, de 1902. Foi primeiro publicado na Revista Moderna de Paris, em 1897. A edição utilizada dos Contos Queirosianos é a 25ª de Livros do Brasil.
|