
 |
|
Revista TriploV
de
Artes, Religiões e Ciências
Nova Série |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
JOÃO SILVA DE SOUSA |
|
Professor da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Académico Correspondente da Academia Portuguesa da História. |
|
|
Mouros e Judeus
na cidade de Lisboa
nos Séculos XIV e
XV |
|
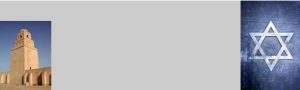
|
|
…Há dois grupos que vivem num mesmo
espaço físico, que criam
laços próprios de coexistência
e de relações de vizinhança e
amizade que,
por motivos de interesses diversos,
por vezes se
quebram. Ao estudioso compete
analisar e interpretar o porquê de uns e de outros.
Maria José Pimenta Ferro Tavares |
|
1. Preâmbulo |
|
Maria José Pimenta Ferro Tavares, com estas linhas, deu o mote para
escolhermos o tema deste nosso estudo, cujo tema principal será o
quotidiano das comunidades de Judeus e Mouros em Lisboa, nas duas
centúrias escolhidas para análise.
Os Judeus estabeleceram-se no
território português antes mesmo da Fundação do nosso Reino, tendo-se
disseminado, nos sécs. XII e XIII, por todo o País, sobretudo nos
centros urbanos de maior dimensão, na franja litoral e na linha
divisória com Castela. As suas actividades preferenciais centram-se nos
sectores terciários e secundário da economia portuguesa.
Enquanto a política anti-semita
praticava uma perseguição implacável aos Judeus pela Europa, as suas
comunidades aumentavam em Portugal, país muito mais tolerante. De facto,
se, no séc. XIV, existiam 23 comunas espalhadas pelo território, em
Quatrocentos, o número subiu para 139.
O estatuto dos Mouros é,
contudo, diverso. Aqueles que permaneceram em Portugal após a
Reconquista, correspondiam ao grupo dos vencidos que foram obrigados a
aceitar o domínio de um povo que se regia por Deus, pensando ser Outro
então apenas Um e mais forte. Alguns eram escravos, a quem, mais tarde,
foi concedido o estatuto de foro, outros eram livres, mas todos estavam
sujeitos ao domínio político cristão, ocupando áreas específicas,
normalmente situadas fora dos centros urbanos.
A estas duas minorias foi dada
a possibilidade de se regerem por credos e leis próprias. De facto,
“encravados entre freguesias, havia em Lisboa alguns traços de
território isentos da jurisdição eclesiástica. Eram as judiarias ou
bairros israelitas, e a mouraria”.
O modo como, nestes bairros,
estava organizada a justiça e a administração, a maneira como os seus
habitantes desenvolviam o artesanato e o comércio, os direitos que
auferiam e, sobretudo, os deveres que tinham de acatar, a forma como
conviviam, socialmente, com os Cristãos e, por último, o culminar da
intolerância religiosa de que foram alvo, com os acontecimentos do final
do século XV, são as alíneas que, a seguir, abordaremos. |
|
 |
|
2. A Organização jurídico-administrativa |
|
 |
|
Os monarcas portugueses, até
finais do século XV, permitiram a coexistência de três credos e de três
organizações jurídico-administrativas correspondentes a outros tantos
grupos existentes em Portugal, sendo um claramente maioritário, o
Cristão, e dois minoritários - o grupo dos Judeus e o grupo dos Mouros.
Tanto os primeiros, regulados pelo Talmud, como os outros, pelo
Alcorão, se agrupavam em pequenos núcleos de infiéis, sendo os
seus crimes julgados fora da lei canónica que devia aplicar-se só aos
fiéis a Deus. Nenhum dos três, embora anunciando a existência da
unicidade de Deus, entendia que só havia Um e Ele era comum a todas a
religiões do Universo, existisse gente onde fosse, desde os tempos mais
recuados até hoje. São os homens que dEle falam que O caracterizam de
modos diversos. Naquele sentido, os Cristãos constituem para cada grupo
uma hierarquia, tendo como juiz máximo o próprio rei (ver ilustração 1).
Para além das normas próprias
de cada grupo, os seus elementos estavam ainda sujeitos à legislação dos
Cristãos – foros municipais, Livro das Leis e Posturas, Ordenações
Afonsinas e Ordenações Manuelinas, Leis Extravagantes… - que, a coberto da capa de medidas proteccionistas, não passavam
afinal de formas de segregação física destas minorias, fornecendo
detalhes sobre aspectos vários, incluindo a normalização dos seus
vestuários.
A título de exemplo, vejamos as
cinco determinações expressas no Livro das Leis e Posturas:
1.
Os Judeus não podem ser ovençais do rei nem exercer outro cargo
que represente uma situação de domínio sobre os cidadãos. Deste artigo,
estão excluídos os membros da nobreza e da Igreja que os podiam empregar
em cargos de mando; estão proibidos de ter cristãos a trabalhar por sua
conta, sob pena de perda de bens. Era-lhes vedado deserdar o filho que
se convertesse ao Cristianismo, o qual deveria, de imediato, abandonar o
lar paterno.
2.
Judeus e Mouros não podiam ser procuradores, nem advogados, em
feitos de cristãos;
3.
Por seus erros e crimes, eram excluídos como testemunhas em
pleitos de Cristãos. Igual exclusão sofria o que testemunhasse falso, o
doente mental e a mulher em determinados casos.
4.
Judeus e Mouros eram julgados pelos magistrados próprios, segundo
as suas leis e costumes.
5.
Não tinham direito a asilo na igreja os Judeus e Mouros,
devedores de cristãos, ou os que tivessem praticado algum crime.
(pp. 19, 35, 37, 105-106, 121-122, 211 e
483).
As comunidades judaicas
pertencem ao rei. Este concede-lhes, em troca de elevados impostos, um
estatuto próprio definido pelas cartas de privilégio. Estas podem
assumir a designação de “cartas em forma costumada”, ou seja, minutas,
agregando indivíduos às mesmas imunidades; ou caracterizar-se pela
concessão de uma isenção específica, que não é aplicada à totalidade da
população, mas tão-só a uma determinada comunidade, como seja, por
exemplo, a do pagamento de tributos.
Na segunda metade do século XV,
sobretudo no reinado de D. João II, as confirmações das cartas de
privilégio outorgadas a estas comunidades vão suceder-se com mais
frequência, reforçando e reafirmando uma segregação espacial e física e
uma autonomia jurídica e administrativa crescente face aos oficiais do
rei e aos dos concelhos.
Esse estatuto concedido pelo
rei permitia-lhes habitar e viver em comunidade (ocupando o espaço
físico do concelho numa ou em várias ruas e estando obrigados ao
apartamento), circular livremente no Reino, manter a sua individualidade
religiosa – isto é, a autorização para celebrarem o ritual mosaico com
as suas festividades litúrgicas, para construírem sinagogas, a fim de
terem os seus sacerdotes, os seus livros de culto e as suas alfaias
religiosas-, organizar-se e viver como entidade administrativa e
jurisdicional independente do concelho. Possuem os seus magistrados e a
câmara de vereação, ou seja, o tribunal que reúnem na sinagoga e que se
rege pela lei de Moisés e pelos autores rabínicos. Isto acontecia sempre
que os feitos se levantassem entre os crentes da lei mosaica e, estando
o juiz e o almotacé cristãos proibidos de intervirem, porque a lei não
era a canónica, eram os magistrados judeus quem aplicava a lei. No
entanto, em última instância, estão sujeitos às ordenações gerais do
País (Ilustração 4).
Logo a seguir ao soberano, o
cargo máximo desta hierarquia pertencia ao Rabi-Mor ou Rabi da Corte.
Este é um cargo característico da Península Ibérica uma vez que nos
aparece tanto em Aragão como em Castela (Ilustração 1).
Contrariamente ao que possa
pensar-se, ele não é a hierarquia máxima religiosa mas antes um judeu
cortesão, mero representante e intermediário directo entre os seus
correligionários na fé e o monarca. Habita, por este facto, na corte.
Daí que, além de usufruir da confiança do rei, ele ocupe também um lugar
de destaque na Cúria quer como tesoureiro-mor e financeiro, fosse como
seu físico.
Sendo o Rabi-Mor o corregedor
na Corte para os Judeus, cabe ao seu foro conhecer e desembargar as
causas cíveis e crimes.
D. João I vai dar plenos
poderes ao Rabi-Mor, se bem que o torne dependente do corregedor da
corte nos locais onde o monarca estiver. Representantes seus e de sua
nomeação directa são os ouvidores das comarcas. O número de comarcas
variou ao longo dos tempos. No reinado de D. Dinis, o Reino
encontrava-se dividido em sete comarcas ou rabbats, a saber:
Santarém, Viseu, Covilhã, Porto, Torre de Moncorvo, Évora e Faro.
A máquina
jurídico-administrativa estava organizada da seguinte forma: o
Rabi-Mor, nomeado pelo rei, era quem detinha o poder máximo,
decidindo sobre a nomeação dos arrabis das diferentes comunas. Detendo,
como já foi dito, funções administrativas e legislativas, segundo a lei
hebraica, era coadjuvado pelo Rabi-Menor, vereadores, procuradores,
almotacés, tabeliães e escrivães. No caso particular de Lisboa, os
vereadores eram doze, tendo, a partir de 31 de Janeiro de 1363,
decrescido para oito, mediante determinação do rei.
Os tabeliães e os escrivães,
para além de redigirem a documentação inerente à função dos magistrados
comunais, desenvolvem ainda várias funções importantes na comunidade,
como, por exemplo, obras de assistência e educação que estão a cargo do
tesoureiro; a liturgia, a leitura das posturas da comunidade, durante a
oração da Minh’ah, a realização dos casamentos e, quando tal é
necessário, a excomunhão, competem ao Hazam, o leitor da
sinagoga; o Shamash, o bedel, encarrega-se da iluminação da
sinagoga e cobra donativos e subsídios e, finalmente, o Shohet, o
degolador que, de acordo com as determinações do ritual hebraico, mata
os animais que servem de alimento à comunidade.
Na actual sinagoga de Lisboa,
um Ketubah – contrato de casamento que estipula as obrigações e
responsabilidades dos noivos, escrito em Aramaico, obedecia a uma
fórmula especial -, preservou, no tempo, as promessas de amor e
fidelidade que os esposos então fizeram perante si e perante a
comunidade (Ilustração 7)
Desaparecidos os seus corpos,
deles ficou o registo que hoje nos revela a sua presença. |
|
 |
|
3. Judiarias e Judeus |
|
 |
|
O recuar no tempo, na tentativa
de atingirmos as origens dos Judeus na Península Ibérica espera-nos um
longo e minucioso trabalho que, segundo alguns autores, se perde no
Império Romano ou mesmo mais longe, ainda nas sobras dos tempos de
Nabucodonosor ou de Salomão. Este povo ao qual o espírito comercial ou
as perseguições obrigavam à permanente procura de uma terra que desse
melhores condições de vida, terá certamente alcançado a ponta mais
ocidental da Europa e, por aqui, permanecido. A primeira marca sua na
Península Ibérica data do séc. III e, do séc. VI, há uma lápide
funerária encontrada junto à actual cidade de Lagos, o que atesta a sua
presença em território nacional.
A minoria judaica funcionava
como um pequeno “estado” dentro do “estado” português, uma vez que se
regia por credo e normas jurídico-administrativas distintas e às quais
se associava toda a filosofia de um povo que se destacava
obrigatoriamente do conjunto populacional das “nações” por onde o
desenrolar da História tinha obrigado a um longo périplo. Amargos tempos
viriam ainda para este fragmento do povo eleito e santo que procurou um
pouco de paz, nesta faixa de terra, empurrada pela Europa e em contacto
directo com o Mar Oceano.
À data da formação da nossa
nacionalidade, localidades como Belmonte, Lisboa, Santarém, Tomar…
contavam com comunidades de judeus importantes, tendo a elas recorrido
alguns monarcas, como D. Afonso Henriques e D. Sancho I, para o
povoamento inerente à “Reconquista”.
Os monarcas seguintes, desde D.
Dinis em diante (1279 a 1491), emitiram sucessivas normas de direito
público e privado, tendentes à regulamentação das comunidades que se iam
constituindo, da respectiva máquina administrativa e judicial, em tudo
idêntica à que operava junto da restante sociedade cristã.
Com o governo de D. Afonso IV,
porém, face à perseguição que esta etnia sofreu na vizinha Castela, as
comunidades judaicas em Portugal, multiplicaram-se, obrigando o rei a
legislar no sentido de obrigar à fixação de residência em locais
demarcados para o efeito – as judiarias, localizadas dentro da muralha
da cidade, definindo ainda as normas a que estas comunidades deviam
obedecer (Ilustrações 1 e 5).
A partir de D. Pedro I, as
judiarias que até aí comunicavam livremente com o território ocupado
pelos Cristãos, viram o seu espaço encerrado, abrindo-se unicamente para
o exterior, através de portas que se encerravam ao anoitecer.
Considerando a ameaça de
perseguição por parte dos Cristãos, será legítimo interrogarmo-nos se
esta seria uma medida de protecção ou de segregação, relativamente a
esta comunidade ou se, por outro lado, se completam. Na verdade, a
segregação a que este povo está sujeito por lei, vai revelar-se, ao
longo do século XV, como uma medida de protecção face ao crescimento de
um sentimento anti-judaico.
A autonomia destas comunas está
abundantemente tratada, através da documentação. D. Dinis, por exemplo,
concede aos Judeus - a “os seus judeus” -, uma carta de privilégios que
os autorizava, para além de criarem a comuna, a eleger magistrados
próprios, a lançar tributos e a construir aí o templo (situação só
possível com autorização do rei), praticando livremente a sua religião.
A outras comunas isentou-as do serviço militar e da aposentadoria.
A comuna de Lisboa dividia-se
em quatro judiarias (Ilustração 1), todas elas circunscritas dentro da
muralha fernandida: a Judiaria da Pedreira, extinta em 1317, no reinado
de D. Dinis, e da qual se sabe muito pouco, leva-nos a crer que tenha
existido onde hoje é o largo do Carmo. A Judiaria Velha, existente a
partir de D. Afonso III, a mais populosa, ocupando 1.6/100 da área da
cidade e localizando-se, espacialmente, na mancha delimitada pela rua
Nova, a igreja de S. Nicolau, da Madalena e a de S. Julião; a Judiaria
das teracenas ou Judiaria nova, estabelecida por D. Dinis, composta,
unicamente, por uma rua, a da Judiaria, a Ocidente da igreja de S.
Julião (a sua existência vai ser posta em causa por D. Fernando que,
necessitando de aumentar as teracenas reais, não hesita em mandar
derrubar as casas dos Judeus que aí moravam) e a Judiaria de Alfama,
datando do reinado de D. Pedro I, marginando a Torre de S. Pedro, em
Alfama e apresentando o seu povoamento mais intenso no reinado de D.
Fernando, altura em que os Judeus aqui moradores fundam a sua casa de
orações (Ilustração 5).
O núcleo condensador destas
comunidades judaicas era a sinagoga (Ilustração 7), chamando a si
os seus membros através do toque do sino, assume funções simultaneamente
religiosas e administrativas, já que é também aqui o local de reunião da
assembleia, órgão de governo da comuna, presidido pelo rabi-mor, judeu
da confiança do rei (ilustração 1).
Para realização do culto, cada
comunidade judaica possuía o seu local de oração; podia ser uma simples
casa de habitação adaptada para o efeito ou construída de raiz; no
entanto, quer a riqueza na construção quer a sua ornamentação dependiam
da riqueza da comuna.
Em Lisboa, houve três sinagogas
– a da judiaria velha, mandada construir, em 1307, por D. Judas, ou
Judah – que teve a seu cargo a Fazenda Pública -, rabi-mor de D. Dinis,
a da judiaria nova, edificada entre 1317 e 1319 e a de Alfama, erguida,
entre 1373 e 1374, sem autorização régia prévia, o que acarretou
demandas entre o rei e a comuna (veja-se a Sinagoga fundada pelos
Portugueses em Amesterdão. Ilustração 8).
Durante a realização dos
serviços religiosos, havia espaços reservados às mulheres e outros
reservados aos homens.
Para além da religião, as
pedras basilares da cultura judaica assentam no exercício e cumprimento
da justiça, nos mandamentos do amor ao próximo, no ensino, na higiene e
na prática da Medicina.
O ensino compreende a escola
elementar e o Beth Hamidrash, a casa do comentário, opinião e
glosa das escrituras sagradas; enquanto que, na primeira, é ensinada a
leitura e escrita da lei mosaica para além da História e da Religião
deste povo, na segunda - que func
iona no genesim, ao lado da sinagoga, o
Pentateuco é comentado pelos Judeus que se dedicam unicamente ao estudo.
O ensino da Medicina passava
pela prática junto a um mestre conceituado. O balneário, de certo modo
ligado a esta ciência, situava-se junto da judiaria nova.
O almocavar – termo muçulmano
-, o cemitério da comunidade judaica, localizava-se entre a rua do
Bemformoso, largo das Olarias e ruas da Bela Vista do Monte e do
Terreirinho até ao largo do Intendente, junto ao local onde também ao
Mouros enterravam os seus familiares e amigos. De acrescentar o facto de
as comunas de Lisboa e Évora possuírem ainda uma mancebia.
O termo “judiaria” para além de
designar um ou mais arruamentos habitados maioritariamente por
indivíduos judeus podia ainda ser usado para significar uma área
específica do bairro judeu, facto este visível na judiaria velha de
Lisboa quanto à judiaria dos tintureiros-sirgueiros, circunscrita à rua
da Tinturaria.
A comuna de Lisboa foi a mais
densamente povoada de todas as existentes em Portugal talvez devido ao
facto de aqui estar sediada a corte e, em sua consequência, haver uma
maior dinamização do comércio e da produção artesanal, áreas da economia
que mereciam um apreço muito especial por parte dos Judeus.
Efectivamente, assiste-se já, no século XIV, à proliferação de judiarias
provocada pela atracção que a primeira cidade do Reino exercia sobre os
Judeus ligados ao mundo do comércio e das finanças. Este facto leva-os a
estenderem-se em direcção à rua Nova (zona de grande circulação de
gentes e mercadorias da Lisboa medieval).
No século XV, a judiaria grande
ocupava uma área de cerca de 1,68 ha. Eram várias as portas que,
marginando o bairro dos Judeus, se abriram para as ruas dos cristãos: a
porta de S. Nicolau (junto ao adro da igreja com o mesmo nome), a porta
dos tintureiros-sirgueiros saída da Correaria, a porta da Ferraria,
junto à sinagoga grande, abrindo para esta rua e para a Ourivesaria.
Nos finais do século XV, a
judiaria pequena de Alfama abrangia a rua da Sinagoga e a de Ruivo, dela
havendo vestígios no topónimo actual da rua da judiaria e do edifício
então usado como a sinagoga de Alfama.
A fixação dos Judeus em
território português é, ao longo do Século XV, desproporcional,
situando-se, no Centro e no Sul, as comunas com maior projecção
económica, social e cultural. A sua penetração faz-se por via terrestre,
no sentido oriente-ocidente, pelo que se compreende toda uma
proliferação de judiarias em concelhos próximos da linha fronteiriça,
também motivadas pela actividade mercantil que se desenvolve nas regiões
limítrofes portuguesa e castelhana, praticada por membros destas
comunidades.
Fixando-se, inicialmente, nas
principais localidades do litoral e interior, de que se distinguem
Lisboa, Santarém, Évora e Guarda, em número, ao longo de todo o século
XV, um pouco por todo o território português. Torna-se, no entanto,
difícil elaborar uma estimativa populacional, uma vez que todos os
cálculos se apresentam por defeito já que se desconhece a totalidade dos
Judeus isentos do pagamento do sisão, um tributo per capita que recai apenas sobre os indivíduos casados.
A. A então vila de Santarém
assiste a um acréscimo da população judaica em finais do século XIV.
B. A cidade da Guarda conta
rápido com a decadência da sua comunicade judaica, ao longo da centúria
de Quatrocentos, acompanhando a inflexão do próprio concelho que, por
virtudes várias, se despovoa e se vê transformado em couto de homiziados
para incremento da população.
C. Lamego tem uma importante
comunidade judaica, densamente povoada;
D. Acontecendo o mesmo com
Viseu, onde hoje se discute a verdadeira localização da judiaria.
E. Coimbra tem também uma
comuna que remonta aos primórdios da nacionalidade.
F. Setúbal apresenta-se com
um importante relevo no reinado de D. Fernando. Mas, no decurso do
século XV, os seus habitantes extravasam os limites do bairro, indício
claro do seu crescimento.
G. No Algarve, a comuna de
Lagos destaca-se das demais.
H. As comunas de Tavira,
Loulé e Silves não conseguem alcançar o relevo da de Lagos.
I. A de Faro torna-se
relevante no século XV.
J. Em Estremoz, o bairro
judaico não comporta a sua população pelo que os Judeus arrendam casas
no meio dos Cristãos com a permissão de D. Afonso V;
K. Em Viana da Foz do Lima, a
comunidade era reduzida e é pressionada a formar bairro próprio, também
com D. Afonso V;
L. A de Castelo Branco obtém
do concelho e do rei de Portugal autorização para fechar uma travessa,
exterior à Judiaria, habitada por elementos da comunidade.
M. Miranda do Douro tem em
1452, judiaria apartada.
N. Em Aveiro e Palmela, as
comunas atingem o número suficiente, impondo-se-lhes a segregação.
Noutras localidades cresce o
número de Judeus, mas os seus bairros apresentam pouco mais que um
arruamento, o que ainda hoje é bem visível na própria toponímia, como é
o caso ainda de Barcelos, Braga, Guimarães, Lamego, Moura, Mourão,
Olivença, Serpa, Tomar, Torres Vedras, Olivença e Viseu. Nas comunidades
mais populosas, verifica-se a existência de ruas cujo nome tem origem
nos mesteres desenvolvidos pelos que nelas habitam.
Por último, há ainda
localidades em que os Judeus nem chegam a fixar-se como, por exemplo,
Castelo Bom, Castelo Mendo, Figueiró, Pedrógão, Proença, Sortelha, Vila
Maior, entre outras.
A existência de Judeus na
cidade do Porto deve remontar a tempos bastante recuados. Alvitra-se que
a mais antiga judiaria nesta localidade se tivesse organizado na Cerca
Velha. Mais tarde, devido ao aumento demográfico, a população judaica
vê-se obrigada a sair extramuros e a fixar-se na chamada Judiaria Velha.
O acolhimento prestado aos
Judeus pelo rei, pelos grandes dignitários laicos e eclesiásticos (as
bulas pontifícias reconhecem a sua liberdade religiosa e ainda a sua
existência no seio da sociedade cristã), das autoridades e do povo é bem
visível no extravasar dos seus bairros e na criação de novas judiarias,
num simples prolongamento das já existentes, ou na criação de novas
comunidades em lugares onde se desconhecia a sua anterior presença.
Pela legislação dos primeiros
monarcas portugueses, é possível deduzir que a comunidade judaica
conheceu, junto da comunidade cristã, um período de paz e de protecção
real, permitindo-lhe, assim, alicerçar os pilares da sua estrutura
socioeconómica que vamos encontrar no século XIV. Judeus e Cristãos,
subordinados ao direito canónico e romano e às leis do Reino, convivem
em sociedades paralelas, numa plataforma de igualdade.
As suas actividades económicas
centraram-se em torno do comércio, do artesanato e da prestação de
serviços, desenvolvendo profissões como rendeiros, funcionários da
máquina administrativa, físicos e/ou cirurgiões.
Foi, no entanto, no comércio
que os Judeus centraram o seu modo de vida, quer transaccionando
mercadorias e produtos, como vinho, mel, cera, azeite, panos, coiros,
cereais, frutos e gados, quer recorrendo à usura, movimentando o próprio
dinheiro, considerado também como mercadoria. A desenvoltura e o engenho
que demonstram na prática mercantil, granjeou-lhes, porém, a animosidade
por parte dos Cristãos a quem estavam a arruinar o negócio,
coarctando-lhes possibilidades de lucro. Desta forma e a coberto da
desculpa de que os Cristãos necessitavam de precaver-se contra a malícia
nos negócios que eram apanágio dos Judeus, depressa se estipularam
complicadas tramas burocráticas, tendentes ao arrastamento das
autorizações de contratos de compra e venda que envolviam Judeus.
De qualquer forma, a banca dos
Judeus foi um recurso que os Cristãos utilizaram com frequência para
viabilizar as suas próprias actividades comerciais a ela recorrendo quer
o rei, ou a Igreja, os nobres e até mesmo o povo, passando todos pelos
juros lançados pelos Hebreus nos empréstimos que faziam. Foram,
precisamente, estes juros outro dos focos de litígio, considerando, por
um lado, a impossibilidade da sua solvência e, por outro, a pressão
exercida pelos Judeus junto dos Cristãos, quanto ao cumprimento do seu
pagamento.
Sabendo, como ninguém, amealhar
riqueza, foi esta particularidade que lhes grangeou a protecção e o
respeito dos monarcas, por uma via, mas – e tantas vezes… - a
animosidade ou até mesmo o ódio por parte do resto do povo, facto que
conduziu em Lisboa à tentativa de assalto da judiaria grande, travada
pela própria intervenção do Mestre de Avis (1384).
No domínio do artesanato, a
preferência vai para a profissão de alfaiate, armeiro, cordoeiro,
curtidor, fanqueiro, ferreiro, ourives, sapateiro, tecelão, tintureiro,
entre outros.
Os mercadores, mesteirais ou
físicos tendem a localizar-se nas ruas de maior movimento humano e de
mercadorias, concorrendo, profissionalmente, com a população cristã do
município.
Embora se limite,
frequentemente, o termo “mesteiral” aos trabalhadores em ofícios
mecânicos de artesanato ou de indústria, o termo incluía ainda e para
além destes, alguns pequenos comerciantes (como sejam os almocreves, os
carniceiros e os regatões e certos trabalhadores rurais como os
almoinheiros e até os pescadores). Nas cidades e vilas mais importantes
encontramo-los arruados, ou seja reunidos por profissões numa mesma rua.
E isso é bem visível na toponímia da cidade: Rua dos Correeiros, Rua dos
Fanqueiros, Rua dos Sapateiros, Rua dos Ourives (do Ouro e da Prata) …
De sublinhar que o arruamento
dos mesteres começara por ser norma habitual dos próprios artífices,
antes de se converter em princípio de obrigatoriedade determinado pelas
câmaras. Juntando-se na mesma rua, os mesteirais de cada profissão
sentiam-se mais protegidos contra eventuais violências e abusos,
vigiando-se mutuamente na qualidade e quantidade dos produtos, preços
por que eram vendidos e métodos de cativar o comprador. Relativamente a
quem comprava, este agrupamento apresentava também vantagens, uma vez
que, alinhando-se, assim, lado a lado, nas principais ruas de Lisboa, as
tendas dos vários mestres, se tornava mais fácil a escolha do produto e
a sua aquisição, e as inspecções à qualidade, peso e preços.
Trabalhava-se, geralmente, de
sol a sol. Descansava-se ao Domingo, mas não faltavam exemplos de
violação de repouso dominical. Os Judeus pretendiam sempre guardar o
Sábado, obrigando, muitas vezes, subordinados cristãos a trabalhar ao
Domingo.
No início do século XV, foi
estabelecido no Porto, que os mesteirais não trabalhassem desde o
pôr-do-sol de Sábado até ao nascer do Sol de Segunda-feira. Os
pescadores estavam proibidos de sair para o mar antes de
Segunda-feira de manhã; em 1406,
autorizaram os de Lisboa a antecipar a partida para o Domingo, às
Ave-Marias. E, em 1456, o Papa Calisto II acedeu mesmo a que pudessem
pescar sardinha aos Domingos e aos dias de Santos pé-fixados, excepção
feita para as principais festas de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Era
mesmo proibida a venda de carne, de vinho e de pão, ao Domingo, até que
as gentes saíssem da missa.
Relativamente à agricultura e
sendo esta, então, o factor mais importante na economia portuguesa, é
aceitável pensar-se que os Judeus devessem ter desenvolvido actividades
agrícolas, sobretudo quanto à exploração da vinha. Existem documentos
que atestam precisamente a posse e usufruto por parte deles de vinhas e
de estruturas de transformação e armazenamento de vinho, tais como
lugares e adegas. As quintas e pomares foram outro pólo de atracção.
Alguns deles dedicaram-se também à criação de gado. As ciências e as
artes contaram também com a colaboração deles, como a Medicina, e a
“Astronomia”.
A posição da Igreja,
relativamente a este grupo é de uma certa tolerância, permitindo-lhe a
prática do seu Credo, esperando que, um dia, os seus elementos se
viessem a filiar na religião cristã. Neste sentido, é a primeira a
condenar atitudes mais intransigentes por parte dos Cristãos que
perseguem Judeus, colocando estes sob a sua protecção e aconselhando, em
1215, no Concílio de Latrão, em que se assenta na separação dos dois
grupos em bairros distintos. Aconselha ainda os Judeus a usarem no
vestuário sinais que os identifiquem.
D. Afonso IV leva em conta esta
determinação e ordena que os Judeus se assinalem com uma marca amarela
no chapéu. Esta medida acarretou, no entanto, muita polémica já que se
não generalizou o seu cumprimento. No entanto, a separação dos dois
grupos sociais é, então, de tal forma efectiva que estão penalizados
pelo direito canónico e pelas Ordenações do Reino os contactos
pessoais entre judeus e cristãs ou entre judias e cristãos; será
penalizada com a pena capital a mulher cristã que entre na judiaria sem
se fazer acompanhar de dois homens se for casada ou de um homem se for
viúva e idêntica punição terá o homem judeu que receber uma cristã na
sua casa. A legislação régia determina ainda que as portas das judiarias
se fechem com os últimos raios de sol, sendo açoitados publicamente os
Judeus que nelas não entrassem a tempo.
Todavia, apesar desta separação
Judeus/Cristãos, eles estarão ligados uns aos outros quer pela
proximidade das suas propriedades quer pelo próprio exercício do
trabalho em que uns são assalariados dos outros. Na realidade,
protegidos pelo rei e pelo próprio interesse que a este traz essa
protecção, pela Igreja e pela nobreza, os judeus desenvolvem várias
profissões o que lhes permite contactar com todos os estratos da
sociedade cristã, no seio da qual ocupam um papel minoritário. Outro
factor de aproximação é o direito de aposentadoria que os Judeus devem
cumprir, relativamente aos membros da nobreza e aos oficiais régios.
A máquina tributária, tanto por
parte da Igreja como por parte do rei caía sobre esta comunidade de
forma impiedosa. De facto aos Judeus, competiam os seguintes:
. o dízimo à Igreja;
. o imposto da capitação
que incidia sobre o indivíduo directamente;
. o oitavo ou renovo sobre as
herdades;
. a dízima sobre o gado ou as
colmeias;
. a sisa judenga, sobre as
mercadorias destinadas ao consumo ou à venda;
. o serviço real dos quatro
dinheiros que incidia sobre o rendimento individual e sobre contratos de
compra e venda;
. o sisão de 2 soldos que
recai sobre o vinho vendido a retalho;
. o genesim que incide sobre
a liberdade de ensino;
. o serviço novo das 300 000
libras que, nos finais do século XIV e início do XV, sobrecarrega ainda
mais a bolsa judaica;
. a todos estes devemos
acrescentar as peitas, fintas e talhas (concelhias) e impostos
extraordinários.
Fica bem sublinhado o
contributo manifestamente superior dos Judeus se o compararmos com o que
era cobrado aos mouros, tanto mais que a minoria hebraica sofreu uma
explosão demográfica, fenómeno que não sucedeu com a moura. De facto, no
séc. XV, a distribuição de comunas de Judeus em Portugal fazia-se pelas
seguintes localidades:
Abrantes, Alandroal, Alcácer do Sal,
Alcáçovas, Alvor, Aguiar, Alegrete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alhandra,
Almeida, Alter, Almada, Alvito, Amarante, Arraiolos, Arronches, Arruda,
Atouguia, Aveiro, Avis, Azambuja, Azinhoso, Beja, Benavente, Benavila,
Barcelos, Bemposta, Borba, Braga, Bragança, Cabeço de Vide, Campo Maior,
Castelo Branco, Castelo de Vide, Castelo Rodrigo, Chaves, Coimbra, Coina
Coruche, Crato, Elvas, Évora, Erra, Estremoz, Evoramonte, Faro,
Freixedas, Freixo de Espada à Cinta, Fronteira, Fundão, Guimarães,
Jurumenha, Lagos, Lamego, Leiria, Lisboa, Loulé, Marialva, Matosinhos,
Mértola, Mesão Frio, Messejana, Miranda do Douro, Mogadouro, Monção,
Moncorvo, Monforte, Monsanto, Monsaraz, Montemor-o-Novo,
Montemor-o-Velho, Moura, Mourão, Muge, Nisa, Óbidos, Odemira, Olivença,
Ourém, Ourique, Palmela, Penamacor, Penela, Pernes, Pinhel, Pombal,
Ponte de Lima, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, Portimão, Porto, Porto
de Mós, S. João da Pesqueira, S. Vicente, Sacavém, Salvaterra, Samora,
Santarém, Santiago do Cacém, Sardoal, Sarzedas, Setúbal, Serpa, Silves,
Sintra, Soure, Sousel, Tavira, Tomar, Torrão, Torres Novas, Torres
Vedras, Trancoso, Valença, Viana do Alentejo, Viana do Castelo,
Vidigueira, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca, Vila Real, Vila
Viçosa, Vimieiro, Vinhais, Viveiros e Viseu.
Considerando os encargos
tributários que Mouros e Judeus pagavam, é fácil deduzir o peso que a
comuna hebraica tinha para a economia da Coroa.
A sociedade portuguesa, apesar
de muito mais tolerante relativamente aos Judeus do que a castelhana e a
europeia, teve, no entanto, os seus momentos de levantamento popular
contra esta minoria. Para a ocorrência destes distúrbios contribuiu
certamente o facto de existir uma dicotomia entre Cristãos e Judeus que,
ultrapassando o factor religioso, se estendia à posse de bens. Enquanto
o judeu era conotado como homem rico, credor de bens e, em seu
resultado, praticante da usura, o cristão era o homem pobre, devedor das
quantias que pedia a título de empréstimo ao judeu e vítima principal
deste último.
A inveja, a cobiça e a
incompreensão com que os cristãos olhavam para esta minoria foram o
bastante para criar, ao longo dos tempos, a imagem distorcida e
fantástica do judeu, ao qual se atribuíam crimes como o da morte de
Jesus, o de matarem crianças e de lhes beberem o sangue, o de profanarem
imagens de Cristo e hóstias sagradas, o de terem parentesco com o diabo,
o de utilizarem a usura como forma de empobrecerem os cristãos e,
sobretudo, o crime de serem apátridas, idólatras, sodomitas e impuros, a
fim ao cabo o que de mais condenável podia existir aos olhos da Igreja.
No entanto, apesar destes
atritos no relacionamento entre dois grupos, o que é um facto é que os
Cristãos reconhecem a religião judaica e esta constatação passa pela
determinação de um limite até onde podem ir as relações entre ambos. É
este que proíbe os casamentos mistos, a menos que o seguidor da fé
mosaica se convertesse ao Cristianismo. E é ainda este limiar que obriga
ao apartamento físico das duas minorias étnicas relativamente à maioria
cristã.
Considerados com “sujando” os
adros das igrejas e “conspurcando” os alimentos – circunstâncias tão a
propósito nos após peste negra e outras pestes e calamidades -, o judeu
transforma-se no inimigo, residente no interior da comunidade. A minoria
judaica torna-se, assim, o infiel que é preciso combater no Reino. Leis
sucessivas passam a obrigar à total proibição de comunicação entre casas
de Judeus e casas de Cristãos.
Todavia, se, por um lado, é bem
visível o reconhecimento oficial, por parte da maioria cristã, da
minoria judaica, patente como atrás foi dito na convivência social, nas
relações económicas entre ambas, na liberdade com que os Judeus circulam
no Reino e na imparcialidade oficial dos órgãos de justiça cristãos,
verifica-se, por outro lado, a existência de uma desigualdade na ordem
social e uma subordinação à ordem política que lhe vedam o acesso aos
postos de comando.
Desempenhando um
papel notório na sociedade medieval portuguesa, considerando os seus
aspectos económicos mas também sociais, é sem dúvida este facto que faz
com que a comunidade judaica em Portugal não sofra as perseguições
sangrentas praticadas no resto da Península Ibérica e na Europa de uma
forma geral. |
|
 |
|
4. Mourarias e Mouros |
|
 |
|
Depois da “Reconquista” cristã,
os Mouros conheceram, na sua generalidade, o estatuto de escravo, mas a
alguns era concedida alforria. Às localidades de Lisboa, Almada, Palmela
e Alcácer, que se submeteram ao primeiro monarca português, concedeu
este, em 1170, uma carta de amizade e segurança aos mouros forros,
segundo a qual era permitido a esta minoria religiosa seguir os seus
costumes, leis, credos… a troco de pesados tributos pagos à coroa
portuguesa.
Os Mouros, nestas condições,
gozavam de liberdade, distinguindo-se dos demais, que eram feitos
escravos em resultado de combates, em fossados e presúrias organizados
de surpresas contra eles e seus aldeamentos.
Estes Mouros forros estavam
estreitamente dependentes dos reis, sendo, inclusive, chamados de
“os meus mouros” em documentação da época, assinada por alguns monarcas.
Tal como para os judeus, também
para os Mouros foram delimitados espaços restritos, aos quais deviam
confinar-se, áreas essas fora das povoações, nos arrabaldes, sendo
chamadas de mourarias ou aljamas (Ilustração 1).
Em Lisboa, o arrabalde dos
Mouros, a Mouraria – fora do perímetro do centro urbano, numa zona pouco
salubre -, era marginada pelas portas de Santo André e S. Vicente, na
encosta do Castelo de S. Jorge, local esse a que ainda hoje tem como
topónimo Mouraria. Este bairro teria um núcleo interno amuralhado,
abrindo-se em duas portas situadas nos extremos da actual rua dos
Cavaleiros. Estas portas fechavam-se ao cair do sol (Ilustrações 2 e 3.
Ver ainda a Ilustração 7) .
As estruturas públicas das
mourarias compreendiam a loja destinada à recolha dos impostos que
seguiam depois para o tesouro público da Coroa, a cadeia, os banhos,
abolidos pelos Cristão, a escola, o curral e o matadouro dos animais que
eram consumidos pela comunidade, o cemitério ou almocavar e os
locais de culto: as mesquitas – a maior e a menor.
Uma cidade muçulmana era sempre
murada e abria-se em ruas, dando-lhe uma forma de estrela. Assim seria
inicialmente, até porque tinha o seu local de culto e oração no centro.
Rápido ia-se transformando num autêntico labirinto de ruas estreitas. Da
mesquita partiam uma ou mais vias que se destinavam ao mercado – o
Suq, vigiado por almotacés que desempenhavam a função de
policiamento, a fim de verificarem a qualidade dos bens expostos, as
condições em que os vendedores os apresentavam e ainda vigilantes dos
pesos, medidas e preços. Havia também um no matadouro, porquanto os
animais, para serem abatidos e depois vendidos, estavam sujeitos a
rituais, como também os tinham os Judeus. Nem uns nem outros comiam
carne de porco e as peças abatidas eram colocadas em bancas, quase ao
fundo das ruas, onde se separavam os ossos de partes de carne e das
vísceras.
O mercado que partia do centro
da cidade compreendia lojas que se iam qualificando, partindo da
Mesquita para sul, na direcção dos lados do rio. Perto da mesquita,
vendiam-se velas, cera, perfumes. A seguir, vinham os livros e as
encadernações; passava-se aos metais e tapetes já prontos e ainda aos
tecidos. Na “cauda”, vinham a tinturaria, os barros, os animais, a venda
da carne e os produtos mais sujos e malcheirosos.
Pelo meio, apareciam os
mesteirais que vendiam tudo o que uma casa necessitasse. Uma loja
compreendia, dentro do mercado, um pequeno estabelecimento interior. O
expositor seria uma corda esticada de ponta a ponta de onde se
dependuravam os artigos, e uma ou mais arcas para serem abertas, a fim
de substituírem o material de venda já em falta, ou para guardarem
tecidos e objectos de adorno mais sensíveis e valiosos, quando os havia.
Os cereais e as especiarias salpicavam de cor a rua principal.
Memórias de al-Abbas Ahmad,
falecido numa segunda-feira, dia 1 de Sawwal do ano de 800 (17 de
Junho de 1398) e a mensagem fúnebre dos seus familiares, seguiam, como
todas as demais, textos de Corão ou da Sunna, como:
“Que Deus tenha piedade dele”, passando aos cinco pilares pelo mesmo
cumprido. Chegou até nós, perpetuada no calcário de uma lápide
funerária, encontrada na actual Praça da Figueira, em Lisboa, pelo menos
uma. Tratou-se, por certo, de uma reutilização de materiais pertencentes
ao almocavar mouro, autorizada por D. Manuel e destinada à edificação do
Hospital de Todos-os-Santos naquele local.
As mesquitas eram o centro
polarizador desta comunidade a quem se dera liberdade de culto. Crê-se
que a mesquita grande da Mouraria de Lisboa, principal edifício do
bairro, ocupando 300 m2 e tendo como anexo a escola (Madrasah) com 48m2,
se situaria nas imediações do actual Largo da Anunciada. A mesquita
pequena posicionara-se na rua de dentro da Mouraria, junto a uma porta
do bairro, e distribuía-se por 47 m2.
Uma pia de abluções, datada dos
séculos XIII-XIV, calcária, com a forma de meia calote constituída por
oito gomos radiais, ostentando, no seu bordo, uma inscrição em
caracteres cúficos, encontrada na Rua João do Outeiro e pertencente ao
Gabinete Técnico do Teatro Romano, remete-nos para um dos rituais da
religião muçulmana: antes da oração, o fiel deve purificar-se,
simbolicamente, lavando o seu rosto, mãos e antebraços; se as
características do local não permitirem o uso da água (no deserto, por
exemplo), esta cerimónia pode executar-se mediante a utilização de um
elemento natural, como é o caso da areia.
São visíveis, actualmente, as
características que o urbanismo muçulmano incutiu às ruas da Mouraria,
em que a tónica predominante é o emaranhado dos traçados, os múltiplos
becos e uma estrututa labiríntica, como já acima referimos. Desta teia,
emerge a mesquita, como núcleo central e outro formado pela escola, os
banhos e o mercado
Enquanto os Judeus se
distribuíam socialmente pelo patriciado e classe média, os Mouros,
classe pobre, constituíam o estrato mais desfavorecido da sociedade
lisboeta. Só alguns Mouros eram artesãos. Esta comunidade minoritária
que a legislação segregou, isolando da maioria cristã, manteve, no
entanto, o seu quotidiano pautado por uma vivência de osmose junto da
comunidade cristã.
Em suma, podemos, então, dizer
que a localização dos bairros das duas minorias diferia quanto à
implantação no tecido urbano de Lisboa.
A Mouraria, situada fora das
muralhas, no arrabalde dos Mouros, derramava-se pela encosta do monte do
Castelo, frente aos campos de onde se retiravam os produtos agrícolas
que alimentavam a cidade e o concelho (ilustração 7).
Já com as judiarias, o implante
fazia-se em plena zona central, perto da então Rua Nova e da Ribeira,
pólos dinamizadores do comércio.
As queixas que, nas reuniões de
Cortes, se faziam contra estas duas minorias, dirigiam-se sobretudo para
a hebraica que, graças ao seu engenho, ameaçava os interesses dos
Cristãos que pretendiam triunfar quer nos mesteres, quer na via
mercantil.
Os Mouros, não perturbando os
interesses de ninguém, uma vez que a sua importância económica era
reduzida, não viam grandes acusações projectadas sobre eles.
Esta diferente implantação dos
bairros das duas minorias no tecido urbano parece ter continuidade na
importância que os seus elementos tinham na sociedade cristã, mantendo o
mesmo desnível proporcional. De facto, nos serviços prestados ao rei, as
duas minorias religiosas residentes em Lisboa entram na proporção de
quatro judeus para um mouro.
A organização nestas comunas
dependia de um al-qadi – um alcaide, um antigo governador –
escolhido entre os da etnia.
O Alcaide designa o elemento da
comunidade moura que se constitui como sua autoridade máxima, quer no
foro religioso, quer no jurídico-administrativo. Era ainda ao alcaide
que se dirigia o rei quando pretendia comunicar algo à comuna. O cargo
que, de início, seria vitalício, passou, no século XV, a ter uma duração
variável, entre um e seis anos, acumuláveis ou não na mesma pessoa.
Ao alcaide cumpria o bom
conhecimento do direito muçulmano expresso no Alcorão, como fonte
primordial, na Sunna, ou seja nos preceitos legais deduzidos a
partir dos contos do Profeta e que traduzia o comportamento de Maomé que
serviria de exemplo aos crentes, e n Idjimâ’ – o acordo unânime
da Comunidade - ou consenso de opinião entre os letrados da
comunidade e o Qiyâs, ou seja, o raciocínio por analogia. O
Rây era afastado e resultava no apelo ao sentimento de equidade do
Juiz. Em matéria jurídica, compete ao alcaide a jurisdição cível e crime
dos elementos da comuna. Deve ainda instruir os processos e
superintender a investigação dos pleitos.
Dois homens têm a missão de o
assistirem: um carcereiro e um porteiro.
Para além do alcaide, outro
cargo importante é o de Juiz dos direitos reais, ocupado por Muçulmanos,
mas nomeados pelo rei. Um procurador e um requeredor dos direitos do
monarca auxiliam esse juiz mas suas funções, agindo de forma a defender
os interesses económicos do soberano e que se prendiam com os tributos
que a comuna lhe devia e ainda com benefícios vários. Paralelamente à
importância do procurador, surgem os vereadores e o almoxarife a quem
competia a cobrança da tributação.
Já em meados do século XV,
surge um outro cargo, desta vez ocupado por um cristão – o de requeredor
das sisas.
O aparelho administrativo
contemplava, por último, mais algumas tarefas desempenhadas pelo
tabelião que era de indigitação do soberano, pelo escrivão, cargo este
electivo, e pelo coudel, nomeado pelo monarca que era secundado, por sua
vez, por um escrivão.
As responsabilidades religiosas
da comuna eram desenvolvidas pelo “capelão”, um dos três homens mais
importantes da comunidade, juntamente com o alcaide e o muezim.
Este era um auxiliar directo do “capelão” e tinha por função chamar os
fiéis à oração. Com as Cortes de Coimbra de 1390 e a proibição de
invocarem Maomé, o seu cargo deixou de ter razão de existir e, na
documentação posterior, já não se lhe faz menção.
O degolador, com a dupla função
de guarda do curral e do abate dos animais de acordo com a praxis
ritual que vigorava entre eles, e o talhante ou carniceiro a quem
compete vender esses animais à comunidade, eram outras duas profissões
de destaque na vida desta comunidade.
Os impostos que recaíam sobre
os Muçulmanos forros, em 1170, e indicados na carta de amizade e
segurança, outorgada por D. Afonso Henriques eram vários:
. a capitação, sobre todos os que
tinham idade para trabalhar;
. a alfitra, sobre todos desde o dia
em que nasciam;
. o azaqui, correspondia à décima
que recaía sobre todos os bens móveis e imóveis;
. a dízima, sobre todo o trabalho
desenvolvido nas vinhas do rei, compreendendo ainda a venda do dos figos
e do azeite.
Foram, no entanto, agravados
nos finais do século XIV, princípios do século XV, apresentando-se,
desta feita, com a seguinte distribuição:
- “Libra por cabeça” (vinte soldos
da moeda antiga) paga por cada mouro varão no dia 1 de Janeiro;
- Seis dinheiros de moeda antiga
pagos todos os anos, no mesmo mês e dia, a partir do momento do
nascimento (alfitra);
- Azaqui dos cabedais e dízima de
renovos, aplicáveis aos Mouros maiores de quinze anos e que compreendiam
a quarentena, ou seja 1/40 do cabedal, a dízima devida ao seu senhor, o
azaqui, resultante da venda ou compra de bens de raiz, a dízima das
colheitas (figos, azeite, cereais e vinho) ou do renovo, a quarentena do
gado vacum, a dízima das crias das éguas e mulas, a dízima do mel e da
cera, a dízima dos bens herdados, caso não se apresentassem logo os
herdeiros, 25 soldos de moeda antiga imputáveis aos mouros casados de
Lisboa (por certo) e de outras comunas às quais o rei exigisse e 20
soldos da moeda antiga imputáveis aos solteiros, devidos pelo seu
trabalho nas vinhas e pela venda dos figos.
. A dízima do trabalho, aplicável
aos assalariados de Lisboa (braceiros, jornaleiros, alfaiates,
sapateiros e alvaneses. Este tributo não se destinava aos mesteres cuja
matéria prima fosse o cabedal, dado que a estes era já aplicada a
tributação da quarentena. A isenção abrangia também os que trabalhavam
nas vinhas e herdades, uma vez que lhes era atribuída a dízima do
renovo.
Para além destas contribuições,
os Mouros estavam ainda sujeitos à obrigação do serviço militar, a
corveias públicas (conservação dos muros, calçadas e poços da mouraria,
podendo contribuir com trabalho inerente a este serviço ou com o
pagamento do material necessário), a impostos extraordinários e à
aposentadoria.
Apesar desta pesada carga,
havia, no entanto, mouros que, tendo agradado ao rei pelo desempenho dos
serviços prestados, eram isentos de algumas destas obrigações.
Considerando o levantamento de solicitantes das isenções tributárias dos
mouros de Lisboa feito por Maria Filomena Lopes Barros (1993), entre
1441 e 1491, verifica-se que os 11 casos apurados, correspondentes a
24,4% do universo total das cartas de privilégio outorgadas neste
período, se prendem com mouros que desenvolvem ofícios vários próximos
da Corte, pelo exercício da sua própria profissão.
Estes privilégios negativos, ou
melhor, estas isenções, variáveis de caso para caso, em grau e
abrangência, não têm por objectivo uma qualificação social, mas uma
diminuição do peso tributário, facto que já não acontece, por exemplo,
com os Judeus a quem fora concedido o privilégio de poder usar besta
muar de sela e freio (ao invés da obrigatoriedade de cavalo) e porte de
arma, atributos de um estatuto social superior.
Ainda relativo às concessões de
cartas de privilégio e considerando os reinados compreendidos entre D.
Fernando e D. João II, podemos escaloná-los por ordem crescente de
atribuição, da seguinte forma: D. Fernando, D. João I, D. Duarte, D.
João II e, por último, largamente distanciado de outros, D. Afonso V.
As cartas de segurança aos
Mouros são a fonte preferencial para o estudo desta comunidade, dado
que, ao detalharem os diferentes aspectos da legislação a aplicar,
fornecem os elementos para os mais variados estudos.
Foi possível desta feita, e de
uma forma geral, traçar o quadro das actividades económicas desta
minoria que se revelou essencialmente agrária. No caso de Lisboa, porém,
tal não se verificou, sendo os seguintes os sectores económicos e sua
distribuição percentual:
A.
Sector Primário: 1.3%;
B.
Sector Secundário: 84.6%;
C.
Sector Terciário: 14.1%.
O sector secundário (superior à
soma dos outros dois, em muitos dígitos e as actividades artesanais quer
lhe estão ligadas (tinturaria, tecelagem, tapetes, cordoaria,
metalurgia, sapataria…), constituem o pólo centralizador da economia dos
Muçulmanos. Destas actividades, as mais populares eram:
A.
O trabalho de olaria: 30.5%;
B.
O das fibras (tapeteiros, esparteiros, esteireiros e cordoeiros):
28.0%;
C.
O dos metais: 17.1%;
D.
O dos sapateiros: 3.7%;
E.
Os de carpintaria: 3.7%;
F.
Os albardeiros: 2.4%;
G.
E ainda um azulejador e um foleiro.
O complemento agrícola
desenvolvido em Lisboa nos quintais das casas destes mouros ou em
prédios rústicos aforados, é, porém, uma realidade, constituindo assim
uma segunda actividade a acrescentar às já indicadas e destinada a
melhorar o pecúlio do núcleo familiar.
Grande parte da mourama que se
dedicava a trabalhar o barro na comuna de Lisboa, agrupava-se na Rua de
Benfica, no arrabalde novo da Mouraria, também conhecida por “rua onde
vendem as olas”, numa clara alusão ao mester e ao seu comércio que, não
se destinando unicamente ao consumo interno da Mouraria, devia atender
também as necessidades da população cristã da cidade de Lisboa.
As técnicas árabes de fabrico
destes artefactos terão certamente influenciado os elementos plásticos e
estéticos que os oleiros cristãos introduziram no seu imaginário
criador, patente também nos vocábulos dos diversos objectos necessários
à produção oleira e usados ainda hoje, alimentos… tais como, açafate,
acepipe, açude, acéquia, açorda, açúcar, albarrada, alcadefe, alcatruz,
alcofa, alguidar, alfaia, alguidar, aljofaina, aljuba, Almargem,
almoinha, almofia, almarrax, argola, ataúde, atenor, azeite, ceifa,
chafariz, jarra, laranja, limão, nora…
Como expoente máximo desta
produção deve referir-se o azulejo, elemento decorativo mudéjar que,
tendo subsistido no imaginário estético e perdurando para além do Édito
de Expulsão manuelino, conhecerá o seu desenvolvimento mais tarde, no
século XVI e terá toda a projecção que o actual museu do Azulejo,
associado à Igreja da Madre de Deus, em Lisboa, bem documenta
(Ilustração 6).
A fim de poder avaliar-se
melhor a importância da comunidade judaica e da comunidade moura em
Portugal, no séc. XV, deve, por último, referir-se que a distribuição de
comunas de mouros era a seguinte:
Alcácer do Sal, Alenquer, Almada, Avis,
Beja, Elvas, Estremoz, Évora, Faro, Lisboa, Loulé, Moura, Palmela,
Santarém, Serpa, Setúbal, Silves e Tavira.
Assim como as judiarias, também
as mourarias deviam encerrar as suas portas ao fim do dia, coincidindo
com o toque do sino cristão que anunciava as Trindades. Pesadas penas
esperavam os que, por qualquer razão, fossem encontrados fora do
perímetro destas comunas, depois de encerradas as suas portas.
Esta medida separatista era
acompanhada por outra legislação semelhante quanto aos objectivos: as
mulheres não podem entrar sozinhas nas mourarias e, caso o fizessem,
pagariam com a vida tanto estas como os mouros que as recebessem; para
além de não poderem residir nas mourarias, estava vedada aos Cristãos
qualquer prestação de serviços nas casas dos Mouros ou na participação
das suas festas. O mesmo sucedia, a nível de participação de mouros em
cargos oficiais, impossibilitando o desempenho de ofícios junto do rei,
dos infantes, dos nobres e da igreja. Encontravam-se igualmente
interditados de usufruírem do regime vizinho dos concelhos, da lei da
avoenga e de serem procuradores em pleitos cristãos. Em caso de serem
acusados de delito, não podiam ser abrangidos pelo direito de asilo nas
igrejas, salvo se, entretanto, se convertessem à fé cristã.
A distinção no vestuário
corporizava, visualmente, este sectarismo, através da obrigatoriedade do
uso do sinal; de facto os Mouros eram obrigados ao uso de trajes que
permitissem a sua identificação, vestindo aljubas, de mangas
largas, albornozes, capuzes e balandraus. D. Afonso
IV acrescentou a obrigatoriedade de um sinal branco no barrete e
D. João II determinou que aplicassem um crescente vermelho no
ombro, os que optassem por usar o seu capuz aberto.
A insistência neste tipo de
legislação em reinados sucessivos era claro indício de que estas medidas
não foram cumpridas, havendo sim uma interpenetração entre Mouros e
Cristãos. Os próprios reis deram o exemplo.
D. Afonso V ouviu ao
Muçulmanos. Embora as aljubas, albernozes e balandraus fossem trajes
costumeiros dos Mouros, suficientes para distingui-los, os legisladores
obrigaram-nos a usar as vestes longas costuradas e fechadas na frente, o
que além de lhes provocar incómodo no momento em que realizavam suas
actividades de trabalho ia contra os seus costumes. Disto nos dá conta
uma carta datada de 11 de Dezembro de 1454, na qual Afonso V atendeu o
pedido dos mouros de Lisboa, uma vez que
“Custumarom sempre trazerem capas abertas
per diante e capellos de tras que he trajo de mouro assy como sempre
trouuerom e ainda trazem todollos outros mouros forros de nossos regnos,
e que mantendo elles assy seu custume do dito trajo que os
dessebargadores da nossa cassa do ciuell, que esta em esta çidade lhe
foi mandado da nossa parte que nom trouuessem mais as ditas capas
abertas soomente todas cosseitas e çarradas per diante, em o que dizem
que lhe foi feito agrauo por seerem as ditas capas per a dita guissa
muito pejadas para com ellas poderem seruir e trabalhar e ainda seer lhe
posta semelhante defessa que nom he a nenhuus outros mouros forros de
nossos regnos, pedindonos que lho mandassemos correger e tornar a seu
custume, e visto per nos seu requerimento e querendolhe fazer graça e
mercee, teemos por bem e queremos e mandamos que daquy em diante possam
trazer as capas todas abertas per diante com seus capellos de capuz
segundo soyam de custumar sem embarguo de qualquer mandado ou defessa
que lhe per os sobreditos nossos dessenbargadores ou quaees quer outras
perssoas em nosso nome fosse ou seja posta”.
(AN/TT, Chanc. de D. Afonso
V, l.º 19, fl. 119v).
A proibição de chamamento do
muezin constituiu mais uma das medidas de segregação que violentaram
esta comunidade; a organização do tempo não obedecia já aos preceitos do
Alcorão, convidando pela voz do dito oficial às cinco orações
diárias, um importante pilar do Islão. Esse apelo achava-se, no entanto,
espartilhado pelo toque do sino cristão. Desta feita, o som de um Credo
e voltado para Deus, sobrepunha-se à voz de um outro Credo dirigido
também a Deus, mas arbitrariamente silenciado pela imposição de uma
religião à outra, ambas voltadas para a mesma Divindade, mas que
convinha, ao tempo, vocacionar-se para dois Deus distintos. E hoje não
continua a persistir a mesma ideologia? |
|
 |
|
5. Conclusões |
|
 |
|
A situação de crise vivida
pelos Judeus em Portugal no século XV prendeu-se com motivações
religiosas, sem dúvida; mas estas devem ser acrescidas de razões de
ordem económica. O próprio pogrom de 1391 que chacinou milhares
de Hebreus em Castela, sobretudo no Sul (Andaluzia), fez sentir as suas
ondas de choque, mais tarde, em Portugal.
Contudo, para os que se
convertiam, as provações não acabavam, uma vez que bastava que alguém
testemunhasse que, em segredo, continuavam a desenvolver os ritos
hebraicos, para que, de imediato, os seus bens fossem confiscados e os
“infractores” fossem condenados a prisão ou escravatura.
Vejamos uma passagem das
Ordenações Afonsinas:
“a Comuna dos Judeos da dita Cidade de
Lixboa nos enviou dizer, que nos regnos de Castella, e d’Aragom forom
feitos muitos roubos, e males aos Judeos, e Judias estantes aquella
fazom nos ditos Regnos, matando-os, e roubando-os, e fazendo-lhes
grandes premas, e costrangimentos em tal guisa, que alguus delles se
faziam Christaaõs contra suas vontades, e outros se punham nomes de
Christaaõs nom seendo bautizados com padrinhos, e madrinhas, segundo o
direito quer; e esto faziam por escapar da morte ataa que se podessem
poer em salvo; e que alguus desses Judeos, e Judias se vierom aos ditos
nossos regnos, e trouverom suas molheres, e filhos, e fazendas, dos
quaes moram, e vivem alguus delles em esta Cidade, e alguus em outras
Cidades, e Villas, e Lugares do nosso Senhorio” (L.º II, tít. LXXVII).
A medida legislativa para o confisco ou
penhora dos bens judeus estava assim ardilosamente autorizada. Ódios,
invejas e outros sentimentos menos dignos de Cristãos e relativamente a
Judeus transformavam facilmente os primeiros nas testemunhas
difamatórias dos segundos. Pontualmente, o rei interveio para sanar este
tipo de atritos, cedendo privilégios a determinadas comunas, mas o
crescendo das perturbações anti-semitas foi fazendo sentir-se até
culminar no século XV, com o Édito de Expulsão promulgado por D.
Manuel I que se seguiu ao Édito de Expulsão emitido por Fernando
e Isabel de Castela e Aragão.
Quanto aos Mouros, a situação
foi um pouco diferente. A comuna de Lisboa não pode ser considerada
exemplo de como esta comunidade se comportou em Portugal, já que – e
como acima o dissemos -, era na capital que se encontrava sedeado o
poder político e, por este facto, funcionou como pólo dinamizador da
actividade que norteou os Mouros aqui residentes, centrada
essencialmente na produção artesanal.
O dinamismo económico dos
Mouros aqui residentes, relativamente aos do resto do País, acompanha
este protagonismo da cidade, diferenciando-os quanto às suas actividades
económicas, da tendência apresentada fora da referida cidade; preferindo
o sector secundário, pretendiam, certamente, fazer face às necessidades
de consumo da grande capital, contrariamente ao resto do País em que
predominava a agricultura como actividade de base.
De uma maneira geral, o mouro,
servidor, sem poder económico, passou um pouco à margem dos ódios
movidos pelos Cristãos aos Judeus. Contudo, tento Mouros como Judeus,
ambas as minorias, sofreram o mesmo tratamento na aplicação do Édito
de Expulsão, devendo converter-se ou partir.
É legítimo questionarmo-nos
sobre qual a origem dos mecanismos que criaram esta intolerância e que
transformaram um País, o nosso, conhecido como sendo de brandos
costumes, numa “nação” impiedosa para as duas minorias que viemos
analisando.
No imaginário português e, em
consequência da intolerância que vimos nascer ao longo desta abordagem,
perpetuou-se a imagem pejorativa associada quer a Judeus quer a Mouros,
mas visando, de uma forma mais acentuada, os primeiros em relação aos
segundos, a partir da tomada do Algarve e quando moçárabes e muçulmanos
viveram pacificamente no Reino, subsistindo da agricultura e dos
ofícios. |
|
 |
|
Imagens |
|
 |
|
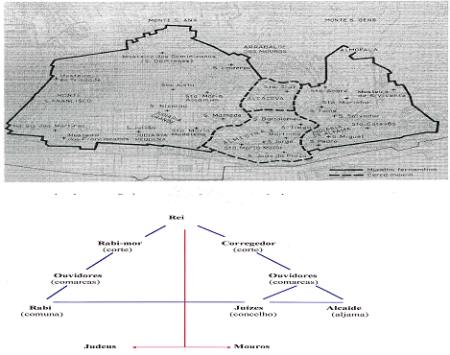
|
|
Ilustração 1. SEQ
Ilustração \* ARABIC 1 - Cidade de Lisboa e Posição do Rei de Portugal
ante os Oficiais Mouros e Judeus |
|

|
|
Ilustração 2. SEQ
Ilustração \* ARABIC 2 - Os Mouros habitavam os arrabaldes de Lisboa |
|

|
|
Ilustração 3. SEQ
Ilustração \* ARABIC 3 - A Mouraria tinha uma parte alta para sua
defesa |
|

|
|
Ilustração 4. SEQ
Ilustração \* ARABIC 4 - Judiaria Medieval de Lisboa. Localização |
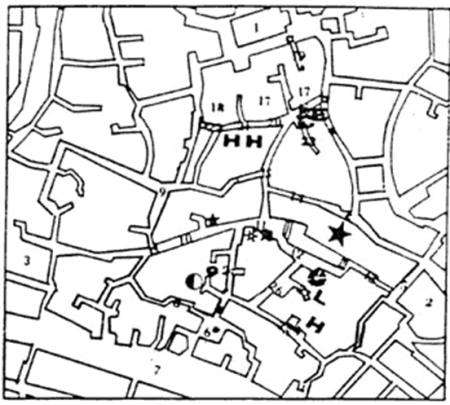 |
|
Ilustração 5. SEQ
Ilustração \* ARABIC 5 - Planta da Judiaria de Lisboa, segundo João
Nunes Tinoco, 1650 |
 |
|
Ilustração 6. SEQ
Ilustração \* ARABIC 6 - Pormenor dos Azulejos do Metro Martim Moniz,
Porta de Entrada para a Mouraria |
 |
|
Ilustração 7. SEQ
Ilustração \* ARABIC 7 - Sinagoga do Largo do Rato em Lisboa |
 |
|
Ilustração 8. SEQ Ilustração \* ARABIC 8 - Interior
da Sinagoga Portuguesa em Amesterdão |
|
 |
|
Bibliografia |
|
 |
|
A.N./T.T., Chanc. de D.
Afonso V, liv. 19 ;
Chanc. de D. Manuel I, liv.
6 ;
Estremadura,
liv. 1;
Mosteiro de Alcobaça,
maço 42, doc. 9;
Suplemento de
Cortes, m. 1;
AMADOR DE LOS RÍOS, Jose,
Historia social, politica y religiosa de los judios de España y Portugal,
Madrid, Aguilar, 1960, pp. 893-894.
Archeologo Português (O), Vol.s V, n.º 11-12 de 1899-1990, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1900; e Vol. VI, n.º 5-7, Lisboa, Imprensa Nacional,
1901;
BARROS, Maria Filomena Lopes, A Comuna
Muçulmana de Lisboa nos séculos XIV e XV, (dissertação de Mestrado
em História Medieval, apresentada a Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, 2 Vol.s, 1993), Lisboa: Higin Editores, 1998;
COELHO, António Borges, Portugal na
Espanha Árabe, Vol. I, Co. “Paralelos”, Lisboa, Seara Nova, 1972;
Dicionário da História de Lisboa, dir. por Francisco Santana e Eduardo
Sucena, Sacavém, Carlos Quinta e Associados, 1994, pp. 480-482, 511-515
e 590-591;
Dicionário de História de Portugal,
dir. por Joel Serrão, Vols.
III e IV, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1974.
FARINHA, António Dias, “Contribuição para
o estudo das palavras portuguesas derivadas do árabe hispânico”, in
Portugaliae Historica, Vol. I, Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, Lisboa, Instituto Histórico Infante D. Henrique, 1973, pp.
244-263;
FERNANDEZ Y FERNANDES, Francisco, Estado
social y político de los mudejares de Castilla,considerados en si mismos
y respecto de la civilizacion española, Madrid, Imprenta de Joaquin Muñoz, 1866, anexo nº LVI, p. 369.
GUERREIRO, Manuel Viegas, “Judeus”, in
Dicionário de História de Portugal, dir. por Joel Serrão, Vol. III,
Porto, Livraria Figueirinhas, 1984, pp. 409-414
“Mouros”, ibidem, Vol. IV, 1985,
pp. 352-354;
LALINDE ABADIA, Jesús, “La indumentaria como
simbolo de la discriminacion juridico-social”, in Anuario de Historia
del Derecho
Español, Madrid,
Espasa-Calpe, 1983, tomo LIII, pp. 583-599.
LAVAJO, Joaquim Chorão, “Islão e
cristianismo: entre a tolerância e a Guerra Santa”, in História
Religiosa de Portugal, coord. de Ana Maria C. M. JORGE e Ana
Maria S. A. RODRIGUES, Vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000.
LIMA, J. A. Pires de, “Influência de
mouros, judeus e negros ma Etnografia Portuguesa”, in Congresso do
Mundo Português, Vol. XVIII, tomo II, 1940, pp. 63-102;
Livro das Leis e Posturas, ed. da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, com prefácio de Nuno Espinosa Gomes da Silva e
leitura paleográfica de Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, Faculdade
de Direito, 1971;
LOPES, Elsa Cristina Mendes, O Legado
Islâmico em Portugal, Lisboa, FCSH da Universidade Nova de Lisboa,
Abril de 1999 (no prelo).
MACHADO, Narciso, Diálogo entre
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, Guimarães, Editora Ideal, Artes
Gráficas, Junho de 2006;
MARQUES, A. H. de Oliveira, A
Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos da Vida Quotidiana, 2.ª ed.,
Lisboa, Sá da Costa, 1971;
MORENO, Humberto Baquero, Exilados,
Marginais e Contestatários na Sociedade Portuguesa Medieval, Estudos
de Historiam Lisboa, Editorial Presença, 1990;
NUNES, Aida Pereira e SEIXAS, Ana Carla,
Mouros e Judeus em Lisboa, nos séc.s XIV e XV, Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa, Abril der 1997 (no prelo);
Ordenações Afonsinas,
publicadas por 1453-1454, Livro II, onde se encontram Leis Especiais
para Mouros e Judeus”, tit.s LXVI a XCVIII. Consulte-se a ed.
fac-similada da Fundação Calouste Gulbenkian.
Ordenações Manuelinas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
Liv. II, tít. XLI;
PAVÓN, Basílio, Ciudades
Hispanomusulmanas, col.
“Al-Andalus”, Madrid,
Editorial Mapfre, 1992;
PIRES, Andrés, Livro de Marinharia,
Lisboa, Editora Luís de Albuquerque, 1963;
RESENDE, Garcia de, Miscellanea,
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1973;
Revista Labor,
307, Aveiro, Lusitânia, 1973;
Revista Municipal, n.os 101-109, Lisboa, s. n., s. d.;
RODRIGUES, Maria Teresa Campos, “Aspectos
da Administração Municipal de Lisboa no séc. XV”, in Revista
Municipal, sep. dos n.ºs 101 a 109, Imprensa Municipal de Lisboa,
Lisboa, s.d.;
SANTOS. Armando Vieira, A Cerâmica em
Portugal. Arte Portuguesa – Artes Decorativas, dir. de João
Barreira, Lisboa, Ed. Excelsior, s.d.;
SERRA, Pedro Cunha, “Sobre a intercultura
de mouros e cristãos”, sep. da Revista Labor, 307, Aveiro,
Lusitânia, 1973;
SILVA, A. Vieira da, “A Judiaria Vela de
Lisboa. Estudo topographico sobre a antiga Lisboa”, in O Archeologo
Português, V, n.os 11-12 de 1899-1900, Lisboa, Imprensa Nacional,
1900;
“A Judiaria Nova e as primitivas tercenas de Lisboa”, sep.ª de O
Archeologo Português, VI, n.os 5.7, Lisboa, Imprensa Nacional, 1901;
SOUSA, Armindo de, “1325-1480.
Condicionamentos básicos”, im História de Portugal, dir. por José
Mattoso, Vol. II, Lisboa, Estampa, 1993, pp. 313-386;
SOUSA, João Silva de, Religião e
Direito no Alcorão (Do Pré-Islão à baixa Idade Média, século XV),
Lisboa, Ed. Estampa, 1986;
TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Os
Judeus em Portugal no Século XIV, Lisboa, Guimarães e Companhia
Editores, 1979;
Os
Judeus em Portugal no séc. XV, Vol. 1, Lisboa, Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1982;
“Judeus
e Mouros no Portugal dos Séculos XIV e XV (Tentativa de estudo
comparativo) ”, in Revista de História Económica e Social, n.º 9,
Lisboa, Sá da Costa Editora, Janeiro-Junho de 1982; |
 |
|
|
|
|
|