
 |
|
Revista TriploV
de
Artes, Religiões e Ciências
Nova Série |
| |
|
|
|
|
|
 |
|
JOÃO SILVA DE SOUSA |
|
|
O Casamento em Portugal nos séculos XI a XV |
|
|
“O casamento tem menos beleza, mas mais segurança
que o celibato. É cheio de tristezas e cheio de alegrias;
tem mais responsabilidades mas é apoiado por todas as
forças do amor e essas responsabilidades são deliciosas”
(um Bispo do séc. VII) |
|
 |
|
1. O
conceito de casamento na Idade Média é alvo de opiniões múltiplas de que
cada autor faz uso, infelizmente, não sem que o veja, só e
exclusivamente, à luz dos séculos em que esta instituição de contratos
múltiplos se deixou absorver, ela mesma, por regras seculares – poucas –
mas sobretudo eclesiásticas. Mais uma vez, fazendo-se a história deste
contrato, não podemos deixar de entrar em conta com vertentes múltiplas
subsidiárias mas muito importantes a envolverem-no: a lei, a sociedade,
a economia e a cultura. O casamento tem também a sua geografia própria:
uma situação do longínquo Interior abençoada pelo pároco, num ambiente
mais familiar nada tem a ver com as cerimónias citadinas, às quais pode
presidir um bispo, mais os seus acólitos, ou um ou mais sacerdotes de
outra posição social. Baquero Moreno diz-nos: “O casamento consistia
num acto privado, resultante de um pacto entre duas famílias e depois
entre os próprios nubentes […] exprimia-se juridicamente através da
compra e venda, o que, mais tarde, veio dar origem à própria ideia de
contracto” (2). E deste modo se apresentava como objectivo quer
entre a nobreza, a burguesia e os aldeões. Assim, a ligação jurídica e
religiosa, enquanto considerada como um acto privado, ou seja, um acordo
entre as partes familiares e, só, numa segunda fase, entre os noivos,
interessaria, maioritariamente, às duas famílias envolvidas, sendo
estas, no comum dos casos, quem escolhia o potencial cônjuge. Baquero
Moreno enfatiza a ideia de aliança, de acordo. Digamos que este é um
contrato puro, um entendimento de livre-arbítrio que ia constituir a
essência do matrimónio. Sendo, quanto a nós, um contrato, não nos parece
despicienda a expressão “compra e venda”, o que dá precisamente a ideia
de que o casamento seria, no fundo, um negócio, e, sendo assim, é
crucial o entendimento entre as partes. |
|
 |
|
2.
Jean-Louis Flandrin refere, complementarmente, que “ o casamento era
uma instituição social, através da qual se ligavam as famílias da mesma
condição social para se perpetuarem”. O autor aceita o casamento
como uma instituição social que objectivava a união de duas famílias.
Contudo, para Flandrin, o casamento dependia de uma posição social, ou
seja, era a união entre dois membros da mesma ordem social, nunca entre
um elemento da nobreza e alguém de mais baixa condição, embora, muitas
vezes, isso sucedesse, sem o consentimento dos pais. Seria um escândalo,
decerto, e daria origem a uma possível deserdação. Mas sobre assunto
falaremos adiante (3).
Um outro
historiador vem a situar precisamente em 1100, referimo-nos a Georges
Duby, “o ponto culminante do conflito que opõe duas visões do
casamento. Para os guerreiros, convém, antes do mais, assegurar a sua
linhagem, tornar firme o seu poderio, afirmar a sua categoria; daí o
repúdio das esposas sérias, as uniões com parentas próximas que evitam a
dispersão do património, a presença, em torno do senhor e amo, de
mulheres de segunda categoria. Para os clérigos, o casamento deve ser
indissolúvel, monogâmico e isento de qualquer elo de parentesco”
(4).
A clerezia,
se bem que não possamos nem devamos generalizar, mas a pontificada por
Santo Agostinho (séc. IV), considerava que o casamento deveria possuir
como objectivo a sacralidade, fidelidade e descendência (5), embora o
próprio tivesse vivido em concubinagem com uma manceba de condição
inferior, relação da qual resultou um filho (6).
Ainda que
estes autores foquem uma certa variedade de aspectos, um entre eles
permanece subjacente. Trata-se do factor biológico – a reprodução. Como
o refere Flandrin, “se os laços do casamento e da filiação estão no
cerne da instituição familiar, é porque a sua função essencial é a
reprodução” (7).
Digamos que
o casamento era um acto social que, mais do que afectos e a vivência a
dois, se revestia de um carácter prático e essencialmente materialista,
como será apresentado nas linhas seguintes. O amor medieval não
correspondia à imagem que temos do amor de hoje, pois era muito
relevante o respeito e a “amizade conjugal”. Mais do que propriamente um
amor platónico, o fogo da paixão que acaba por extinguir-se e quantas
vezes, nem a amizade, nem o respeito subsistem. Era um excesso… e os
excessos eram mal vistos na sociedade: havia que ter contenção e um
comportamento regrado, pois o verdadeiro amor deveria ser dedicado a
Deus e não ao cônjuge, ou seria visto como uma infâmia. |
 |
|
 |
|
3. A
anteceder o matrimónio, verificavam-se, principalmente no seio da
aristocracia, os chamados esponsais (sponsalia), isto é, o
noivado. Do latim spondere, era a promessa de casamento,
cujos objectivos visavam fixar a data da ligação matrimonial, tornar
público o acontecimento e, sobretudo, a forma e a quantia do dote e/ou
das arras (arrhae sponsaliciae) (9). O casal tinha um efeito
plenamente jurídico desde esta fase de sponsalia ou initium
matrimonii que era fixada firmemente entre o pater puellae e
o futuro marido, e se recordava, então, sem necessidade de obter o
consentimento da mulher ou com esta menor de idade. O noivo pagava o
dote.
O dote
definia-se como o “conjunto de bens e/ou serviços oferecidos pela
família da noiva ao futuro marido. Nos sécs. XI e XII, era a este que
cabia dotar a esposa: era a compra que ainda hoje existe na generalidade
dos países muçulmanos. Por extensão, o termo dote acabou por designar
todas as prestações matrimoniais, viessem elas do lado da família do
marido ou do da mulher” (10). Quanto ao tempo, podemos recuar a finais
do séc. IX. O dote funcionava, no que diz respeito às mulheres, como um
primeiro passo na independência económica da futura família (11). Por
outro lado, as arras eram a “soma de dinheiro ou doação simbólica
entregue pelo noivo ou pela sua família para confirmar uma promessa de
casamento” (12). Quando os dotes e as arras assumiam uma importância
significativa justificava-se a elaboração de uma carta de doação, a
carta de arras (13). Estas poderiam ser uma quantia em moeda
ou em géneros, e temos, como exemplo, o caso do rei D. Fernando
[r.1367-1383], que “arra” Leonor Teles com Vila Viçosa, Abrantes,
Almada, Sintra, Torres Vedras, Alenquer, Atouguia, Óbidos, Aveiro, os
reguengos de Sacavém, Frielas e Unhos e a terra de Merles em Riba Douro
(14). Todavia, entre as classes menos favorecidas, estas doações
continuavam a ter algum significado: “os Costumes de Riba-Coa. do séc.
XIII fixavam-nas em 12 maravedis, 2 fangas de trigo, um porco, meio boi,
5 carneiros e 50 cabaças grandes, de um Cântaro, cheias de vinho” (15).
Não entravam aqui, nem podiam sequer, imóveis, como vilas que vimos a
cima serem doadas com seus rendimentos e mero e misto império às rainhas
de Portugal. Podiam estas emitir cartas de privilégios nos seus feudos,
algo que não sucedia com os ingénuos nas suas leiras.
A prática
destes artifícios expressa a compra do corpo da mulher pelo cônjuge,
seguindo a tradição do costume germânico, que foi seguido no nosso País
ao longo de toda a Idade Média (16). |
|
 |
|
As noivas
reais, muitas vezes, levavam no seu dote o próprio título real, isto é,
não havendo filhos varões legítimos, a jovem infanta ao ser desposada,
iria entregar ao futuro marido o trono. Assim, o dote trazia poder. E,
entre a nobreza, o mesmo sucedia, na alta e na baixa Idade Média. O
título de Conde de Vila Real, passa à morte do Conde D. Pedro de
Menezes, para seu genro, D. Fernando de Noronha. E questionamo-nos: o
título de condessa transitou do pai para a filha – D. Beatriz de Menezes
e Noronha -, ou ela seria assim chamada por ser casada com D.
Fernando?
Enquanto as
arras eram oferecidas ao noivo, o enxoval era pertença exclusiva de
mulher. Eram os seus próprios bens, que permaneciam na sua posse e eram
deixados aos seus herdeiros. O enxoval era composto por um conjunto de
têxteis para o lar, como lençóis, peças de mobiliário, alfaias, entre
outros. Também eram propriedades próprias da rapariga as prendas dadas
aquando da celebração do casamento, tal como o que herdasse. |
|
 |
|
4. Uma questão que costuma colocar-se é a
da idade para se contrair casamento, dado que para começar a pensar-se
em casamento, não é difícil deduzir-se.
Sabemos que tudo variava consoante o sexo
dos jovens.
As mulheres viram-se obrigadas a casar
mais cedo, devido ao factor biológico (procriação) e à parca esperança
de vida da Idade Média (rondava os quarenta anos). Quanto aos homens, já
podiam dar-se ao luxo de se unirem matrimonialmente numa idade mais
tardia. Com efeito, a família planeava os consórcios desde o nascimento
das crianças, celebrando-se o noivado logo na infância. Era plenamente
aceitável que os jovens, ainda na puberdade, com idades compreendidas
entre os treze e os dezasseis anos, sobretudo entre a aristocracia,
contraíssem matrimónio assumindo a responsabilidade e os encargos de uma
vida a dois. À luz dos nossos dias, poderemos interrogar-nos sobre que
sentimento amoroso poderia ter uma rapariga adolescente ao ser desposada
por um homem de trinta anos? Poder-se-ia falar de amor, quando o
consórcio era protagonizado por dois jovens? (17)
Concluamos, portanto, que o amor se
encaixa numa situação de excepção, pois, regra geral, os casamentos eram
contraídos em função do interesse material, e se houvesse amor era fruto
do acaso e não uma causa do casamento. Este sentimento
apresenta-se-nos como um efeito do matrimónio, um amor amigo
e não sentido - “o nosso século que só acredita nos casamentos de
amor, ri ou indigna-se com os ‘casamentos de razão’ arranjados pelas
famílias, nos quais há a tendência para apenas ver ‘casamentos por
dinheiro’” (18).
Há, no entanto, um elemento a considerar.
Na Idade Média, a maioridade ia flutuando conforme o caso a resolver. Um
jovem de 14 anos não poderia executar um contrato comum. Mas aos 14
anos, o Príncipe herdeiro, assumia a idade para ser rei, se o pai
houvesse falecido antes e o País fosse governado por um regente ou
conselho de regência. Aos 14 anos, por exemplo, o Infante D. Duarte, foi
associado ao trono por seu pai D. João I. Aos 14 anos, o Regente D.
Pedro deveria ter abandonado a regência, pois D. Afonso V atingia a
idade regulamentar para reinar. Só o acaso não quis que fosse essa a
situação, dado que o futuro Africano, achando-se ainda incapaz para
governar pediu ao tio que permanecesse na regência por mais dois anos. |
|
 |
|
5. O rito cerimonial processava-se de
acordo com a condição dos nubentes. Tal como actualmente, as cerimónias
revestir-se-iam de maior ou menor ostentação, sendo um reflexo directo
da riqueza e do poder social das famílias envolvidas.
Desta feita, os mais pobres – que não
tinham qualquer possibilidade de pagar a um clérigo para que este os
unisse aos olhos de Deus, nem para financiar um “copo d’água”, - um
jantar ou uma ceia de festa - viam as suas opções reduzidas ao casamento
mais simples, o de juras, onde trocariam palavras de presente,
tais como “Recebo-te por minha. Recebo-te por meu” (19), bastantes para
que a união fosse legítima. Também os anéis (que substituíam as arras no
contexto hispânico) ofertados por um casal humilde, num casamento
religioso, eram de metal, com decorações e simbolizavam a promessa de
uma vida a dois (20).
Um missal português do séc. XIII descreve
a celebração religiosa. Os futuros esposos deveriam apresentar-se no
templo cristão pelas nove horas matinais, onde, de seguida, o clérigo os
interrogava sobre os possíveis laços de parentesco e a afeição que
sentiam. Ulteriormente, abençoaria a aliança e proceder-se-ia à leitura
da carta de arras. Mesmo neste momento de cariz religioso, onde
imperava o sagrado, não era posta de parte a realidade do negócio que se
havia acordado. Após a exposição da carta de doação, a noiva recebe do
pároco o anel, enluvada (somente na primeira vez que se casa), invocando
este a Trindade. O noivo declara “com este anel te esposo, com este
ouro te honro, com este dote te doto”, sendo o ouro (as moedas) o
símbolo das arras. Iniciava-se, então, a missa do casamento. A meio
desta, a noiva era trazida para o altar pelos seus pais, que a entregam
ao noivo. A seguir, os contraentes deitavam-se no chão, ao comprido e
eram cobertos por um lençol. Este acto simbolizava a união do casal, e o
matrimónio terminava com a bênção nupcial (21).
A nobreza e a burguesia mais abastada
tinham já condições para organizarem uma boda rica e ostensiva. Parta
além das suas próprias posses, era tradição o noivo aristocrata
percorrer casa por casa, pedindo contributos para o seu consórcio, que
eram justificados pelo direito instituído dos vassalos cederem valores
ao seu senhor na data do seu casamento: o próprio imposto era assim
designado: ‘casamento’ e era um direito senhorial, convertido em
géneros. A cerimónia realizava-se na igreja, com a presença de um
sacerdote (casamento de bênção) e de larga assistência, não se poupavam
a gastos para que a cerimónia fosse solene e inesquecível. A noiva,
cumprindo uma tradição que remonta ao primitivo cristianismo, leva na
cabeça um véu. Os noivos vestem as suas melhores e mais ricas roupagens,
bem como o fazem todos os convidados. O anel é, neste caso, de ouro, com
pedras preciosas, reflectindo a promessa de matrimónio do casal. Após a
cerimónia, realizavam-se os festejos, que poderiam durar mais ou menos
tempo, ou serem de maior ou menor importância, variando com o prestígio
social das famílias envolvidas (22).
O casamento de bênção era o casamento
legítimo, realizado pela troca de consenso nupcial in facie ecclesiae
e fazia-se acompanhar de graça sacramental.
Além deste, sabemos do casamento de
pública fama. Como o nome indica, era uma união cuja qualificação de
casamento derivava, de facto, de um homem e mulher serem, pelo público,
considerados como cônjuges.
Ainda o casamento de juras que, em
Portugal, só aparece verdadeiramente concretizado nos foros de Cima-Côa.
Tratava-se de uma espécie de união média entre o de bênção e o de
pública fama, em que o mútuo consentimento dos contraentes era firmado
com juramento ante qualquer ministro de culto. Eram as juras,
in manu clerici. Neste, não se dava o sacramento, pois, nos foros
referidos, é considerado como diverso e inferior ao de bênçãos (23).
Quanto ao casamento de pública fama ou
conhuçudo parece conveniente apontar-se duas leis fundamentais, em
que eles, segundo costuma entender-se, são contemplados.
Em primeiro lugar, um comando de D.
Afonso III, onde se declara o seguinte:
“Os casamentos todos se podem fazer
por aquelas palavras que a santa eygreia manda atando que seiam taes que
possam casar sem pecado. E todo o casamento que possa ser prouado quer
Seia a furto quer conhuçudamente valerá se os que assy cassarem foren
didade comprydamente como he de costume”.
O segundo foi promulgado por D. Dinis.
Data de Maio de 1311, e breza assim:
“Custume he dessi he dereyto que se
huu home uiue cõ hua molher a mãtee cassa ambos de suu por sete annos
cõtinuadamente chamandosse ambos marido e molher se fezerem cõpras ou
vendas ou enprazamentos e se posserem em elles nos stormentos ou cartas
que fezerem marido e molher e na viziidade os ouuerem per marido e
molher nõ pode nehuu deles negar o casamento e auelhos hão por marido e
per molher ainda que nõ Seia cassados en face da Eygreia”. |
|
* |
|
Os casamentos reais revestiam-se de
enorme pompa e circunstância, como o atestam o casamento de D. João I
com D. Filipa de Lencastre, em Fevereiro de 1387, narrado por Fernão
Lopes, na Crónica de D. João I, II parte. Também o de D. Duarte,
em 16 de Fevereiro de 1428, com D. Leonor, irmã de Afonso V de Aragão, é
contado pelo infante D. Henrique, numa missiva enviada a seu pai.
Conhecidos ficaram também os casamentos
do Infante D. Fernando, filho de D. Duarte com D. Beatriz, filha do
Infante D. João e de D. Isabel, esta filha do 1.º duque de Bragança e
8.º conde de Barcelos, D, Afonso, bastardo de D. João I; de D. Afonso V,
a filha do regente D. Pedro e de D. Isabel de Urgel, com o rei D. Afonso
V; o enlace de D. João II com D. Leonor, filha de D. Fernando, neta de
D. Duarte; e o celebérrimo matrimónio de D. Manuel I, com as suas três
mulheres, sobretudo com a primeira, D. Isabel, viúva do Infante D.
Afonso, filho de D. João II. A noiva era filha de Fernando II de Aragão
e de Isabel I de Castela (24).
No seio das classes mais prestigiadas, os
filhos e, sobretudo, as filhas, encontram-se à mercê do poder e da
riqueza. O sucesso ou insucesso do casamento de uma filha podia, ou não,
inviabilizar o negócio do casamento das restantes irmãs. A família
mancharia a sua honra e prestígio. Um casamento mal resolvido era o
suficiente para prejudicar economicamente uma família inteira. Um
matrimónio deste tipo, por exemplo, seria o de uma donzela que se
fizesse desposar clandestinamente por um indivíduo de classe inferior,
que não possuísse bens próprios, nem trouxesse quaisquer vantagens
materiais à família da noiva. Daí a importância de um consórcio “bem
visto”, isto é, uma união que acumulasse privilégios nas famílias de
ambos os Cônjuges.
A par da importância que revestia o
interesse monetário, a honra e o prestígio social eram tão ou mais
relevantes. Uma vez denegrido o bom nome da família, isso
reflectir-se-ia em todos os aspectos.
Durante a alta Idade Média, a ascensão
social não era muito comum, mas com o incremento do urbanismo e o
crescente desenvolvimento das actividades mesteirais e mercantis, uma
outra classe começa a ganhar protagonismo. É a burguesia, o homem do
burgo, que beneficia da dispersão das propriedades da nobreza e da perda
de importância da propriedade feudal, em prol de uma economia monetária
cada vez mais influente. Assim, estava aberto o caminho para a união
destas duas classes, pelo interesse de uma e a necessidade da outra. Por
um lado, à burguesia interessava a posse de um título, pelo prestígio
que lhe era inerente. Passava a ser aceite no seio da restrita elite que
era a nobreza, com o sentimento que pertenceria a um grupo, e via
fomentada a sua dignidade e consciência de linhagem (25) Esta, por outro
lado, tirava proveito do grande poderio económico dos burgueses, tanto
para manterem as suas propriedades rurais como o seu nível de vida. O
casamento era o meio de efectuar o presente negócio. A união dos
nubentes era uma forma legítima de ascensão social, normalmente a mais
fácil para concretizar esse objectivo. O mais comum seria o enlace dos
filhos primogénitos de cada uma das famílias, verificando-se que, entre
os filhos segundos, a norma era o ingresso numa vida religiosa ou bélica
(sendo homens). Questionamos até que ponto seriam estes casamentos
vistos com bons olhos pelas classes cimeiras? Não seriam estes
consórcios para a nobreza um símbolo da sua decadência? Como esperavam
manter a sua “pureza” de sangue, quando se misturavam com outros de uma
classe social mais baixa?
É um acto contraditório, mas cada vez
mais usual na sociedade da baixa Idade Média.
Um dos grandes limitadores do casamento
será o impedimento de serem nubentes a escolherem o seu parceiro. Como
já vimos anteriormente, eram as famílias quem, na maioria dos casos,
determinava e impunha a sua vontade, consoante o que mais lhes convinha:
“a realização do matrimónio encontrava-se dependente da autorização
concedida pelos pais ou pelos parentes, conforme estava previsto no
direito medieval” (26)
Um outro condicionalismo que não pode ser
ignorado é o da natureza social. Com efeito, “os preconceitos de casa
são mais fortes do que o Evangelho” (27). Era raro ainda uma mulher
nobre casar com um vilão (casamento hipergâmico). Até porque isso seria
contra a preservação da “pureza” na nobreza da sua altivez, e do seu
prestígio. São inúmeras as cartas de privilégios dos séculos XIV e XV
que mantêm na pessoa da viúva os privilégios que o seu marido detinha em
vida. Mas só “emquamto mantiuesse sua homrra”. Caso voltasse a casar,
perdia-os e, naturalmente, vivia sob o estatuto que detivesse o actual
marido.
Por outro lado, um homem que seja vassalo
de um senhor, pelo respeito que lhe deve e principalmente devido à sua
inferior condição social, fica impossibilitado de desposar uma mulher da
casa desse senhor, sem o consentimento deste, como o atesta a lei de D.
Dinis: “Estabelleço./ E ponho por ley pêra senpre que todo homem que
viuer co Senhor por solldada de quem quer ou a bem-fazer seendo seu
gouernado ou seu manteudo por seu E se casar com filha ou com Jrmaam ou
prima com-Jrmaam ou com segunda com-Jrmaam ou com madre ou com filha de
cada huum destes ou com segunda com-Jrmaam de seu Senhor ou de sa molher
que tenha em sa casa./ ou com criada ou com mançeba que more por
solldada ou sem solldada casar com ella sem grado de seu Senhor que
moyra porem.. E esta meesma pena aja aquell que jouuer com cada huã das
sobreditas aJnda que com ella nom case./ E esto se entenda tam bem nos
filhos dallgo como hos villaãos” (28).
A Igreja também levanta barreiras à
liberdade do casamento. Ainda que com restrições, acaba por aceitar a
liberdade de escolha dos servos quanto ao seu casamento, mesmo que
fossem contra a autorização dos seus amos. Esta renitência da parte da
Igreja encontra fundamento num preceito bíblico, a primeira Epístola de
Pedro (2,18): “Servos, sede submissos aos vossos senhores […] Pois é
uma graça suportar, por respeito a deus, penas que se sofrem
injustamente”(29). Assim, uma fez que o servo tinha o mesmo estatuto
que uma “coisa”, que era propriedade de um senhor… não se justifica que
contraia matrimónio por sua vontade. O Direito Canónico é menos severo
que o Direito Romano e o Direito do Reino, para com certas situações
praticadas por eles. Mas. no que diz respeito ao casamento com infiéis,
isto é, com seres de religiões que não a cristã, a situação podia vir a
ser punida com a fogueira.
Um outro obstáculo se levanta contra a
realização do casamento, não menos importante, tanto social como
legalmente. O Direito da Igreja proíbe o matrimónio até ao 7.º grau de
parentesco. Uma das principais razões que obstaram à prática dos
casamentos, consistia na existência de “laços de parentesco demasiado
aproximados. Sabido é que a Igreja proibia a realização de consórcios
que não fossem além do 7.º grau, salvo o caso da dispensa, a qual,
sobretudo nos mais próximos graus, não era fácil de a obter” (30).
Não era tolerado que o matrimónio unisse parentes muito próximos, quer
fossem ascendentes, descendentes ou ainda colaterais imediatos, pois
poderiam dar origem a relações incestuosas (31). O incesto era, nesta
época, mais vulgarizado do que actualmente, pois era encarado,
especialmente nas classes mais baixas da sociedade, com relativa
normalidade. Considerava-se incesto não só as relações carnais entre
irmãos, mas também entre parentes bastante próximos. Entre os mais
humildes, era difícil a deslocação a outros sítios em busca de
companheiro, pois a distância entre aldeias poderia ser considerável e
também os impostos cobrados pelas locomoções eram demasiado elevados.
Por isso, viam-se quase obrigados a contrair casamentos endogâmicos
(consórcios efectuados dentro do mesmo grupo familiar ou local).
Igualmente, era complicado não existirem matrimónios ilegítimos entre os
aristocratas, já que esta tinha de casar com elementos da mesma
categoria social, para manter os bens dentro da família (32). Com ambas
as situações estava favorecido o incesto e as relações entre parentes.
Isto coloca a problemática da ilegalidade/validade dos casamentos,
problema este que abordaremos adiante.
Por vezes, acontecia nobres e senhores
coagirem viúvas e herdeiras a casarem com quem achavam por bem que elas
devessem casar, o que originava muitos abusos. Até D. João I “chegou
a cometer a violência inaudita de casar damas e homens de sua casa sem
lhes comunicar o facto, a não ser de véspera! Certo da alta discrição e
entendimento das mulheres que assim forçava ao matrimónio, nem sequer
lhes revelou o nome do futuro marido que só conheceram na ocasião do
próprio acto. ‘Manda-vos dizer el-Rei que vos façais prestes para
esposar de Manhã’ […] Depois ‘em outro dia levou el-Rei consigo os
noivos à câmara da Rainha e ali disse a cada um aquela que recebesse, a
cujo mandado não houve contradição’» (33)
Estes são alguns de entre variados
limitadores do casamento, os que se verificavam com maior incidência, e
por nós considerados os mais relevantes.
Mas voltemos às tipologias de casamentos.
O casamento de bênçãos era o legítimo,
celebrado, como já verificámos, com mais formalidade, maior aparato, ou
seja, com toda a pompa e circunstância. Tem lugar na Igreja ou à porta
dela – in facie ecclesiae -, acompanhado de graça sacramental e
respeitava a tradição e o costume comum neste tipo de casamento. Os
noivos caminhavam em direcção ao altar com a permissiva dos familiares,
e acompanhantes pela presença marcante da Igreja (34). “Um clérigo
[…] recebia os cônjuges e abençoava a união” (35). Com isto
publicita esse tipo de matrimónio, em detrimento dos outros dois que
focaremos de seguida. Segundo Henri Bresc, “A obrigatoriedade da
celebração do matrimónio in faciam Ecclesiae tornou pública a cerimónia
que funda a família, contribuiu para instituir o casal, ao cristalizar
os ritos do anel e da entrega das compensações, não deixando outra
consagração privada do acto matrimonial senão o banquete, cujas leis
sumptuárias das actividades políticas contribuem para limitar o fausto”(36).
Assim, mesmo as celebrações privadas eram delimitadas pela lei; vemos,
por isso, um aumento da importância da Igreja ao dominar todos os passos
da cerimónia.
O casamento de juras era tido como um
casamento clandestino e tomava lugar no maior secretismo, normalmente,
havendo desacordo entre os noivos e os pais. No foro jurídico, não se
verificavam diferenças entre este casamento e o de bênção, pois ambos
eram válidos. Na ideia de Paulo Marêa, esta união era reprovada pela
Igreja, sofrendo sanções canónicas e não ostentando o mesmo prestígio
social (37). Não obstante, Marina Martinez reconhece que a igreja admite
a indissolubilidade de laços matrimoniais clandestinos. Claro que esta
forma de contrair matrimónio era antagónica à de bênção, primando pela
simplicidade, ainda que pontualmente pudesse ser assistida por um
clérigo (38). Esta era a forma de contrair matrimónio mais utilizada,
dado que o livre acordo e promessa de fidelidade dos nubentes bastavam
para a efectivar; havia só que pronunciar as palavras de presente
e o acto estava consumado após a cópula (40). Diga-se que seria uma
espécie de casamento médio entre o de bênção e o que caracterizamos a
seguir, em que o mútuo consentimento dos contraentes era firmado com
juramento perante qualquer ministro de culto (in manu clerici),
uma vez que se não dava o sacramento, como o refere Herculano.
O casamento de Pública Fama – ou
conhuçudo-, assemelha-se à relação que a sociedade actual designa
como união de facto. Era situação frequente um homem e uma mulher
partilharem uma vida comum, coabitando no mesmo espaço, e adoptando uma
vida de casados ainda que não tivessem participado em qualquer
cerimónia, independentemente do seu carácter. Quanto ao aspecto
jurídico, D. Afonso III publicou a seguinte lei: “Os casamentos todos se
podem fazer por aquelas palavras que a santa eygreia manda atando que
seiam taes que possam casar sem pecado. E todo o casamento que possa ser
provado quer Seia a furto quer conhoçudamente valerá se os que assy
cassarem foren didade compryda como he de costume”. D. Dinis ourtorgava,
anos mais tarde: “Costume he desy he dereito que se huum homem viuy
com hua molher E manteem casa anbos desuum per sete anos continoadamente
chamando-se anbos marido E molher se fazem anbos conpras ou vendas ou
enprazamentos. / E se poserem em elles nos stormentos ou cartas que
fezerem marido E molher E em-na auizijndade os ouuerem por marido E
molher nom podem nehuum delles negar o casamento E ave-llos-am por
marido E molher aJnda que nom seJom casados em face da egreJa” (41).
Assim eram aceites como casados pela Sociedade.
Posto isto, vemos que segundo o costume,
se um homem e uma mulher vivessem juntos continuadamente durante sete
anos, na mesma casa, considerando-se um casal, e se a vizinhança o
confirmar, seriam considerados legalmente marido e mulher, tanto aos
olhos do direito jurídico como do canónico. Com efeito, a Igreja
aceitava este tipo de consórcio como indissolúvel e legítimo. Esta união
admitia, no campo material, uma partilha dos bens entre o casal e era,
na sua essência, um casamento clandestino tornado público; para isto,
apresentar-se-iam as testemunhas na altura escolhida (42). Como o
casamento de juras, também o de pública fama se efectuava do
mesmo modo, pronunciando palavras de presente, que bastavam para
legitimar a união. O que importava era o livre acordo e a aliança entre
os esposos.
O Casamento de Rapto, segundo
Baquero Moreno, era usual, tendo em vista a obtenção da mulher
pretendida; contudo, esta prática ia contra o direito. As penas tendiam
a ser de relevante severidade, sendo o réu igualado a um assassino,
ficando assim sujeito à pena de morte, ainda que, ulteriormente, o
condenado restituísse a jovem à família de origem (43).
Na prática deste acto, encontramos
sobretudo jovens que, não tendo permissão para casar, eram obrigados a
“raptar” as suas noivas, para se casarem longe da sua aldeia de origem.
Obviamente, as noivas não eram, pelo menos na grande maioria dos casos,
forçadas a fugir indo, mas de livre vontade.
Podemos encontrar, como exemplo, uma
descrição feita nos Livros de Linhagem, acerca de amores
incestuosos, seguidos de rapto e, consequentemente, de ligação carnal
(44). |
|
 |
|
5. O casamento era, a priori, um
compromisso civil que, só ulteriormente, será revestido de um cariz
religioso. De acordo com o direito romano, o casamento realiza-se na sua
forma mais singela: tratava-se somente de um “acordo entre duas
partes, solenizado ou não por rituais religiosos” (45).
Na Roma primitiva, constitui-se em dois
tempos, o noivado e o casamento, mas não perde a sua extrema
simplicidade, concretizando-se apenas “através de um anel de ferro
que nada tem a ver com as ‘arrhes’ despendidas nos casamentos judaico e
germânico” (46).
Segundo o direito germânico, em oposição,
há uma divisão entre dois tipos de consórcios. No primeiro, que Michel
Sot denomina de verdadeiro casamento, o noivo recebe da parentela
a mão da futura esposa, estando mais uma vez presente o carácter
material do acordo matrimonial. Em troca da sua mão, o marido entrega as
arras à família da rapariga. Este ritual era praticado publicamente e
com a respectiva cerimónia. O outro tipo de casamento germânico,
igualmente aceite perante a lei, não abrangia a entrega de quaisquer
bens, pois que era próprio dos mais humildes. Seria uma união mais
frouxa, chamada Friedelehe, o casamento por afeição. Trata-se de
um “concubinato honroso” que se efectua sem nenhuma cerimónia oficial
nem intervenção dos pais. Realiza-se através do acordo entre os esposos
ou por rapto da rapariga, e os filhos que dela nasçam não são legítimos
(47).
De entre estes, o direito romano vingou
durante a Idade Média, embora se mantivesse acesa no seio da Igreja a
discussão sobre qual deles deveria perdurar. Em Portugal,
generalizaram-se as práticas romanas, uma vez que tradição por cá era
mais forte e também porque era revestido de um carácter mais simplório.
Contudo, os reis continuaram a legislar sobre o casamento, seguindo ou
inovando, conforme a evolução das mentalidades. |
|
 |
|
6. Na sociedade medieval portuguesa, o
casamento civil era primordial, realizava-se independentemente de
qualquer cerimónia religiosa. Cerca do século XI, com o crescente
domínio do Cristianismo, os canonistas debruçar-se-iam, entre outros
aspectos, sobre o casamento. Estes definiriam o seu carácter único e
indissolúvel que ainda hoje conhecemos.
Tentaremos por ora esclarecer qual a
função da Igreja, tendo influenciado a legitimidade do matrimónio, como
opinando sobre a cerimónia em si.
Em primeiro lugar, a Igreja confrontou-se
com a questão da sacralidade do casamento, sendo este, temporalmente, o
mais antigo dos sacramentos. A sua antiguidade remonta ao Antigo
Testamento, onde nos é dado a conhecer o enlace de Adão e Eva, A União
entre dois seres seria indestrutível, e uma vez mais, perene. O
consórcio actuava como ligação entre os cônjuges e Deus, integrando-os
numa perspectiva triangular, pois intervinham igualitariamente Deus, o
homem e a mulher (48).
No caso da Igreja, a teoria foge à
prática. A Cristandade tolerava mas não aceitava os casamentos
diferentes dos de bênção, isto é, os de juras e de pública fama. Tentou,
incessantemente, alterar esta situação, sacralizando uma cerimónia e
dando-lhe uma legitimidade religiosa. Aos olhos da Igreja, o único e
verdadeiro matrimónio seria o de bênção, pois era o que cumpria todas as
suas exigências e que agradava realmente a Deus. Para isto, condenava
moralmente os casamentos clandestinos e os de maridos conhuçudos.
O de juras era mesmo canonicamente censurado e os seus intervenientes
moralmente condenados (49). Algo de semelhante acontecia em relação ao
concubinato ou barreganice dos solteiros, embora este tipo de
união não fosse reconhecido pela Igreja e não tivesse sequer o estatuto
de matrimónio (49).
Dentro do foro religioso, e
tratado legalmente no seu seio, surgem os casamentos dos clérigos. Ao
contrário do que poderíamos pensar, este tipo de consórcio era
relativamente comum na época. Muitas vezes os sacerdotes casavam, tinham
filhos e estes ainda herdavam os bens móveis e até a Igreja. Claro que,
com a instituição do celibato, os membros do clero viram o seu casamento
proibido (desde 1139, definitivamente). Esta imposição foi mal acatada
pelos clérigos latinos, que ignoram esta decisão e continuam a praticar
em grande número o concubinato (50). Obviamente que existiriam as
excepções, as ditas imunidades eclesiásticas, desde que os padres se
unissem a uma mulher virgem e não fossem bígamos. Igualmente, existiam
normas quanto ao vestuário apropriado que um clérigo casado deveria
indumentar (51). Perguntamo-nos, então, onde encaixaria a coerência da
Santa Sé, que proibia, por um lado, e tolerava por outro.
Outro dos pragmatismos da Igreja em
relação ao matrimónio, era a admissão para os conventos de homens livres
e maiores de idade, pois um jovem de doze anos não possuía a
desenvoltura necessária. Interroga-se então como é que jovens desta
idade eram obrigados a casar tão novos? Se não tinham idade suficiente
para serem monges, como possuiriam maturidade para desposar alguém e
manter indissolúvel este consórcio? (52). |
|
 |
|
7. Concluamos. Demonstrámos a
complexidade do casamento nas suas diversas formas, analisando variadas
vertentes com o objectivo de criar uma visão, tão global e completa
quanto possível do casamento. Com este propósito, podemos agora concluir
que o casamento se define como um contrato entre duas partes, baseado no
livre-arbítrio e na ausência de impedimentos legais. Isto na teoria; na
prática, era visto de uma forma bastante antagónica.
Com efeito, na maioria das vezes, os
matrimónios eram “arranjados ainda em tenra idade, tendo em vista os
interesses das famílias envolvidas no contrato. Obviamente, uma criança
com a idade de doze anos – a que era sugerida pela Igreja para casar –
não teria maturidade nem a consciência necessárias para ser desposada
ou, por outro lado, para se recusar a contrair matrimónio. A Igreja
difundira ainda a ideia de que um ser do sexo feminino que,
eventualmente, casasse com um rapaz mais velho que com ela vivesse,
viesse a sofrer, física e mentalmente, com a cópula carnal com que o
marido consumasse a união.
Antecedendo a cerimónia, várias tradições
eram levadas a cabo: os esponsais e a entrega dos dotes ou das arras. No
fundo, simbolizavam a compra do corpo da mulher por parte do futuro
marido e, como convinha crer-se que a mulher não tinha qualquer prazer
nas relações sexuais, ela tornava-se um mero objecto da satisfação
física e fisiológica do marido e tinha a finalidade da procriação.
Sabia-se, embora fosse proibitivo em qualquer circunstância dizê-lo, que
a poligamia era inerente ao ser humano e que o homem e a mulher só se
casavam com um elemento do sexo oposto uma vez, em cada vez, por
costume, pela lei da Igreja e por imposição da Sociedade. Começava-se a
não dar importância ao comportamento do homem e a penalizar-se
ferozmente a mulher que, quando casada, cometesse adultério. Afonso IV
legisla, então, como outros já o haviam feito e o fizeram de futuro,
provando-o e prevenindo: “Porque he dito que alguuns leixam ssuas
molheres com que ssom casados. E uaão-sse pêra as barregans E teem essas
barregaans pubricamente de que sse ssegue maao enxenpro E deserujço de
deus E delo Rey “.
No que diz respeito à celebração do
consórcio propriamente dita, ela era praticada, exclusivamente, pelos
membros da alta e média nobrezas, pois eram aqueles que tinham mais
posses. Aos humildes, restava contentarem-se com uma simples troca de
palavras (de futuro), talvez mais sinceras e sentidas.
Vemo-nos chegados aos aspectos sociais do
casamento, quiçá a parte mais importante em nossa opinião. Isto leva-nos
ao ponto crucial da questão que consiste no sucesso ou insucesso do
matrimónio a nível social. É neste ponto que o matrimónio interfere mais
na sociedade. Constatámos que ele se revestia de uma importância
plenamente superficial, dado que importa tão-só para a honra, o
prestígio e ascensão social da parentela. Aos olhos de hoje, isso poderá
parecer o factor menos significativo. Cremos que até nem seja assim: uma
casamento rico é sempre mais visado que um rico casamento. Até
pormenores raciais podem importar. A beleza física é mais um elemento
valorativo e a atender, dado que causa uma ‘inata’ atracção. Mas, à luz
da sociedade medieval, a honra de uma família, a qual passava pela
riqueza material, era indispensável para o seu sucesso. Um casamento
“malfeito” poderia arruinar toda a estrutura familiar. Por outro lado,
também a ambição e o desejo do Poder levavam à combinação de casamentos
entre famílias nobres e burguesas, nos tempos finais da medievalidade.
As duas sairiam beneficiadas e o casamento era a forma ideal de executar
o negócio: a parte nobre da família adquiria dinheiro; a burguesa,
nobilitava-se.
Para que um casamento fosse válido, havia
que obedecer a um conjunto de regras espirituais e jurídicas, O seu não
cumprimento implicaria sanções e em alguns casos, anulação do casamento.
Assim, observa-se que o maior impedimento, paradoxalmente à própria
definição do matrimónio, era o facto de os nubentes não terem liberdade
quanto à escolha do seu parceiro. De seguida, surgem as condicionantes
de ordem social, que registam a proibição de uniões entre membros de
diferentes classes sociais, preservando assim a pureza de casta dos
aristocratas. No fundo, não havia lugar as misturas. Outra grande
limitação, desta vez imposta pelo direito canónico, estabelece que o
consórcio não poderia ser realizado entre parentes com consanguinidade
até ao 7.º grau. Só mais tarde, a Igreja rectificou e restabeleceu o
parentesco no 4.º grau, dando maior ênfase à proibição de uniões entre
irmãos – o incesto. Outra curiosidade, igualmente limitadora, é a
intervenção dos senhores e do próprio monarca, impondo a escolha aos
seus escudeiros, viúvas e donzelas da corte, tendo ficado célebre a
atitude tomada por D. João I neste caso último. O princípio publicado
nas Ordenações Afonsinas, refere explicitamente “porque os
matromonyos deuem seer liures E os que som per prema nom ham boa cima.
Porem estabelleçemos que nem nos nem os nosos soçesores nom costrangam
nem-huum pêra fazer matrimonyo”. Também compadres – padrinhos e
madrinhas dos filhos de algum ou alguma -, não podiam casar-se com
estes, quando viúvos, nem em outra circunstância alguma. Relembre-se a
oposição de alguns historiadores à afirmação de D. Pedro I que, segundo
dizia, se havia casado com D. Inês de Castro, mesmo depois de viúvo,
sendo ela madrinha de seu filho.
Vimos os diferentes tipos de casamentos,
sendo eles: o de bênçãos, de juras e pública fama. O primeiro era o mais
solene, realizado no templo, com a presença de sacerdote e testemunhas.
O clandestino ou de juras revestia-se de um carácter menos solene, dado
que era feito na intimidade dos nubentes, muitas vezes nas suas próprias
casas. Igualmente, como o nome indica, efectuava-se em segredo e,
normalmente, não contavam com a presença de um clérigo. O casamento de
pública fama (ou “conhuçudo”), ou a “união de facto medieval” que se
verificava quando um casal que vivia na mesma casa, partilhando bens e
gerindo uma vida e, comum, era considerado pela vizinhança maridos
conhuçudos, ou seja, admitidos perante todos e pelo direito civil,
como marido e mulher, desde que estes vivessem maritalmente sete anos
seguidos e tendo feito negócios juntos (compras, vendas, trocas…). O
rapto não era em si próprio uma forma de casamento, mas um meio para
tal. Como o in facie ecclesiae, ou o de bênçãos, o casal que não
havia recebido permissão dos pais ou tutores para casarem, irrompiam
pela Igreja à hora da missa, tocavam palavras de presente, alto e bom
som (- caso contigo, diziam um ao outro), na altura da bênção dos
presentes e à vista de todos que ficavam como testemunhas, fugindo de
seguida.
Mas, afinal, quem regulamentava sobre o
casamento? Quem detinha autoridade em última instância? A Coroa ou a
Igreja? Numa sociedade marcadamente católica, o “Estado” andava “de mão
dada” com a santa Sé, sendo incontestável o poder que esta detinha no
Velho Continente. Não é por isso tarefa fácil conceptualizar o casamento
enquanto acto civil puramente civil ou religioso. No entanto, é a Igreja
a grande teorizadora desta celebração, acabando esta por tornar-se a
principal fonte do Direito. Perante uma atitude intolerante por parte da
Igreja quando confrontada com outros tipos de uniões que não a de
bênção, não restava outra alternativa ao Rei senão acatar “a vontade
vinda de Deus”. Logo tal e enquanto tal, iniciou a sua missão
legislativa no Cristianismo primitivo, e era, então, a autoridade, a
Igreja a quem competia gradualmente solidificar o seu poder e incutir
cada vez mais as suas opiniões no seio das mentalidades. O Poder Civil,
só mais tardiamente, se batia em prol das uniões de facto e pouco mais.
No limite, a ligação temporal com a espiritual ia-se estreitando, sem
que para o historiador seja fácil discernir o que, na realidade,
acontecia.
Os sentimentos também ocupavam lugar. O
amor entre o casal era maioritariamente resultante da comunhão de uma
vida a dois e não obrigatoriamente alicerce de um casamento. Seria,
pois, agradável como suporte, fruto do acaso e do esforço proveniente da
convivência no dia-a-dia dos cônjuges. Não sendo contudo imã condição
sine qua non para uma vida feliz para o casal. Nem todos os
casamentos na Idade Média seriam isentos de amor, a infelicidade não
reinaria dentro de todos os lares, como nos comprovam fontes da época.
Inclusive, a instituição do casamento entre crianças – o que
poderia provocar nas noivas um efeito repulsivo – vinha, por outro lado
permitir ao futuro casal a possibilidade de se conhecerem e virem a
gostar um do outro desde tenra idade. Ou a odiarem-se um ao outro.
O amor veste-se de diferentes formas, nos
variados compassos do tempo. Na Idade Média era sobretudo um amor
cortês, amigo, de respeito e cordialidade… uma mais-valia que deveria
existir nas relações entre todos os casados. Nem sequer se fala de
paixão, pois essa toldaria a razão e faria imperar um desejo que, mais
tarde ou mais cedo, se tornaria insustentável!
O casamento valeria por aquilo que
produzisse e nunca pela sua essência específica. Não importava o ardor
da paixão, nem um sentimento que fosse assim assim… interessava que
perdurasse e desse frutos.
O casamento seria eterno, se eterno o
tempo fosse. |
|
 |
|
ANEXOS
I
“Toda a cidade era ocupada em desvairados cuidados desta festa. E tudo
prestes pêra aquele dia, partiu-se El-rei (1) à quarta-feira donde
pousava, e foi-se aos Paços do Bispo, onde estava a Infanta (2). E à
quinta-feira foram as gentes da cidade juntas em desvairados bandos de
jogos e danças por toda-las partes e praças, com muitos trabalhos e
prazeres que faziam. |
|
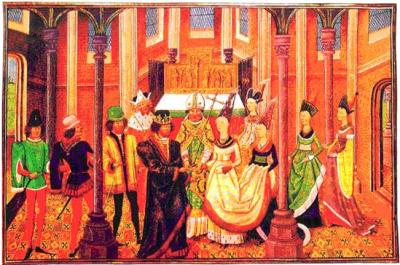 |
|
As
principais ruas per u esta festa havia de ser todas semeadas de
desvairadas verduras e cheiros. E El-rei saiu daqueles paços em cima de
um cavalo branco, em panos de ouro realmente vestido; e a Rainha, outro
tal, mui nobremente guarnida. Levavam nas cabeças coroas de ouro
ricamente obradas de pedras de aljôfar de grande preço, não indo
arredados um do outro, mas ambos a igual. Os moços dos cavalos levavam
as mais honradas pessoas que aí eram e todos a pé mui bem corrigidos. E
o arcebispo (3) levava a Rainha da rédea. Diante iam pipas e trombetas e
doutros instrumentos que não podiam ouvir. Donas filhas de algo e isso
mesmo da cidade cantavam indo detrás, como é costume de bodas. A gente
era tanta que se não podiam reger nem ordenar, por o espaço que era
pequeno dos paços à igreja. E assim chegaram à porta da Sé, que dali mui
perto, onde D. Rodrigo, bispo da cidade, já estava festivamente em
pontifical revestido, esperando com a clerezia. O qual os tomou pelas
mãos e demoveu a dizer aquelas palavras que a Santa Igreja manda que se
digam em tal sacramento (4). Então, disse missa e pregação: e acabado
seu ofício, tornaram El-Rei e a Rainha aos paços donde partiram, com
semelhante festa, u haviam de comer. As mesas estavam já muito guarnidas
e tudo o que lhes cumpria; não somente onde os noivos haviam de estar,
mas aqueles u era ordenado de comerem bispos e outras honradas pessoas
de fidalgos e burgueses do lugar e donas e donzelas do paço e da cidade.
E o mestre-sala da boda era Nun’Álvares Pereira, Condestável de
Portugal; servidores de toalha e copa e doutros ofícios eram grandes
fidalgos e cavaleiros, onde houve assas de iguarias de desvairadas
maneiras de manjares. Enquanto o espaço de comer durou, faziam jogos à
vista de todos homens que o sabiam fazer, assim de mensas e salto real e
outras coisas de sabor; as quais acabadas, alçaram-se todos e começaram
de dançar, e as donas em bando cantando a redor com grande prazer.
El-rei se foi entanto pêra sua câmara; e depois da ceia, ao serão, o
Arcebispo e outros prelados, com muitas tochas acesas, lhe benzeram a
cama daquelas bênçãos que a Igreja pêra tal acto ordenou. E ficando
El-rei com sua mulher, foram-se os outros pêra suas pousadas” (A. H. de
Oliveira Marques. Op. cit., pp. 131-132). |
|
 |
|
II |
|
 |
|
Também o casamento de D. Duarte, a 16 de Fevereiro de 1428, com
Dona Leonor, irmã de Afonso V de Aragão, é contado pelo Infante D.
Henrique, numa missiva enviada a seu pai:
“E
terça-feira à noite foi determinado que se fizesse o casamento à
quarta-feira. E a maneira como se fez, com a vossa bênção que lançastes
ao Infante meu senhor (5) em esta primeira noite, o corregimento era por
esta guisa: um grande pedaço da crasta de Santa Clara per onde havia de
ir a Senhora Infanta (6) era emparamentado e estrado com tapetes, e à
porta da Igreja, que é dentro no coro das freiras, estava um pano rico
de brocado carmezim que cobria o lugar onde haviam de ser bênçãos; e
atravessaram toda a igreja o armamento dos panos assim como per rua; ia
assim por uma escada acima até o coro onde jaz a Rainha Dona Isabel; e
todo este caminho era assim emparamentado e estrado de tapetes e o coro
era todo emparamentado de panos de rãs, assim da parte da igreja como da
parte de fora e estrado todo de tapetes desde o altar, e passava por sob
o taimbo e ia até à parede e era de dez panos ancho, um pano de setim
aveludado azul estrado por cima dos tapetes; e o frontal e o sobrecéu do
altar era de brocado carmesim assás de rico, e a cobertura do tambo e de
um céu que estava em cima era também de bocados carmesins bem ricos. O
cabeçal em que haviam de pôr os joelhos era todo de ouro tecido sem
outros lavores, e o altar estava assas de bem guarnido de prata, assim
da vossa como de outra de cá, e o bispo fazia o oficio com vossa mitra e
bago, assim que tudo, a Deus graças, estava tudo corregido. E a Infanta
estava no Cabido e o Infante meu Senhor veio de sua casa em cima de uma
faca, bem guarnido e uma opa bem rica vestida, e a sua esmeralda por
firma, e o meu irmão o Infante D. Pedro (7) e o Infante D. Fernando (8)
iam de sua parte, e eu (9) e o conde meu irmão (10) íamos da outra, de
pé, e assim outros muitos fidalgos. E fomos assim até à porta e aí
desceu o Infante e foi de pé até o coro, e esteve aí com ele o Infante
D. Fernando e o conde, e o Infante D. Pedro e eu fomos pela Infanta e
trouxemo-la onde se fizeram as bênçãos; e o Infante meu senhor chegou e
o chantre de Évora fez um auto pequeno e dês aí receberam-nos e fez-se o
ofício. A Infanta ia vestida bem ricamente. As tochas levaram-nas D.
Fernando (11) e D. Sancho (12) e D. Duarte (13) e D. Fernando de Castro
(14) e dos mores senhores mancebos que aí havia. E a missa foi rezada
porende com o diácono e o subdiácono e feito tudo em pontifical como se
fosse cantado; e à oferta foram duzentas dobras. E em fim do ofício, a
Infanta estava tão cansada pela opa que era muito pesada, e pelo
esquentamento da gente daqueles bons que aí estavam e das tochas, que
era grande, que quando a quisermos levar esmoreceu. E lançámos-lhe água
e acordou. E dês aí foram-se todo e ficaram as mulheres. O padrinho foi
o Conde (15) e a madrinha a Condessa (16). E as fraldas lhe levava D.
Guiomar (17). O infante se tornou pela ordenança como veio e quando veio
a noite fomos pela Infanta ao mosteiro, porque ela comera lá, que
parecia que casara da casa da rainha D. Isabel e assim foi de Aragão; e
todos entendemos que pela santidade da dita rainha D. Isabel foi feito
tanto bem e honradamente de sua casa. E a Infanta veio cavalgar e
tivemos as tábuas meu irmão, o Infante D. Pedro, e eu, e fomos de pé
ambos e o Infante D. Fernando e o conde e todos os outros fidalgos até
sua casa. E ela ia em uma faca ruça pomba e os guarnimentos de ouro que
a Vossa Mercê viu que lho Infante enviou; e iam umas sessenta tochas que
levavam escudeiros; e depois ela vinha de pé a Condessa e D. Isabel de
Ataíde e outras donas e donzelas. E depois que ficou na câmara dançámos
e cantámos um pedaço no paço e o Infante veio e tinha seu estado e seu
pano de estrado. E a sala toda emparamentada. E foi servido de vinho e
fruita por nós outros: O Infante D. Pedro levava o pano, e eu o
confeiteiro, e o Infante D. Fermando a fruita, e o Conde o vinho; e
depois que bebeu despedimo-nos dele e viemo-nos para nossas casas. E ao
acabamento da feitura desta carta entendo que havia já pedaço que a
senhora Infanta era compridamente vossa filha” (A. H. de Oliveira
Marques, op. cit., pp. 132 e 133.
Notas
(1)
D. João I,
rei de Portugal desde as Cortes de Coimbra de 1385, casou com D. Filipa
de Lencastre, filha de João de Gaunt, duque de Lencastre, em 1387.
(2)
D. Filipa de
Lencastre.
(3)
O arcebispo
era D. João Garcia.
(4)
Casamento de
bênçãos, por palavras de presente, na presença de testemunhas.
(5)
Infante D.
Duarte, presumível sucessor de D. João I, que, em 1428, casou com D.
Leonor de Aragão.
(6)
D. Leonor de
Aragão, filha de Fernando I, rei de Aragão, falecido em 1416 e irmã dos
reis de Aragão Afonso V (r. 1416) e João II (r. 1458). D. Sancho de
Noronha, Conde de Odemira, juntamente com seus irmãos, o arcebispo de
Lisboa, D. Pedro de Noronha e D. Fernando de Noronha, conde de Vila Real
e camareiro-mor de D. Duarte, acompanhou D. Leonor, na sua viagem para
Portugal, onde ia encontrar-se com D. Duarte. D. Sancho de Noronha casou
com D. Mécia de Sousa
(7)
D. Pedro,
filho de D. João I, o segundo na linha da sucessão, que, após a morte de
D. Duarte, ocorrida em 1438, veio a ser Regente do Reino, durante a
menoridade de D. Afonso V, filho do falecido rei de Portugal e de Leonor
de Aragão, referida acima.
(8)
O Infante
que havia de vir a falecer em Fez, após o desastre militar da Praça de
Tânger, onde acabou por ficar como refém.
(9)
Fala o
Infante D. Henrique, pela voz de Fernão Lopes, cronista-mor do Reino e
guarda-mor da Torre do Tombo.
(10)
Trata-se de
D. Afonso, bastardo de D. João I, 8.º Conde de Barcelos e depois de
1442, 1.º duque de Bragança.
(11) D.
Fernando de Noronha, genro de D. Pedro de Meneses, Conde de Vila Real e
capitão-mor de Ceuta,
(12) D.
Sancho de Noronha, irmão do anterior. Era filho de Afonso, conde de
Noroña e Gijon, bastardo de Henrique II de Castela e de Isabel, filha
ilegítima do rei D. Fernando de Portugal. Foi Conde de Odemira.
(13) Deve
tratar-se de D. Duarte de Huelxira, cavaleiro da casa do rei.
(14) D.
Fernando de Castro, governador da casa do Infante D. Henrique e
alcaide-mor da Covilhã fora casado com D. Isabel de Ataíde, filha de
Martim Gonçalves de Ataíde.
(15) D.
Fernando, conde de Arraiolos, filho de D. Afonso, meio-irmão de D.
Duarte.
(16)
A condessa
era D. Joana de Castro, condessa de Arraiolos.
(17) D.
Guiomar de Menezes, neta de D. Pedro de Menezes, filha de D, Inês de
Menezes e de Gonçalo Nunes Barreto, 1.º Senhor do morgado de Quarteira. |
|
 |
|
Notas
(1)
João Silva de Sousa. Prof. da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa e Académico Correspondente da Academia
Portuguesa da História.
(2)
Humberto Baquero Moreno, Subsídios para o Estudo da Sociedade
medieval Portuguesa (Moralidade e costumes), Lisboa, Faculdade de
letras da Universidade de Lisboa, 1961, p. 45.John Gilissen,
Introduction historique au droit. Esquisse d’une histoire universelle du
droit, Bruxelles, 1979; António Manuel Hespanha, História das
Instituições. Épocas medieval e moderna, Coimbra, Almedina, 1982.
(3)
Jean-Louis Flandrin, Famílias – Parentesco, Casa e Sexualidade na
Sociedade antiga, Lisboa, Editorial Estampa, 1991, p. 194.
(4) Ver
Jacques Dalarun, “Robert d’ Arbrissel e a salvação das mulheres », in
Monges e Religiosos na Idade Média”, apres. Jacques Berlioz, Editora
Terramar, 1994, p. 37.
(5)
Suzanne Fonay Wemple, “O casamento sob o controlo da Igreja”, in
História das Mulheres – A idade Média, dir. Christiane Klapish-Zuber,
Vol. II, Roma-Bari, Edições Afrontamento, 1990, p. 296.
Flandrin, op. cit., p. 194.
(6)
Id., ibid., p. 187.
(7) Cod.
Pal. Germ. 848. Grosse Heidelberger. Liederhandschrift (codex Manesse),
Zurich (1305-1340).
(9) A.H.
de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos da
Vida Quotidiana, 1.ª ed., Lisboa, Sá da Costa, 1964, p. 128.
(10)
História da Família – Tempos medievais; Ocidente, Oriente, dir. de
André Burguière, Christiane, Llapisch-Zuber, Martin Segalen, Françoise
Zonabend, Vol. II, 1.ª ed., Editora Terramar, 19997, p. 300.
(11) Cfr. Flandrin, op. cit., p. 128.
(12)
História da Família… cit., Vol. II, p. 299.
(13)
Ver Vanda Lourenço, “Carta de Arras da Rainha D, Beatriz (1309-1359) ”,
in Estudíos Humanísticos. Historia,
n.º 7, 2008, pp. 349-358, in XIII Colóquio Internacional
de Asociasción Española de Investigación de Historia de las Mujeres,
Barcelona, Out., 2006;
(14) A.
H. de Oliveira Marques, ob. cit., p. 128.
(15)
Passim
(16)
Passim
(17)
Id., ibid., p. 134.
(18)
Flandrin, op. cit., p. 199.
(19) A.
H. de Oliveira Marques, op. cit.,p. 126.
(20) Id., ibid., p. 128.
(21) Id., ibid., p. 129.
(22)
Id., ibid., p, 129.
(23)
Cf. Alexandre Herculano, Estudos sobre o Casamento Civil, 6.ª
ed., Lisboa, s.d., p. 37. No pensamento do historiador, no casamento de
pública fama e o casamento de juras seriam formas não
sacramentais, e o segundo, ainda, uma forma inferior ao casamento de
benedictione.
(24)
Ver em Anexo parte das descrições do casamento de D, João I com Filipa
de Lencastre (Anexo I) e de D. Duarte com D, Leonor, irmã de Afonso V de
Aragão. (Anexo II)
(25)
Robert Fossier, «A Era ‘Feudal’», in História da Família – Tempos
Medievais: Ocidente, Oriente, dir. por André Burguière, Christianne
Llapisch-Zuber, Martine Segalen e Françoise Zonabend, Vol. II, 12.ª ed.,
Editora Terramar, 1992, p.99
(26)
Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 62.
(27) Suzanne Foney Wemple, op. cit., p. 289.
(28) Ordenações
del-Rei D. Duarte, ed. preparada por Martim de Albuquerque e
Eduardo Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p.
187.
(29)
Suzanne Foney Wemple, op. cit., p. 289.
(30) Humberto Baquero Moreno, ibid., pp. 64-65.
(31) Robert Fossier,
op. cit., p. 100.
(32) Humberto
Baquero Moreno, op. cit., p. 66.
(33) id., ibid.,
, p. 48.
(34) A.H. de
Oliveira Marques, op. cit., p. 128
(35)
Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 50.
(36)
Id., ibid., p. 50.
(37)
Henri Bresc, “A França das cidades e dos campos (séculos XIII a XV) ”,
in História da Família., cit, Vol. II, 1.ª ed., 1997. p. 115.
(38)
Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 51.
(39)
Id., ibid., p. 50.
(40) A.
H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 126.
(41)
Ordenações de Dom Duarte, p. 216.
(42)
Humberto Baquero Moreno, op.cit., p. 54.
(43)
Id., ibid., p. 58.
(44) A.
H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 120.
(45)
Id., ibid., p. 126.
(46)
Jean-Claude Bologne, História do Casamento no Ocidente, Camarate,
Círculo de Leitores, 2000, p. 36.
(47)
Id., ibid., p. p. 23.
(48)
Wemple, op. cit., p. 286.
(49)
Humberto Baquero Moreno, op. cit., p. 54.
(50)
Id., ibid., p. 54.
(51) Henri Bresc, op. cit., 1.º ed., Vol. II,
Editora TerraMar, 1997, p. 113.
(52) Humberto Baquero Moreno, op. cit., pp. 84 e
87.
(53) Suzanne Fonay Wemple, op. cit., Vol. II,
Roma-Bari, Edições Afrontamento, 1990, p. 290. |
|
|
João Silva de Sousa (Portugal). Prof. da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Académico Correspondente da Academia Portuguesa da História. |
|
|
|