NICOLAU SAIÃO
Caros/as confrades & amigos/as
Creio que todos, mais ou menos, conhecem o famoso caso passado com um condenado à morte que, levado ao cadafalso numa segunda-feira (como era tradicional no país para execuções capitais) exclama como que defendendo-se mediante o humor negro dum facto assaz penoso para ele: “Eis uma semana que começa bem…!” .
Eu posso repetir essa frase nesta segunda-feira amorável, mas por um facto inteiramente positivo.
Explico-me já:
– deviam ser umas dez horas da matina e eu tomava o meu cafézinho da manhã acompanhado duma sandes de paio fumado alentejano (recomendo-vos o exercício, a vós que sois dotados de bom gosto & bom senso e apreciais – ao contrário dos monges literatos pseudo-modernistas ou clássicos de aviário) as maravilhas da Terra, quando o telefone (essa invenção ora diabólica ora aprazível) começou a tocar. Atendi, ora não, preparado confesso para o pior (empresa de electricidades buscando novo incauto? clínica auditiva tentando salvar-me os pavilhões auriculares?).
Felizmente – e digo bem! – estava equivocado. Do outro lado soou uma voz entre o tenor e o basso que, ao perguntar-me se era eu e nomeando-me, pude logo situar tanto mais que de pronto se identificou…
Era a voz de Jules Morot, de que hoje nos ocuparemos durante uns minutos se me quiserem dar esse gosto.
Era ele e estava em Lisboa, mais exactamente no aeroporto, esse entreposto de mundos. Vinha de Antananarivo
e da república malgaxe onde reside demandava a França, para uns dias de férias e de acerto de negócios. Lamentava não poder vir ao Alentejo, mas não se esquecera de trazer para mim um par de botelhas do seu ramo, que eu irei receber daqui a dias…
Em resumo: começou bem a minha segunda-feira.
E teria sido ainda melhor, sem qualquer nuvenzita, se um jornal dos que diariamente uma agência faz o préstimo de me mandar interactivamente não me tivesse informado que faleceu Agustina Bessa Luís, autora que não sendo propriamente próxima do meu universo tem contudo páginas que considero.
Boa semana, com a estima cordial de sempre, vos deseja o v/
ns
Post Scriptum – 1. As obras que iluminam o texto “La chambre engloutie” são da notável pintora, poeta e performer espanhola Mayte Bayón.
1 Tomo a liberdade de chamar a v/ atenção para o último número da “Agulha”, saído ontem, que traz um acervo interessantíssimo e bem documentado sobre André Breton, cidadão e autor de excelência tantas vezes mal interpretado, ou maldosamente interpretado, por alguns que buscam fazer dele pretexto para as suas intenções de pessoínhas infrequentáveis.
HOJE – JULES MOROT
Jules Morot, francês de fio a pavio, não podia deixar de ser um poeta que raciocina sobre a questão da escrita e da literatura que se organiza sobre aquela e, naturalmente, sobre a vida que lhe reside em torno, antes ou depois do acto.
Sendo originário do Loire, essa – e cito – “região pacífica da exuberante paisagem, vinhas, longas praias arenosas e sapais, salpicada de castelos, solares e zonas de caça e na qual os prazeres bucólicos se misturam com a fruição de cidades fascinantes”, um pouco desse rincão encantado lhe percorre o que pensa, o que escreve, o que inventa.
Assim sendo, é natural que se detecte nele um fundo mágico que o lança em composições nas quais tenho percebido duas coisas fundamentais: o amor à natureza e ao pensamento especulativo (o que se me oferece, por exemplo, nos seus poemas “O besouro” e “Mozart” dados a lume na DiVersos nº 7 – revista de poesia e tradução).
Creio que o trecho que aqui vai para se ler no final do bloc , extraído do seu “La chambre engloutie”, do mesmo modo explicita o seu mundo interior, vazado numa afirmação que afinal é interrogação sistemática mediante os ítens que o enformam e que, ao cabo, reflectem o homem e o autor fascinado ante os mundos de baixo e de cima – que o mesmo é dizer os do espírito e os da luminosa materialidade.
ns
JULES MOROT
Traduções de Nicolau Saião
MOZART
Lêem-se os gregos
suecos, alemães
ou a doce língua
de não sei quantos
de não sei que imóvel pedaço de página
claves de sol
talvez o latim o alano o islandês
e é sempre a mesma música
sempre como um veio numa flor grossa obscena
Diz um um alfinete diz outro
um parafuso
pois sim
uma fina difusa coisinha semimorta
semi-deitada
semi-cerrada
uma inteligente coisa muda
maior que um tiro na orelha
pois não
uma espécie de porta
de dor discreta.
Meu bom senhor
olhai
nos prados nas tabernas
nos ermitérios
nos armários
um rasto de cão
Nos óculos do primeiro violino
tudo desaparece.
Tendes vós sono, desejo
de novas estações? Tendes florins?
Tendes, acaso, em dias
já passados
mãos musicais, sinais
de outras mortes?
O BESOURO
Soa lá fora
espalha-se pela casa
no calor das árvores que aguardam
o mais curto caminho
humano na direcção do ribeiro
o besouro o seu som de campainha
de sineta
astucioso repicar e logo
lembranças vagas na tarde
pequeno fio de memória nos nossos ouvidos
e é exacto um esvoaçante ser que em rodopios
perpassa
por sobre os roseirais
a sombra hirta dos sentidos.
Um harpejo
de violinos no nosso olhar reflectido
nos vidros
de hoje e amanhã
Agora um gesto um balbuceio
um simples animal de metal furando a tarde
seguro bem seguro
do seu talento da sua carne temporária
lembrança de céus distantes
de anos repassados de poeira
de roteiros felizes.
O LUTO A ALEGRIA
Os amigos que estão
no seu pé de página
como em caixão florido
pelos tempos futuros
têm de nós o gesto mais perfeito –
um sorriso transido mas mesmo assim
verdadeiro
e muitas mãos para afagar lembranças
e muitos dentes luzindo para criar o verão
e muitos olhos em repouso para dizer que é tarde
e muitos gritos para dizer que é cedo
e que é a hora de acordar
e de dormir porventura
e de bailar entre as árvores
e de correr entre as sombras
e a luz que elas provocam
e de sofrer um pouco
um pouco ainda
como crianças sem remorso sem dor sem amargura
de novo em viagem
sem efígie sonhada
e já desaparecida.
A O.HENRY
Fizera-se-lhe luz no espírito
e ele deu a palmada uma maquia de centenas
O seu botão de colete p’ra nada mais lhe servia
na sua cela ele olhou-o atentamente
deu-se a esse trabalho
erguendo-o entre dois dedos o indicador e o gordo polegar
Cosera-lho nos velhos tempos a mulher
numa tarde feliz de bourbon e de beijocas benditas
Ele desconfia desconfia e todavia
muito ficara por resolver
talvez uns diamantes uns relógios umas correntes de ouro
mas nada lhe interessava já tivera necessidade
de madrigais e de algumas moedas sonantes
E tudo foi simplesmente desta bonita maneira
De muito mais coisas necessitamos nós
os seus velhos companheiros de passeatas por vilas barulhentas
de muito mais necessitamos nós
seguramente apenas pelos tempos sem data marcada
Amor amizade flagrantes delitos de mocidade
de muito mais necessitamos nós
e o mundo chega e apenas traz sórdido cotão nos bolsos.
URSO GANIMEDES
Ele levanta-se
coitado dele
e nós sentimos aquele arrepio inquietante
da sexta-feira ligeiramente escura
Cristãos comunistas desportistas consumidores de alcachofras
e mesmo outros de crâneo em silhueta contra a luz da lua
no meio do frio glacial do continente antárctico
se bem me entendo financistas agentes de câmbio
comerciantes ruidosos alunos de artes polícias
personagens que fazem navegar os barquinhos nos tanques dos seus
jardins da infância
Velhos capões
Notamos dizia eu ou melhor notam vocês os que
ainda por aí têm sonhos
a sua poderosa silhueta de comedor de bagas de zimbro
de fruta da época se a conseguia apanhar
de uma perna descarnada de montanhês
nos tempos da grande solidão feliz
O urso que outrora ia de Somner Valley a Livington pelo meio
das gramíneas das faias das nogueiras até às primeiras encostas
da grande montanha verde e negra
***
O meu urso
suave como um lilás
como um carvalho das Ardenas
sem saber ler sem saber escrever
O de muito perto da terceira subida nas Rochosas
ou mesmo da quinta ou da sétima
lá onde havia entre os abetos seculares um pequeno
lago sonolento
e se dizia que por ali emigrantes antigos tinham rebentado
no inverno coloquial de Wyoming evocado em Toulouse
Aquela senhora conferencista de boa perna dava-me volta ao miolo
Até me fazia sentir cambreas
de Santa Fé a Colorado Springs
o meu urso meu é claro ainda que de mil transeuntes contentinhos
Aquele que virando a cabeça erecto nos faz recordar o Quaternário
na sua imensa estrutura de velha fera indolente.
O Ganimedes
calmo empregado entre funcionários engravatados
pensa que pelas ruas faria dar gritinhos às raparigotas sem cuecas
a moda mais na moda de agora imaginem vocês
a sua companheira ursa perdida com a barriga ao léu
Ganimedes
No Zoo parisiense ele é um senhor cheio de categoria
mau-grado o seu silêncio habitual
chegam a atirar-lhe maçãs muitos lhe lançam
amendoins ou nozes de Agosto
e avelãs e até um maço de cigarros amarfanhado
O meu urso
Primo do meu primo Ribonard e dum grandalhão
mais tosco que a rocha Tarpeia
taberneiro merceeiro em La Jolle onde eu ia com o tio Lenôtre
comprar botas de caçador de perdizes
de cigarrinho mais que malcheiroso sempre ao canto da bocarra
sempre ensopado em branco e aguardente barata.
Ganimedes
sob o luar e os planetas libertos aguarda o momento de estoirar.
ANDANÇAS
As minhas viagens são feitas de acasos e de sombras. Ou de sombras e de acasos, pois a soma e a sequência dos factores por vezes é arbitrária. Ou não será assim?
Não importa de momento, agora o que é preciso evocar são as grandes presenças das florestas passando por mim, por sobre mim, por sobre a minha cabeça, os meus pés, as minhas mãos e os meus ombros. A roupa que me veste e que de tempos a tempos me desnuda, o mar que sempre recordo, naquela tarde ensolarada, naquele fim de tarde quando uma estrela já luzia no céu, o banco de jardim onde me sentei um dia numa pequena terra de Espanha, os grandes lumes acesos na serra, as fogueiras que me deslumbravam, me deixavam surpreso, pois ainda não conhecia o fogo e a sua incontável arquitectura plena de terrores e de encantamentos, a voz do vento lá por fora, pelos caminhos da montanha, solitários como flores num bosque que não se sabe bem em que lugar fica.
As minhas viagens são feitas de amargura pois não mais voltarão. São como um rochedo num bosque silente na manhã, um bosque onde animais nasceram e animais morreram, a doçura de um raio de sol ou de luar sobre o dorso de um lobo ou de uma inconcreta aparição.
Tenho a tua mão e não tenho a tua mão. Imagens rodeiam-me e são coisas que existem, o pão e a água trazida dos lugares mais remotos e que nos habitam. A minha água interior, a tua água que ressuma, que bebi no teu coração, os teus olhos que já não reconheço, o fulgor do passado. As casas que correm ao meu redor, o rufar repentino de um combóio perdido e aquela voz de mulher dizendo para a outra, a mais nova, a mais vistosa: “Ali era o nosso quarto, lembras-te? Tantas vezes que nos pusémos ali à janela, ainda o Pai era vivo!”. A memória que se esconde para sempre num recantozinho do cérebro, como um retrato humilde ao canto de uma mesa numa sala muito antiga.
As minhas viagens são feitas de tudo o que nos ampara e desampara nas grandes caminhadas, ao longo dum rio ou dum deserto.
As minhas viagens são como livros amados e iguais aos crimes de outro alguém que existe e não existe, um alguém que mora dentro de mim e do peito que ainda conservo mergulhado neste tempo, no outro tempo, em todos os tempos do universo.
Do livro “La chambre engloutie”
INTRODUÇÃO – O Regresso
Eu chegava de Besançon.
Era um dia de chuva miudinha de meados de Março e no largo da estação tomei um táxi da fila que aguardava passageiros. A imagem de “O marido da cabeleireira” perpassou-me na mente ao efectuar o acto tão simples de entrar no automóvel. Logo a seguir recordei o que a personagem dizia antes de morrer: “Todo o meu passado desapareceu contigo”. E toca, brrrr!, de se lançar às águas do rio.
Mandei seguir para a Praça Lebrun, que fica perto da rua Lepic onde se situa o meu sóbrio apartamento de solteiro. O motorista era magro, de cabelo escuro, bigode à inglesa, tipo de belo tenebroso. Notei que depositara no banco do lado um livro qualquer – mais me parecera um caderno – que pude relancear fugazmente. Tanto mais estranho consoante ostentava na capa uma ilustração que me intrigou.
Ao passarmos nas imediações do parque Monceau soltei uma pequena imprecação. E disse de imediato: “Esqueci-me dos cigarros, raios!”. Então, num gesto entendível, debrucei-me ligeiramente e passei-lhe uma notinha de 20 francos. Ele encostou o carro perto do espaço dos jogadores de bolas deserto àquela hora, pois percebera que a demasia lhe estava destinada. Enquanto ele se dirigia ao quiosque, num gesto rápido e decidido peguei no livro-caderno. E compulsei-o sem demoras.
Era um manuscrito. Com entradas, que me pareceram reflexões. Li um par de linhas. Vi que o nome posto ao alto da primeira página correspondia ao do taxista na pequena placa identificativa do “tablier”. Sem alardes, como faria o Arsène Lupin, meter o manuscrito no bolso interior da gabardina e recostar-me serenamente foi uma naturalidade que não me levou 3 segundos. Um taxista escrevente! E o par de linhas mostrara-me que o meu rapinanço (pois se tratava dum delicioso roubo) fazia sentido. Aconcheguei mais ao queixo a gola da sebosa, para disfarçar melhor o meu trombil. Ele durante uns minutos não notaria a volatilização da sua menina-dos-olhos, pensaria talvez que caíra para o espaço intermédio entre o banco e a porta. E quando despertasse do engano já seria tarde.
Ele regressou, passou-me o maço de “gauloises” e com um gesto dei-lhe a demasia.
Nos minutos que levou a trajectória até à Praça Lebrun amodorrei sem má consciência. Ali apeei-me, paguei-lhe generosamente para compensar o amargo despertar e comecei a andar como se fôsse para a rua Vosges.
Passei por cima da relva, no separador arborizado com que o município nos mimoseia e num cavalgar harmonioso voltei para trás em passo estugado. O coração batia-me um pouco, como se tivesse acabado de cometer um assassinato. Mas a alma entoava uma pequenina melodia.
Levar-me-ão a mal? Chegarão mesmo a chamar-me ladrão, a cobrir-me de adjectivos pouco próprios? Eu, contudo, vejo o assunto de modo bem diferente.
Já em casa, depois das abluções e dos momentos de nostálgica retoma do ambiente familiar, despi-me calmamente e enverguei um pijama confortável. E enquanto degustava uma colação leve mas saborosa, deitei-me à leitura.
Estive nisto mais duma hora, entre o irritado, o seduzido, o admirado.
Eram, com efeito, reflexões ora sobre isto, ora sobre aquilo. Coisas do dia a dia, artes, literaturas, o que se esperaria em quem tem muito tempo para locubrar nas horas de uma vida de solteiro e com uma profissão pouco compaginável, pensei, com o trabalho do pensamento. No entanto enganara-me e creio que ficara de parabéns.
Entre esses exercícios de pensamento e, mesmo, de crítica com certa penetração, ia contudo assomando, mesmo ressaltando, uma espécie de história delineada pelos breves diálogos entre duas personagens identificadas apenas pelos apelidos: Barre e Cibaljet.
***
[…]
“Cibaljet repôs o livro na prateleira de cima duma das altas estantes em madeira encerada de cerejeira. Com um sorriso ameno disse para Barre, enquanto vertia nos copos uma generosa porção do líquido contido na garrafa de cristal facetado: – Na adolescência fui muito suscitado pelo catorze. Era um número que, não sei porquê, me despertava curiosos pensamentos. O sete duas vezes, o sete para um par de enamorados ou de companheiros, ou de inimigos…
Quando me tornei adulto, foi o quarenta e seis…
É um número de grande poder, o quarenta e seis – disse Barre suavemente.
Tem razão – redarguiu Cibaljet com um sorriso – É o sete multiplicado seis vezes e, depois, adicionado do quatro. Ou seja: da terra, da água, do ar e do fogo.”
[…]
“Senti isso uma vez perto de Claremorris, no País de Gales, quando se começa já a descer até aos prados de Ballinrobe – disse Cibaljet entre duas puxadelas do havano – A sensação de que estamos longe, muito longe… como se fôssemos outros e nada nos prendêsse ao que fômos.
Entendo! – redarguiu Barre com uma expressão sonhadora – Tive a mesma experiência certa noite junto ao Bósforo, quando ainda não me decidira a deixar a velha Europa…
Você acha que a sensação é muito habitual, pelo menos em viajantes experimentados e decididos, com uma boa qualidade de conhecimento de estradas e lugares? – tornou Cibaljet passando-lhe o frasco viajeiro de aço recoberto de couro onde a bela aguardente das Cevènnes esperara a sua vez.
Ora… – disse Barre na sua voz de baixo a que um leve tom de barítono emprestava um timbrezinho peculiar – Tenha em conta que a maior parte dos mortais com ou sem qualidades próprias de caminheiros se limitam, a não ser que haja milagre, a deslocar-se para aqui ou para acolá como se um vento os levasse… ”
***
Já não me recordo quem teria dito a frase “Foge de alguns, foge de um, foge de todos” – disse Cibaljet passando a Barre a tábua onde um belo naco de Brie exalava o seu perfume sedutor para gastrónomos encartados – E quem teria dito, diabos levem a memória, “O companheiro Deus se quiser existir que exista”? Puxo pela cabeça e por mais que tente não me consigo recordar…
Sim, esses lapsos são apoquentadores em extremo – redarguiu Barre com um fino sorriso, untando a fatia de pão com deleite e vasando nos copos um Chandelle que estava mesmo a pedi-las – No meu caso, há anos que tento encontrar pistas do poeta que escreveu “Cuco, és tu uma presença errante ou apenas uma voz indagadora?”. Tenho procurado em antologias, em selectas liceais, em alfarrábios… e nada! E quem teria dito “É uma cidade soturna e desencorajante. Certas pessoas deviam entrar directamente do hall para o páteo e nunca lhes deveria ser franqueada a sala”?
Por mim sou um homem confiante – tornou Cibaljet entre duas mastigadelas – Ainda não perdi a esperança de conseguir lembrar-me de quem foi que disse “A vida é um mistério e não um delírio”.
Barre pousou o copo. “Sabe – soprou de mansinho – quando era garoto um parente meu dizia que a memória atraiçoa frequentemente os que comem muito queijo…
E talvez seja verdade… – disse Cibaljet servindo-se de outra generosa porção do Brie que restava na tábua – Será um caso de sabedoria popular…
Mas nenhum deles sorriu.”
“Meu caro Barre: ontem, na rua do Tivoli, encontrei um alquimista. Não se ria, essa qualidade existe. Acontece que por uma subtil concatenação de factos esse homem é meu vizinho e tive oportunidade de lhe prestar um pequeno obséquio que o dispôs a meu favor. É um indivíduo inteligente e desembaraçado, com um vago ar de distância indefinível que, contudo, não o apouca.
Após vários anos de contacto fortuito, eis que confiou em mim. Contou-me uma história surpreendente.
Como não saberá, mas aqui fica a revelação, os adeptos que atingem a iluminação não precisam daí em diante de comer ou beber e consequentemente de eliminar os resíduos líquidos ou sólidos. Habitando vinte anos atrás um solar isolado das redondezas, entregou-se a uma curiosa actividade: esteve 4 meses sem sair do seu quarto, imóvel numa poltrona e lendo incessante e interessadamente as obras de Vítor Hugo. Entre um e outro livro, dormia a sono solto para se distrair com os sonhos. Depois, recomeçava. Os músculos não se atrofiavam pois as células corporais, nessas pessoas, mantêm a elasticidade. Quando chegava ao fim dos tomos, reflectia sobre as qualidades e defeitos da Obra do mestre. Adquiriu assim a certeza de que a leitura roda no espírito humano como um planeta o faz à volta do Sol.
Vai dentro em breve recomeçar o mesmo périplo, desta vez com as obras de Balzac. Para isso isolar-se-á numa vivenda que descobriu nos arredores do Languedoc, no cimo duma colina e no meio de um bosque fora dos circuitos de quem quer que seja. Estará nisto, segundo prevê, 8 meses seguidos. Depois, será a vez de Homero, de Dante, de Borges, de John O’Hara, de outros mais. Dará aí para coisa de 4 anos. No entanto, desta vez acompanhará as leituras com intervalos durante os quais, cozinheiro emérito em que se tornou por gosto e sensibilidade gastronómica, preparará pratos sumamente apetitosos conforme a sua disposição do momento.
Disse-me que um dia, em meio às suas leituras futuras, já os homens terão chegado a um planeta habitado fora do nosso sistema solar. Sairá então, com o intuito de renunciar à leitura dos clássicos e votar-se a passeios incessantes durante os quais ordenará na sua cabeça todas as páginas que leu.
A solidão não o assusta. A única coisa que parece preocupá-lo um pouco é que, entrementes, uma catástrofe nuclear aniquile a nossa velha Terra. Eu disse-lhe que deveria começar a pensar em manobrar de forma a que os governos que se interessam pela aquisição atómica não tivessem esse ensejo. Uma vez que dispõe de incomensuráveis possibilidades, já de tempo já de sabedoria, isso ser-lhe-á possível a meu ver.
Ele olhou-me fixamente durante uns segundos e depois respondeu: “Saiba que mesmo a nós é extremamente difícil inflectir a loucura dos homens. Já outros antes de mim o souberam. Confiemos antes nas leis do acaso”.
Despedímo-nos à porta do edifício que ambos habitamos, em andares diferentes.
Agora estou sentado a ouvir uns trechos de Brahms, enquanto lhe escrevo. Jantei costeletas grelhadas com um fiozinho de molho inglês para acertar a preparação. Sinto, contudo, uma leve inquietação que não consigo definir se vem da conversa ou do leve zumbido que algures soa vindo do apartamento do lado, onde reside aquela morena de que não sei se já lhe falei.
Até que nos encontremos.
Cibaljet”
***
“ De cada vez que ouço Stravinsky ou leio Maupassant sinto sempre que alguém foi demasiado longe.
Há autores que nos deslumbram e outros que nos sufocam. E o mais grave é que ambas as coisas podem ser suplementares. Nunca consegui ler mais do que três contos de Maupassant de uma vez só. E nunca consegui ouvir Stravinsky durante um inteiro quarto de hora. O pássaro de fogo põe-me todo a tremer. Tal como sucede com O colar de Maupassant. A meu ver existe algures, perdida no meio dos séculos e das coisas, dos acontecimentos e das descobertas, uma lógica inquietante que ainda não foi avaliada. Algo para além das frases e dos sons. Tem-se a impressão que certos autores tocaram com o dedo nu o mistério da espécie… – regougou Barre em voz cava
Junto da janela, Cibaljet olhava atentamente para fora. Traçava, distraidamente, figurinhas no vidro embaciado com a mão direita, enquanto a esquerda levava aos lábios, intermitentemente, o charuto já meio fumado.
Vem aí uma forte pancada de chuva… – disse enquanto se virava e apanhava o cálice de “Napoléon” da mesinha de mogno envernizado – O céu está negro ali para Norte… Vai ser de escachar!
Barre inclinou-se e, duma pequena taça de cerâmica com arabescos, tirou uma boa porção de amêndoas torradas.
Gosto da chuva quando cai numa tarde assim de princípios de primavera, como esta – afirmou com um leve suspiro.”
***
“Lacordaire ultrapassa em muito a sua própria lenda. Nisso está nos antípodas de Stevenson, cuja lenda é do tamanho da sua vida vivida. Não é fantasia e sim realidade o facto de que escreveu “O médico e o monstro” de rajada, horas depois de ter tido um sonho onde lhe foi oferecida a imorredoira história. – E, dizendo isto, Barre estugou o passo ao longo da álea que bordejava o canteiro de flores diversas e multicoloridas.
Sim, mas só até à segunda transformação. Daí em diante teve ele de inventar – retorquiu Cibaljet com um leve sorriso enquanto, tomando Barre pelo braço, o encaminhava na direcção da pérgola um pouco mais adiante.”
***
“Caro Cibaljet: Contaram-me ontem que Marcel Proust deixou algures, de acordo com um dos seus melhores exegetas, dois livros inéditos. A meu ver trata-se de não mais que um boato vago, talvez incrementado por um editor voraz e arteiro com o intuito de despertar uma nova curiosidade pelas obras já existentes. Mas e se fôr verdade? Que novas visões isso despertará, não acha? Críticos, leitores, simples observadores, andarão à porfia durante sei lá que tempo em roda da obra do aristocrata mais socialista de França. E já me revelaram que se trata de um diário e de cartas confidenciais. Que bico de obra, que bela jornada para duas ou três épocas!
Gostaria de ouvir a sua opinião. Até domingo próximo e os meus respeitos à senhora sua Mãe.
Barre”
***
“Meu caro Barre: A meu aviso trata-se de um boato, desses que surgem ciclicamente na nossa sociedade hiper-literária. Ou, melhor dizendo, sofisticada pelos piores motivos. Mas sempre lhe digo que, a ser verdade, teria importancia apenas nas vendas e nos fins-de-mês das livrarias. E daria durante um lustro pano para mangas aos batalhões académicos da especialidade, mas nada mais. Quando um autor está morto, fisicamente morto e várias décadas passaram sobre a sua desaparição da cena, transforma-se em História com todas as consequencias que se conhecem. Nada mais modifica, quando muito suscita um arrepio intelectual e algumas paixões de segunda ordem.
Assim, se por exemplo um autor, trinta anos passados sobre o seu último livro, anunciar que vai publicar um tomo de inéditos que lhe haviam escapado, arriscar-se-á a passar por velho relho à guisa de plagiador da sua própria obra.Tanto mais que, entretanto, apareceram novos ritmos, novas maneiras de indagar os séculos e o século, um novo olhar sobre a escrita.
Infelizmente e creio que digo bem, a literatura é um pouco como as bananas, que devem ser consumidas na hora. A novidade, tanto quanto me parece, advém-lhe sempre de novos relances, de leitores sucessivos, não de descobertas materiais.
Seja como fôr, a ser verdade, creia que estarei como um dos primeiros compradores dessa iguaria, tanto mais que a frequentação das velhas glórias é uma das características de que não abdico. E, além disso, qualquer página de Proust é no fundo como se tivesse sido escrita mesmo agora, o que contradiz absolutamente tudo o que lhe disse atrás.
Até domingo, pois. E uma saudação respeitosa a seu Tio.
Cibaljet”
***
“E esta é uma das peças que me chegaram ontem – disse Barre assim que entrou, sustendo cuidadosamente nas mãos uma peça de cerâmica de côr esverdeada, com pequenos elementos abstractos, que Cibaljet logo se apressou a contemplar tão-logo foi deposta sobre a toalha que cobria a mesa no centro da pequena sala – Ainda nem sequer a coloquei junto de outras irmãs de outras civilizações. Não é uma beleza?
Cibaljet, sem a levantar, rodou-a cuidadosamente, quase com ternura. Olhava-a como que extasiado. Virou-se e olhou Barre com unção.
Tão simples e no entanto tão bela! – afirmou – Olha-se para isto e quase se ouvem os sons do passado em que esta peça foi um elemento do dia a dia. Posso quase ver os que dela se serviam, o camponês comendo nela o seu alimento enquanto olhava os filhos e a mulher, ou enquanto sentado à porta de casa olhava os longes da floresta na tardinha que chegava. Os sons dos animais que começavam a ouvir-se na noite nascente…
Neste caso – disse Barre com um trejeito, contudo assaz delicado – temo que se engane: é um exemplar, muito bem conservado, das taças ou tijelas, conforme queira, em que os participantes no rito maia bebiam o sangue da vítima propiciatória que o sacerdote acabara de degolar.”
Jules Auguste de Minvelle Morot nasceu em 1973 em Alc-le-Courtnay.
Poemas dispersos em jornais e revistas, nomeadamente interactivas, depois agrupados e dados a lume sob o título “Le mardi-gras” (alguns dos quais saídos em Portugal na “DiVersos – revista de poesia e tradução”(Direcção de José Carlos Marques), na página interactiva paulista Cronópios/Musa Rara (de Edson Cruz) e no TriploV (dirigido por Maria Estela Guedes).
Em prosa deu a lume “La chambre engloutie”, relatos e reflexões novelizadas de que extractos sairam na revista cearense de Fortaleza “AGULHA”, pela mão de Floriano Martins.
Licenciado em biologia marinha, exerceu o professorado. Depois da morte de seu pai tomou conta do ramo (criação de vinhos) em que sua família fez tradição.
(Homenagem a Jules Morot – Cartão para tapeçaria de NS)




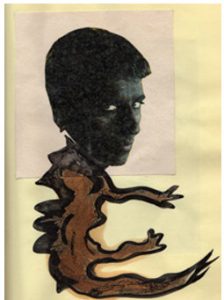
 Seja como fôr, a ser verdade, creia que estarei como um dos primeiros compradores dessa iguaria, tanto mais que a frequentação das velhas glórias é uma das características de que não abdico. E, além disso, qualquer página de Proust é no fundo como se tivesse sido escrita mesmo agora, o que contradiz absolutamente tudo o que lhe disse atrás.
Seja como fôr, a ser verdade, creia que estarei como um dos primeiros compradores dessa iguaria, tanto mais que a frequentação das velhas glórias é uma das características de que não abdico. E, além disso, qualquer página de Proust é no fundo como se tivesse sido escrita mesmo agora, o que contradiz absolutamente tudo o que lhe disse atrás.