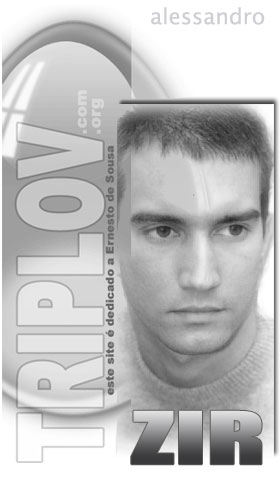
ALESSANDRO
ZIR
Para uma Crítica da Crítica de Cinema: o Mal-Estar ao Redor de Antichrist
É impossível negar que há algo de mau-gosto, de exagero e de patológico em várias imagens de Anticristo. Qualquer um que se foque em tais excessos, vai perder, entretanto, o que o filme tem de mais fundamental, inclusive em termos de horror. Assim como há passagens violentas e tétricas, há outras extremamente líricas. É na justaposição das duas coisas que a obra emerge ilesa e genuína, para além do mal-estar rondando público, críticos e diretor.
Não é a favor do filme que se precisa falar. O filme fala por si, e se de fato assistido exigiria um profundo silêncio. Dado o pauperismo calamitoso da crítica de cinema atual, é preciso, entretanto, falar de experiência cinematográfica. Mesmo que o Anticristo pudesse ser reduzido ao que tem de misógino, degenerado e obsceno, som e imagem se emancipam da narrativa. Eles não têm uma função meramente ilustrativa, de acompanhamento.
É por eles que se deveria acessar a obra. Como alguns têm dito e nunca será demais repetir, a especificidade do cinema como arte demanda que se vá além do narrar em som e imagem uma história prévia. Lars von Trier está a altura do desafio. As caras borradas das suas mulheres não são um desdobramento sensível de uma idéia de excesso, mas o próprio excesso assignificante da imagem. Seria incorreto dizer que o filme representa uma concepção totalmente desencantada de natureza. Ele luta por ser, ele mesmo, tal natureza.
O desencantamento aqui paradoxalmente resgata no moderno o que ele tem de inevitavelmente arcaico, impossível de emancipar. O resultado não é algo que esteja representado, mas uma concepção negativa do real, irrepresentável. Essa tensão máxima é o que sustenta a obra numa dimensão verdadeiramente estética, no limite do místico, quase como uma reza: “Lascia ch'io pianga, mia cruda sorte, e che sospiri la libertà. Il duolo infranga queste ritorte de' miei martiri sol per pieta" (1).
Esse é exatamente o ponto onde os críticos se perdem. O martírio da personagem não é a expressão de um estado interior de culpa, decorrente da morte de um filho. Também ele não é a manifestação de um desejo “sádico”, supostamente inconsciente, ou tara de ordem subjetiva. O cultivo deliberado da deformidade dos pés de uma criança que alegremente se suicida é antes de mais nada testemunho daquilo que extrapola o espaço psicológico dos personagens.
Mais do que aquilo que reflete um delegado Vilela no Caso Morel de Rubem Fonseca: “todos os irmãos são na realidade culpados” — a culpa no Anticristo testemunha aquilo que atravessa não apenas a “família Karamasov” na direção da “família humana” (2), mas a família humana na direção dos animais, e também do inorgânico. São os gritos da personagem colapsando no grasnar desagradável de um corvo. As clareiras que abrigam veados parindo, e raposas devorando as entranhas dos próprios filhotes — elas que dizem “Caos reigns”, enquanto uma chuva de castanhas faz estremecer o telhado.
Outros exemplos da literatura brasileira, e de uma literatura pré-moderna, arcaica, têm uma afinidade ainda mais explícita com a natureza evocada, encarnada no filme. José de Anchieta, no século XVI, fala das aranhas do Brasil como enormes caranguejos, cuja mera visão é transmissora de veneno (3). É do mesmo período a descrição feita por Manuel da Nóbrega de sua visita a uma aldeia indígena: “entrando na segunda casa, encontrei uma panela na forma de um caldeirão, em que cozinhavam carne humana, e no momento em que cheguei jogavam nela braços, pés e cabeças de homens, coisa espantosa. Vi seis ou sete velhas que mal podiam se manter de pé dançando ao redor da panela e atiçando a fogueira, pareciam demônios do inferno” (4).
O Anticristo não é o primeiro filme em que Lars von Trier trata de bruxaria. Em 1988, ele filmou Medeia, a partir de um roteiro do expressionista alemão Carl Theodor Dreyer. Naquele filme havia também a cena da morte de duas crianças que é uma espécie de suicídio alegre intermediado pela mãe: o irmão mais velho ajudando-a a enforcar o mais novo, antes dele mesmo. O que gera mal-estar aqui não é o horror, mas a sua sustentação serena, pelo que tradicionalmente é símbolo da inocência.
Qualquer análise ideológica de tais filmes é truncada se não se reconhece a ousadia de um contato com dimensões naturais não românticas no limite do sobrenatural. E Lars von Trier não apenas é anti-romântico, como ele também desconstrói e ironiza qualquer tentativa demagógica de racionalização. Aquilo que se acusa de misoginia é antes de mais nada um compromisso com o feminino no que ele tem de mais desafiador. A mulher não é nem uma totalidade original à qual o homem poderia retornar, nem aquilo que o homem pode emancipar.
Por fim, para aqueles que reconhecem a importância da experiência cinematográfica em si mesma, não se pode deixar de falar de Andrei Tarkovsky. Há inúmeros pontos de aproximação, que são evidentes mesmo que o filme não tivesse sido a ele dedicado. Todo o prólogo e o epílogo de Anticristo são como certas passagens de O Espelho (1975), em que os diretores desaceleram o fluxo das imagens intensificando o desdobrar no tempo de detalhes de textura. Também efeitos sonoros, que são quase vibrações tácteis, capturam o espectador e o vinculam como moldura a certos closes inesperados do olhar dos personagens. Há um aproveitamento máximo dos recursos do ambiente concreto das locações. Lars Von Trier soube se valer aqui inclusive das características naturais físicas dos atores: as rugas de Dafoe, o corpo de flâmula de Charlotte Gainsbourg. Parece, por outro lado, evidente que Tarkovsky não fosse aprovar o uso de violência e sexo explícito (6). Mas cabe lembrar que cenas de extrema violência aparecem também em outra obra polêmica, de valor cinematográfico inegável, feita por um diretor atual que também reconheceu em Tarkovsky uma de suas principais influências: Paranoid Park (2007) de Gus van Sant.
![]()
(1) Célebre passagem da ópera Rinaldo de Georg Friderich Handel, usada por Lars von Trier como trilha. Uma tradução livre seria: “Deixe me chorar minha sorte cruel e suspirar a liberdade. Que a dor irrompa esses atilhos do meu martírio...”
(2) FONSECA, Rubem. O Caso Morel. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 69.
(3) LEITE, S. Monumenta Brasiliae. Roma: Monumenta Historica Societatis Iesu, 5 vols., 1956-1968, vol. 3, p. 218.
(4) LEITE, S. Monumenta Brasiliae. Roma: Monumenta Historica Societatis Iesu, 5 vols., 1956-1968, vol. 1, pp. 182-183.
(5) Tarkovsky, Andrey. Time within Time. The Diaries. 1970-1986. London: Faber and Faber, 1994, pp. 204-5.
ALESSANDRO ZIR.
Escritor e professor universitario. Doutorado
pelo Interdisciplinary Program da Dalhousie University (Halifax, Canada).
Pagina pessoal: aletche.blogspot.com
E-mail para contato: azir@dal.ca
URL: http://aletche.blogspot.com/