

|
|
 |
|
 |
Lição de Mestre Aprendiz |
| In: Ana Maria Haddad Baptista,
Rosemary Roggero & Jason Mafra (org.) - Tempo-Memória. Perspetivas em
Educação. São Paulo, BT Acadêmica, 2015 |
 |
|
À Mãe
Mestra Ângela Battu
e
encerrar-me todo num poema,
não em língua plana mas em língua plena
Herberto Helder, A morte sem mestre
|
 |
|
Pedem que fale do ensino na minha qualidade de
escritora, ora a mais profunda experiência que tenho dele é a de aprendiz,
e em terra brasileira. Foi na mata curitibana, e entenda-se literalmente a
informação, que a Aprendiz recebeu também o grau de Mestre. Ensaiemos
assim uma lição, os brasileiros hão de gostar de ver o que fiz com o
conhecimento que me transmitiram e agora lhes repasso em testemunho.
O ensino é um tema fascinante, dadas as suas
múltiplas faces, de transmissão de conhecimento e de aprendizagem, com o
correlato funcionamento dialogal, seja o interlocutor explícito ou
implícito, presente ou ausente, singular ou plural. Mais fascinante ainda
é o seu exercício, o poder de congregar na palma da mão a mente de alguém
ou de uma multidão, cativada pelo que expomos e com isso lhe permitimos
descobrir. A grande aventura de quem se encontra sob magistério é a
descoberta, o poder tirar os véus que cobrem algo que se não conhecia. Num
ponto muito alto do empenho nessa descoberta, fala-se mesmo de
“revelação”, termo de que a técnica fotográfica se apropriou, pertencendo
ele ao domínio da experiência religiosa. Isto nos tempos em que a
revelação se fazia em câmara escura, mergulhando papel sensível à luz num
banho de substâncias químicas: as imagens iam aparecendo muito lentamente
e tornavam-se cada vez mais a representação nítida da paisagem ou pessoa
retratadas.
Palavras veladas costumam ser as de certos textos,
não apenas sagrados mas também poéticos, caso dos surrealistas e
de autores como Dante, Herberto Helder ou Fernando Pessoa: o nosso
magistério sobre eles consiste em tirar-lhes os véus para mostrar o
significado oculto das palavras. Já o termo “hermenêutica” é revelador,
ele forma-se a partir do nome do deus Hermes / Mercúrio, mensageiro dos
deuses. Hermes Trismegisto é considerado o fundador da Alquimia, também
chamada Arte Hermética. Se pensarmos em expressões quotidianas como
“fechar hermeticamente”, logo vemos por que motivo os textos poéticos
precisam de descodificação – o seu significado está fechado a sete chaves,
o autor velou as palavras. Chegam a nós veladas pelo tempo, veladas pelo
segredo, veladas pelo nosso desconhecimento, ou veladas até pela nossa
falta de imaginação.
Um dos grandes especialistas dos textos herméticos
é Richard Khaitzine, cujos títulos são em geral esclarecedores, traduzo:
Da palavra velada à palavra perdida, A língua das aves, e tantos
outros textos sobre o simbolismo maçónico e alquímico em contos
tradicionais e na obra de escritores surrealistas.
O ensino envolve uma grande responsabilidade,
quanto ao mestre, a de não dever transmitir como facto o que é do domínio
da hipótese e do ensaio,
estando o ensinamento sujeito a reviravoltas antes mesmo do final do ano
letivo, como acontece na vertiginosa mudança de saberes em alguns campos
da ciência. Noutros casos, o da fábula, do mito, da religião, das lendas,
e até da propaganda comercial e política, é preciso distinguir da
realidade em que vivemos as coisas relatadas, isto é, precisamos de
distinguir o que é do domínio da realidade daquilo que é fruto da nossa
crença. Porém, não é nítida a fronteira entre o mundo da ilusão e o da
realidade, e a nossa sabedoria consiste em conviver sem conflitos com os
habitantes de um e outro.
Entretanto, a sala de aula não é o único local
apropriado para o magistério. Há laboratórios onde nunca esperaríamos
aprender o que aprendemos, onde nunca esperaríamos sofrer o que sofremos,
e a dor ensina mais fundo que outros sentimentos, como a euforia, cuja
risada é em geral frívola. O conhecimento que mais magoa vem dos próximos,
daqueles com quem vivemos, dos que pensávamos incapazes de nos fazer mal.
Os estranhos deixam-nos indiferentes; porque não são próximos, não têm
capacidade para nos tornar diferentes – o conhecimento muda-nos, com ele
passamos a ser outros. O tratamento dos iniciados em algum rito, seja
religioso seja maçónico, vai à família buscar as fórmulas de tratamento,
para indicar a proximidade entre os confrades. O termo “confrade” (de
frater, frade, irmão) reforça a
ideia de parentesco instituído: Pai, Filhos, Irmãos, Pai Mestre, Mãe
Mestra, Bons Irmãos, Bons Primos. Algumas destas sociedades designam-se
precisamente por “irmandades”. O seu funcionamento interno é o de escola,
em que sempre existe Mestre a iniciar discípulos em graus progressivamente
mais elevados.
O magistério dá forma, daí o termo “formação”. A
formação modela, cultiva e civiliza, e por isso transforma-nos. O
aprendizado que fazemos desde a infância tem esse fim, mudar-nos de
bichinhos em cidadãos responsáveis. Muito pouco em nós é inato, e aquilo
que é inato cumpre muitas vezes ao ensino mudá-lo, inibi-lo, substituí-lo
pelo adquirido. Querem um exemplo? Básico como as mais básicas funções
fisiológicas, tudo o que diz respeito ao corpo, no banheiro, é resultado
de aprendizagem desde tenra idade. Até os animais se educam: as cegonhas
ensinam as crias a projetar as fezes para fora dos ninhos e estão sempre a
limpá-los. Duvido é que, como nós, se controlem para não se aliviarem em
qualquer lugar, sempre que têm vontade. Esta moldagem do natural ao
civilizado por força de obediência a normas é a cultura. Então
pergunta-se: o que é que no homem é natural e o que é que nele é cultural?
Cada filósofo defende a sua teoria e alguns, mais extremistas, chegam ao
ponto de dizer que já não existe Natureza, porque tudo na Terra está hoje
moldado pelo Homem. Ora o ensino é a ferramenta mais importante para a
transformação do natural em cultural.
O magistério ministra-se em lugares próprios e também segundo modos
privilegiados: vemos na ideia uma sala de aula com os jovens assisadamente
sentados, mas eles podiam estar num templo, a loja das sociedades
iniciáticas, ou ir andando pelo campo a ouvir as sábias palavras do
Mestre, como foi o caso da Escola
Peripatética, a de Aristóteles. Nos anos 30 do
século IV, o filósofo fundou em Atenas o Liceu, com casa, jardins e
passeio empedrado. A escola de Aristóteles ficou conhecida como
peripatética porque o filósofo ia falando aos discípulos enquanto
caminhavam ao longo do passeio, em grego chamado
peripatos.
Pergunto a mim mesma, neste instante em que me
encontro sentada na esplanada de um café, vendo os automóveis passar a
grande velocidade para um lado e para o outro, se a expressão “curso” não
terá sido aplicada a um conjunto de matérias ministrado ao longo de alguns
meses numa escola, por influência do modo como eram ensinadas – cursando,
discursando, discorrendo – isto é, andando, ou mesmo correndo, para
eventualmente fugir à chuva… A palavra “curso” significa movimento, por
isso se aplica a coisas tão móveis como o andamento das águas de um rio ou
das palavras e frases no discurso. E como o aprendiz vai mudando à medida
que aprende, também ele cursa, também ele está em evolução.
É curioso, o movimento excita as ideias e a
imaginação. Eu quase só escrevo poesia durante as minhas viagens, e um
meio de transporte em especial me estimula mais que todos os outros: o
trem. Existe uma relação forte entre o movimento e a linguagem; a agitação
do corpo e a passagem rápida da realidade pela janela provocam uma
descarga de ideias e imagens que podemos fixar nas palavras. O problema é
– era – o de decifrar a caligrafia… Uma vez escrevi o esboço de um livro
viajando de ônibus de Belo Horizonte para São Paulo. Fiquei inspiradíssima
pelos letreiros dos camiões e automóveis: “Só sou fiel a Jesus”, dizia um,
outro coisas bem mais agressivas. Mas depois perdi a paciência, quando se
tratou de passar o manuscrito para Word, porque não consegui decifrar o
que tinha rabiscado entre solavancos, travagens e arranques. Não senti
necessidade de recorrer aos dons de hermeneuta para tão profana tarefa… O
tablet facilita-a, mas mesmo
assim sucedem-se dois momentos muito diferentes na elaboração de um poema:
o do entusiamo da criação original, às vezes umas linhas sem grande
sentido, mas carregadas de emoção – algo como um coágulo de sangue na mão
– e depois o da escrita cuidada, pensada, calculada, muito maçador. O
primeiro momento é tão excitante que falamos até de musas, de inspiração
(que evoca o poder mágico do “sopro”) e de entusiasmo – na origem
etimológica, a palavra “entusiasmo” inclui a palavra
theos – estar possuído por Deus.
Depois disto, claro que as fases seguintes na elaboração de uma obra de
arte são entediantes, enfim, depois da revelação chegam o suor e as
lágrimas.
Como se vai notando, não parece que esteja a falar
de ensino em termos académicos, apesar de ter a vida toda como
experiência, mais contudo como aprendiz do que como mestre, visto que não
segui a carreira docente. Dei aulas de Português e Francês, sim, durante
uns anos, numa instituição particular, a adultos, e episodicamente dou uma
lição aqui e outra ali, em universidades e outras instituições, quando me
convidam para fazer palestras ou conversar com os alunos. Não concebo a
ideia de poesia pura, por exemplo, entendo que mesmo um poema contém
conhecimento transmissível, por isso exerce um magistério. Ainda que o não
queira, e muitos poetas não querem isso, mas o conhecimento é inerente às
palavras, não as podemos esvaziar como quem come só a polpa das uvas e
cospe a casca – a língua não é plana, é plena, como diria o grande poeta
Herberto Helder. Por isso todos os meus textos ensinam alguma coisa, em
todos no entanto eu aprendo, até porque não passo sem pesquisa – o Google
tem-me levado a muitas escolas virtuais enquanto vou delineando esta
lição, todos sabem que a mais frequentada de todas é a Wikipédia. Então,
antes de me apresentar como Mestre, quem trabalha sempre é o Aprendiz.
Não é oculto – mas pode vir a ser ocultado, no
futuro, por conveniências da fraternidade – o caminho que leva de Aprendiz
a Mestre, e a mim levou de Portugal ao Brasil, Curitiba, seio da Mata
Atlântica, com as suas árvores frágeis, de tronco pintalgado de branco,
facilmente corruptíveis – as bracatingas (Mimosa
scabrella), tão abundantes nas margens do rio Passaúna. Esse caminho,
que é uma via florestal, foi uma espécie de atalho no ensino normativo,
público, aberto e sem segredos. Porque também existe, no extremo oposto,
como já vimos, um ensino secreto, de palavras veladas. Esse pode ser
individualizado, para acentuar o segredo, e por isso se designa às vezes
por “transmissão de boca a orelha”. Situa-se fora do domínio académico,
muito embora o termo “academia” faça parte do seu léxico e das suas
construções materiais. Já a expressão “de boca a orelha” define a
singularidade do mestrado, que é precisamente o de ser singular: o Mestre
transmite o conhecimento ao Aprendiz sigilosamente, só duas pessoas ficam
envolvidas no processo. Discreto, e mesmo secreto, em certas
circunstâncias, esse conhecimento não se refere às coisas públicas e
vulgares, sim às obscuras e recônditas – a simbologia, aquilo que resta de
antigas religiões, com os seus mistérios e símbolos. Os detentores destes
conhecimentos têm a missão de os preservar, por isso eles vão passando
como testemunho de geração em geração. A este movimento, pois trata-se de
uma corrida contra o tempo em que tudo se esquece, dá-se o nome de
traditio – passagem de
testemunho. O que nas lojas se ensina e aprende e ensina é a Tradição. Se
uma cultura, por hipótese, vivesse só a sua tradição, estagnava, como
frequentemente estagnam as festas populares, que todos os anos repetem os
mesmos atos, como num ritual. Para que a cultura se desenvolva e
enriqueça, à tradição temos de aliar o novo, a criação contemporânea.
Se a Escola Peripatética se refere a Aristóteles,
o termo “Academia” remonta à escola de filosofia assim chamada, fundada
por Platão, igualmente em Atenas. No século XVIII, na Europa, com
propagação ao Novo Mundo, proliferam as academias, algumas muito
importantes, caso da Academia Real das Ciências de Lisboa. Mas havia
outras, pequenas, a que pertenciam poetas e músicos, e essas, por
coagularem em estereótipos, contribuíram para dar má fama à academia: a
partir do século XX, passou a existir conflito entre arte académica
(estagnada, passada) e arte da modernidade, com a aventura desencadeada
pela paixão do novo.
Na generalidade, as academias, também chamadas
grémios e ateneus, foram criações maçónicas. A Maçonaria, na sua linhagem
mais pura, tem objetivos pedagógicos e culturais; deu-se por missão,
nesses tempos, ensinar e educar, contrariando assim o forte impacto do
analfabetismo que cobria de sombras as populações e as tornava vítimas
dóceis dos regimes despóticos, com pavores como a escravatura e
dispositivos de exploração dos recursos alheios como o colonialismo.
Prioridade máxima foi assim a de alfabetizar. No caso brasileiro, é
francamente curioso ver como os elementos populares implicados nos
movimentos independentistas, caso da Revolta dos Alfaiates, em que, ao
contrário da Inconfidência Mineira, aristocrática, só foram presas pessoas
que se esperaria fossem analfabetas, essas pessoas sabiam ler e escrever.
Sabiam porque tinham aprendido na lojas maçónicas, impulsionadoras das
ideias republicanas e independentistas; nas lojas divulgavam-se os textos
políticos fundamentais, uns originados pela Revolução Francesa, outros
pela independência dos Estados Unidos da América.
A criação de academias com as suas respetivas
iniciativas culturais e artísticas representam o lado público, profano e
benemérito da ação maçónica, a ladear o seu lado discreto, reservado às
coisas sagradas e misteriosas. Os mistérios, rituais de religiões antigas, como os de Orfeu e de
Mitra, vieram a reaparecer como pequenas peças de teatro mais tarde,
representadas nas igrejas católicas para educação do povo quanto às
questões da Fé. Ilustravam também passos das Escrituras. O magistério
ministrado na loja, durante a sessão de trabalhos, desenrola-se igualmente
como representação dramática. Cada participante desempenha o seu papel,
seguindo um guião, o texto do ritual adotado em cada caso. Aliás, a
liturgia da missa, entre os católicos, também implica uma dramatização, se
bem que mais discreta no lado dos fiéis. No caso do templo maçónico, só
acessível aos iniciados, todos os participantes executam o rito.
O caso de na maçonaria se ensinar a ler e a
escrever merece comentário, e de novo invoco o problema enorme do
analfabetismo, entrave primeiro da democracia: na Idade Média, e aliás nos
séculos seguintes, a bem dizer só o clero era alfabetizado, de maneira que
uma das ferramentas de ensino era a imagem. As imagens podem ser
complexas, contar histórias, como vemos na pintura, na escultura e na
azulejaria. De tal modo que alguns painéis de azulejos, e estou a
lembrar-me de uns no oratório do Senhor Roubado, à beira da estrada,
quando se entra em Odivelas (Lisboa), são considerados precursores da
banda desenhada, isso a que os brasileiros chamam histórias de quadrinhos,
porque a história se desenrola numa sequência de quadros. Em geral, a
pintura conta a história em um só quadro. Claro, respondo a quem pergunta:
a outra ferramenta de ensino, ainda mais importante, era a oratória, os
sermões e homilias que os padres, de boas cordas vocais, pronunciavam dos
púlpitos, cadeirais elevados, a que se subia por escadas, de modo a que o
orador beneficiasse das melhores condições acústicas. Quanto à literacia,
bem sabemos que ainda hoje não é total em país nenhum, e este é um dos
grandes elementos da pobreza. País pobre não é aquele a que faltam
recursos naturais, é aquele cujos habitantes não têm recursos, a começar
pela aptidão para exercer um cargo ou desempenhar tarefas, inexequíveis
sem alfabetização.
As sociedades iniciáticas, no seu lado misterioso,
preservam e transmitem a Tradição, sistema de conhecimentos religiosos
pertencentes a várias culturas antigas. É neste campo que se situa o meu
caminho de Aprendiz a Mestre, na mata paranaense. Acede-se a tais
conhecimentos mediante a iniciação, que consiste em participar num ritual
– num mistério, se quisermos. Se bem que os graus “académicos” possam ser
33 ou mesmo mais, os deveras importantes são os que todos conhecemos:
Aprendiz e Mestre.
|
| ∴ |
|
Quando comecei a dar aulas, ainda era estudante.
Os meus primeiros alunos foram militares que precisavam de concluir o
liceu para subirem os graus das suas carreiras, numa Guiné-Bissau então
província portuguesa. Os militares pululavam na colónia porque se
desencadeara a guerra pela independência. Dei explicações a vários, mas só
me recordo do Acácio, que reencontrei muitos anos depois, em Lisboa,
a passear na Avenida da Liberdade.
Contou que já alcançara o posto de inspetor da Polícia Judiciária.
Lembro-me dele porque tinha um fraquinho por mim e de vez em quando me
levava presentes. Ofereceu-me a minha primeira Parker, uma boa caneta, de
tinta permanente. Quem usa tais ferramentas nos nossos dias? Só alguns
poetas, como Herberto Helder, que se afeiçoam a dado tipo de instrumentos
de escrita, o caderno de papel quadriculado e a bic preta de esfera fina,
no caso, e os elevam à categoria mítica, quando afirmam que por eles
trocaram a família. Opções destas conhecemo-las melhor na carreira das
armas, quando o herói tudo troca pela espada.
Ultimamente tenho dado explicações a uma primita
que anda no 7º Ano. Cheguei à conclusão de que o ensino vai muito mal, os
garotos não conseguem bons resultados, em parte porque entre o aprendiz e
a matéria a aprender se levanta um muro de lixo burocrático. Lido o texto,
ninguém pergunta: “Onde foi a Carolina”? O teste começa por pedir: “No
segundo parágrafo da alínea c), quinta linha do item 3), segunda coluna…”
Enquanto o aluno tenta localizar sem GPS nem precisão o bocado de texto,
vai perdendo a concentração, a paciência, a vontade, a alegria, e
esgota-se na faina desorientadora o tempo para a realização do teste. Como
estudante nunca fui assim “lidada”, e é mesmo este o termo que me ocorre
como mais acertado – a lide é a técnica de subjugar o touro, de o levar a
ser vencido. “Lide” pode ser sinónimo de “tourada”. Pelo contrário, a
liberdade de movimentos, neles inclusa a imaginação, sempre foi grande, só
assim se explica que tenha obtido em Filosofia a melhor das minhas notas.
Mas liberdade excelsa, inultrapassável, foi a que se verificou depois da
revolução do 25 de Abril, quando os alunos tratavam os professores por tu,
se sentavam desenvoltamente em cima da secretária, voltados para os
colegas, a exporem a sua lição, participavam nas votações de notas e até
tinham delegados com assento na gestão do departamento e da Universidade –
o que não era novo, diga-se, mas revolucionário não é o novo, sim o que
volta com ares de novidade e de salvação do mundo... Por conseguinte,
participação dos alunos na direção da Universidade era prática antiga. Em
séculos transatos, os aprendizes também gozavam destes privilégios,
acrescidos do de votarem as matérias dos cursos e poderem licenciar-se sem
frequência das aulas. Em Portugal, a obrigatoriedade de frequentar as
aulas só apareceu com a Universidade Reformada, no século XVIII, no
ministério do Marquês de Pombal. Eu fiz parte do meu curso sem
obrigatoriedade de frequentar todas as aulas, era aluna voluntária, porque
de dia trabalhava no Museu de História Natural, onde era funcionária, e à
noite dava aulas. Lembro-me de que aos sábados podia ir à Faculdade, mas
entretanto, no Museu, tinha a meu cargo um ouriço-cacheiro vivo. Não o
podia deixar abandonado durante dois dias, então levava-o comigo para
casa, mas de caminho íamos ambos às aulas, sem ninguém saber, o bichinho
calado e quieto no fundo de um saco, aterrado quem sabe com o que ouvia
sem querer.
Apesar de professora diversas vezes, é mais como
aprendiz a minha experiência de ensino e é este também o estatuto que mais
prezo. O fim dos estudos académicos não significa que não precisemos de
estudar mais. Todos continuamos a aprender ao longo da vida – o ditado
garante que a experiência é a grande mestra - , não é necessário que o
Ministério da Educação determine, depois da fase de avaliação pelos
colegas, que os professores contratados ainda tenham de ser submetidos a
exames nacionais, para cúmulo apresentando os testes erros e perguntas
ridículas, como está a acontecer agora, 23 de julho de 2014, em Portugal.
Os professores revoltam-se, com manifestações nas ruas, petições para que
o ministro se demita, e eu dou-lhes razão. Não só saem das universidades
sem nenhuma perspetiva de emprego em Portugal, só lhes restando emigrar,
como ainda por cima têm de ser torturados com testes de avaliação das
aptidões, depois de os cursos já comportarem cadeiras de pedagógicas,
seminários e estágios nas escolas.
Há pessoas que se recusam a aprender, creio que
por se sentirem humilhadas na situação de instruendas, pois o saber dos
outros as inferioriza. A relação Mestre-Aprendiz é hierárquica, a nossa
cultura está muito cristalizada em modelos de superioridade e
inferioridade, de maneira que precisamos de aprender a respeitar aqueles
que sabem mais do que nós sem por isso sentirmos perdida a nossa própria
autoridade. Aliás, o que hoje se verifica de mais perturbador nem é o
muito saber de poucos e o pouco saber das multidões, sim a diversidade dos
conhecimentos do próximo, a despeito da globalização, que tende a fornecer
um mínimo de conhecimentos iguais a grande parte da população do planeta.
É certo que existe essa padronização, evidente sobretudo na TV, com a
música, programas de entretenimento, cinema, modas e léxico oriundos dos
Estados Unidos da América. A globalização é indiscutível, corresponde a
uma nova forma de colonização, mas a diversidade também existe e era dela
que queria falar, pois pode erguer barreiras intransponíveis à
comunicação. Já me aconteceu ficar sozinha com dois garotos brasileiros,
entregues às suas brincadeiras, e não ter entendido nada do que diziam.
Problemas de estereótipos verbais, sim, mas também
de referências culturais muito distintas das minhas. No extremo, se
pusermos uma centena de brasileiros, de franceses ou de indianos, sem
muita graduação académica, a
ouvir uma palestra de Umberto Eco, é evidente que essas pessoas não
entendem nada. José Saramago é contestado em Portugal por quem não
compreende o que ele escreve, mas o problema só se levanta porque ele
ganhou o Nobel de Literatura, isto é, porque alcançou um estatuto de
celebridade que moveu os curiosos a lê-lo. Os que o criticam também não
entenderiam Eça de Queirós, Machado de Assis, e nunca ouviram falar de
Herberto Helder nem de Drumond de Andrade. Isso não invalida outro
problema, o de que a ficção, em especial decorrente da ação do
nouveau roman, ou da
modernidade, em termos mais amplos, aprofundou o fosso entre escritores e
leitores. Porquê? A principal razão, do meu ponto de vista, reside na
perda de gozo – a literatura deixou de dar prazer, pôs de lado o
entretenimento. O prazer é o grande incentivo da vida.
Na altura em que soubermos
mais do que o mestre que nos ensinou, a Humanidade terá subido um degrau
na escada da civilização. Essa é uma grande façanha, mas a razão pela qual
subimos na escala não é essa: o que nos move é o prazer. Causa espanto
certo tipo de pesquisa científica, em geral avançadíssima -
big big science! – que
visa averiguar, verbi gratia,
porque é que as mulheres também
têm orgasmo. Antes do “também” depreende-se que a ciência encheu prateiras
de biblioteca com teses sobre as razões fisiológicas do orgasmo masculino.
Ignoro-as e dispenso o “também”. Digo apenas que a espécie humana
sobrevive porque são boas as ações necessárias à sobrevivência: comer,
beber, ler, etc.. Se o sexo, como os livros, não desse prazer, a espécie
não se teria fixado no planeta. Faltariam estímulos para tão magnos
sacrifícios.
A recusa de aprender é brutal, própria de brutos, de
pessoas levianas. Por isso é tão estimável o amor ao conhecimento, não
esqueçamos que ele é a base etimológica da palavra “filosofia”. Conheço
casos desses, que não são evidentemente o dos professores que reclamam
contra os exames.
Voltemos ao meu longo aprendizado. Depois da graduação
universitária, fiz um monte de pequenos cursos, um, de fotografia, na
Galeria Diferença, onde tive como professores, na parte teórica, dois
importantes artistas de vanguarda: Ernesto de Sousa e Alberto Carneiro.
Alberto Carneiro é o principal cultor da
land art em Portugal, trabalha com materiais em bruto, oriundos da
Natureza, como troncos de madeira, que instala em cenários humanizados de
caráter primitivo. Aliás, na land
art, é o próprio ambiente natural que passa a funcionar como arte. Por
exemplo, no Museu do Côa, dedicado às gravuras paleolíticas da região
(Douro/Côa, em Vila Nova de Foz Côa, Trás-os-Montes), existe uma sala com
uma instalação de Alberto Carneiro, que é sobretudo uma estrutura de
troncos em pirâmide. Parece o esqueleto de uma tenda num acampamento dos
povos que riscaram as gravuras, há 25 ou 30 mil anos. Ernesto de Sousa é
uma figura mais complexa, porque reuniu numa muitas vocações: foi mestre,
cineasta, realizador de programas de televisão, videoplasta, crítico de
arte, poeta, além de fotógrafo, pintor,
performer, tanta modalidade mais
que anima a cena artística desde os anos sessenta do século passado.
Eu sou uma pioneira do uso cultural da Internet, haja
em vista o Triplov, em www.triplov.com. Por isso, a finalizar o rol de
temas em que fui aprendiz, menciono cursos vários de Internet, de
webdesign, e o American Language Institute – o francês, minha segunda
língua, não resolve os problemas do virtual. Quem, nos nossos dias,
dispensa o inglês?
O acesso ao conhecimento mudou muito nos últimos
anos por causa da Internet, com a Wikipédia e diversos dispositivos que
respondem às nossas perguntas. O que há vinte anos exigia um dia na
biblioteca, a pesquisar em livros e revistas, hoje resolve-se em minutos,
em casa ou no café, com o clique do mouse nuns links. A linguagem também
mudou, com a expansão do vocabulário, devido à anexação de termos técnicos
oriundos da língua inglesa. Porém a Internet não soluciona todos os
problemas e nem vou dar exemplos objetivos, só falar do temor perante o
sagrado, esses sentimentos às vezes difíceis de explicar diante de um
livro antiquíssimo, numa sala de reservados de um lugar tão histórico como
a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo. Há outras de
diversíssima história, que conservam livros mágicos, esses livros que nos
põem à prova, como a biblioteca do Convento de Mafra, em Portugal, onde se
encontra a mais rica coleção portuguesa de livros de Alquimia. São os
livros que são mágicos, é a sala onde se arrumam que palpita na penumbra
das altas portadas das janelas meio cerradas, é o saber que à noite as
janelas ficam abertas para os morcegos poderem entrar e alimentar-se com
os insetos que danificam o papel. E aqui o pensamento dá um salto para a
China, Pequim, Cidade Proibida, com o palácio de madeira, guardado pelas
andorinhas. Animais protegidos porque a elas se deve a conservação do
precioso edifício; sem andorinhas, os insetos destruiriam as madeiras.
Os saberes não se equivalem, valorizamos uns mais
do que outros, a ponto de guardarmos para o mais valorizado designações
transcendentes, como “luz”. E assim falamos da
luz do conhecimento e usamos a
imagem do sol radiante para simbolizar a sabedoria. Daí os deuses-sol, a
representarem o conhecimento racional, desde Apolo – cujo
logos se opõe ao
mythos simbolizado por Dionísio, o deus do vinho – até Jesus Cristo,
que se apresenta dizendo: “Eu sou a luz”. Os discípulos tratavam Jesus
como “Mestre”, já que a sua vida se definiu pelos ensinamentos contidos na
“Boa Nova”. Pese entretanto aos mestres da academia, aos deuses e ao Filho
de Deus, o que de mais importante há para aprender não depende da atenção,
das notas tiradas nas aulas, do que retemos da leitura dos livros, nem das
cábulas depende. O que de mais essencial temos para saber só o aprendemos
com a experiência, no sofrimento e no desconforto do nosso próprio
esforço.
Também fiz cursos no CICTSUL (Centro
Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia
e Sociedade da Universidade de Lisboa), de que recordo um,
ministrado por Ana Luísa Janeira, sobre Filosofia das Ciências, outro
sobre jardins, e um outro ainda de Bioética. Do segundo ficou o conceito
do jardim árabe, que me tornou sensível à presença dos ciprestes nas
quintas do Douro. No jardim árabe, os elementos essenciais são o ponto de
água (em lago, tanque ou repuxo), o jasmineiro, o pomar de espinho e o
cipreste. O pomar de espinho
refere-se às árvores de citrinos, algumas introduzidas a partir de plantas
trazidas da China pelos portugueses, caso das laranjas, por isso se
chamadas “portukale” e nomes afins em vários países da Europa. A
tangerineira evoca a antiga cidade portuguesa em Marrocos, Tânger, e pode
ter sido introduzida pelos árabes, tantas vezes intermediários entre o
Oriente e o Ocidente e que tanto deixaram na Europa relacionado com a
agricultura.
O cipreste, na mente portuguesa, está associado
aos cemitérios, por isso não é muito usado como árvore de jardim. As
pessoas são supersticiosas, os seus conceitos estéticos decorrem do
magistério da Igreja, a mais universal e forte das escolas, para bem ou
mal dos nossos pecados. Já a vimos ensinar através das imagens artísticas,
mas ela também ensina mediante a utilização simbólica dos elementos da
Natureza, e em locais tão distantes da nossa rotina pedagógica como os
cemitérios. Já por duas ou três vezes fiz pesquisa em jazigos e
sepulturas, para obter informações biográficas e até artísticas. Por isso
causa alguma estranheza ver os ciprestes apontados para o céu nas quintas
do Douro, e também noutras regiões vinícolas, frente às moradias ou a
delinear as fronteiras dos vinhedos.
Na culturas clássica, o cipreste era considerado
eixo de ligação entre o céu e a terra, por isso associaram-no a Plutão,
deus das zonas ínferas. Mas relaciona-se mais com o céu, pelas virtudes
que fazem dele símbolo do espírito e da vida eterna: figura fusiforme,
perfume e incorruptibilidade da madeira. O cipreste dura séculos, há mesmo
notícia de alguns milenares, daí que a tradição o tenha investido na
categoria de símbolo da eternidade.
Fernando Pessoa escreveu um poema intitulado “Na
quinta entre ciprestes”, vamos ver se nos ajuda a decifrar o enigma da
presença dessa conífera nas vinhas portuguesas:
Na quinta entre ciprestes
Secaram todas as fontes,
As rosas brancas agrestes
Trazidas do fim dos montes
Vós mas tirastes, que as destes...
No rio ao pé de salgueiros
Passaram as águas em vão,
Com tristezas de estrangeiros
Passaram pelos salgueiros
As ondas, sem ter razão.
Poema
secreto como um túmulo. Não se relaciona a sua paisagem com a das quintas
do Douro, mas oferece-nos o típico cenário de morte a culminar na
enigmática árvore. O cipreste é misterioso como os monges de vestido
negro. No poema, o segredo vem da falta de referências a uma realidade
objetiva: não sabemos a quê ou a quem se referem circunstâncias como a de
dar e tirar, e dar e tirar o quê, exatamente, visto que as rosas são
apenas máscaras, símbolos do bem oferecido. Então o poema é de luto,
porque as rosas foram tiradas a alguém, deixando as ondas a chorar as suas
tristezas. Os ciprestes testemunham o caso, enroupados na sua sotaina
preta, a ligarem a terra ao céu. Tudo isto é triste e tumular, adapta-se à
imagem da necrópole, mas não responde à pergunta: porquê os ciprestes nos
vinhedos?
Henrique
Dória, poeta, Mestre, viticultor, interpelado sobre o assunto, ensinou
algo precioso para a nossa lição: os ciprestes e as roseiras são mais
sensíveis que as videiras ao arejo, nome popular de uma série de fungos e
outras doenças que atacam as videiras. Então, quando os viticultores dão
conta do arejo nos ciprestes, sabem que é o momento de sulfatar.
Esta
explicação satisfaz as nossas necessidades práticas de raciocínio mas
deixa-nos água na boca da imaginação. Aproveitemos assim a ocasião para
fazer um pouco de magistério sobre os privilégios do Mestre: nas escolas
públicas, ele tem autoridade sobre o que diz, quer se trate de repetir o
que vem nos livros quer de criar informação; do mesmo modo, o Mestre, nas
sociedades iniciáticas. A sua principal autoridade diz respeito às coisas
do ritual e respetiva simbologia: o Mestre pode e deve interpretar e
reinterpretar os símbolos; se tal acontecer, pode receber a luz em sonho,
de maneira a esclarecer algum significado perdido ou ignorado. Com
diversos objetivos, os poetas surrealistas também recorriam a práticas de
adivinhação, à escrita automática e ao sonho – Freud foi um dos seus
grandes aliados. Em suma, o Mestre detém autoridade não só para passar a
outrem o testemunho do conhecimento, como para criar conhecimento.
Direi
então, e nada garante que crie a partir do zero, apenas que estou a
revelar o que estava velado, que o cipreste figura nas quintas vinhateiras
por ser um símbolo do espírito. Já vimos que ele é alto, esguio, de folha
persistente, que é longeva a sua madeira – usa-se muito o termo
“incorruptível” no discurso simbólico -, que toca o céu, que liga este à
terra pelas raízes, até já apreciámos a sua figura monacal.
Cupressus sempervirens, alusão à
eterna verdura das folhas, é o nome cientifico dos ciprestes comuns, os
que vemos nas vinhas e nos cemitérios.
Tudo isto
faz do cipreste um dos mais conhecidos e fortes símbolos do espírito e da
vida eterna. Pensemos no espírito, pensemos nas uvas: é com elas que
fabricamos as bebidas espirituosas.
Os ciprestes protegem e abençoam o fruto que nos dá o
espírito de vinho, isto é, o
álcool. Nada de mais alquímico para instruir o Aprendiz…
|
 |
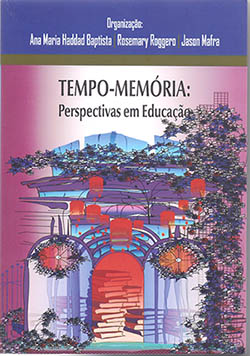 |
Ana Maria Haddad
Baptista, Rosemary Roggero & Jason Mafra (org.)
TEMPO-MEMÓRIA
Perspetivas em Educação
São Paulo, BT Acadêmica, 2015 |
|
| Índice antigo |
|
|
Maria Estela Guedes
(1947, Britiande / Portugal). Diretora do Triplov
Membro da Associação Portuguesa de Escritores,
da Sociedade Portuguesa de Autores, do Centro Interdisciplinar da Universidade de Lisboa e do Instituto São Tomás de Aquino. Directora do TriploV.
LIVROS
“Herberto Helder,
Poeta Obscuro”. Moraes Editores, Lisboa, 1979; “SO2” .
Guimarães Editores, Lisboa, 1980; “Eco, Pedras Rolantes”, Ler
Editora, Lisboa, 1983; “Crime no Museu de Philosophia Natural”,
Guimarães Editores, Lisboa, 1984; “Mário de Sá Carneiro”. Editorial
Presença, Lisboa, 1985; “O Lagarto do Âmbar”. Rolim Editora, Lisboa,
1987; “Ernesto de Sousa – Itinerário dos Itinerários”. Galeria
Almada Negreiros, Lisboa, 1987 (colaboração e co-organização); “À
Sombra de Orpheu”. Guimarães Editores e Associação Portuguesa de
Escritores, Lisboa, 1990; “Prof. G. F. Sacarrão”. Lisboa. Museu
Nacional de História Natural-Museu Bocage, 1993; “Carbonários :
Operação Salamandra: Chioglossa lusitanica Bocage, 1864”. Em
colaboração com Nuno Marques Peiriço. Palmela, Contraponto Editora,
1998; “Lápis de Carvão”. Apenas Livros Editora, Lisboa, 2005; “A_maar_gato”.
Lisboa, Editorial Minerva, 2005; “À la Carbonara”. Lisboa, Apenas
Livros Lda, 2007. Em co-autoria com J.-C. Cabanel & Silvio Luis
Benítez Lopez; “A Boba”. Apenas Livros Editora, Lisboa, 2007;
“Tríptico a solo”. São Paulo, Editora Escrituras, 2007; “A poesia na
Óptica da Óptica”. Lisboa, Apenas Livros Lda, 2008; “Chão de papel”.
Apenas Livros Editora, Lisboa. 2009; “Geisers”. Bembibre, Ed.
Incomunidade, 2009; “Quem, às portas de Tebas? – Três artistas
modernos em Portugal”. Editora Arte-Livros, São Paulo, 2010.
“Tango Sebastião”. Apenas Livros Editora, Lisboa. 2010. «A obra ao
rubro de Herberto Helder», São Paulo, Editora Escrituras, 1010;
"Arboreto». São Paulo, Arte-Livros, 2011; "Risco da terra", Lisboa,
Apenas Livros, 2011; "Brasil", São Paulo, Arte-Livros, 2012; "Um
bilhete para o Teatro do Céu", Lisboa, Apenas Livros, 2013;
Folhas de Flandres, Lisboa, Apenas Livros, 2014.
ALGUNS COLECTIVOS
"Poem'arte - nas margens da poesia". III Bienal de
Poesia de Silves, 2008, Câmara Municipal de Silves. Inclui CDRom
homónimo, com poemas ditos pelos elementos do grupo Experiment'arte.
“O reverso do olhar”, Exposição Internacional de Surrealismo Actual.
Coimbra, 2008; “Os dias do amor - Um poema para cada dia do ano”.
Parede, Ministério dos Livros Editores, 2009.
Entrada sobre a Carbonária no Dicionário Histórico das Ordens e
Instituições Afins em Portugal, Lisboa, Gradiva Editora, 2010; «A
minha vida vista do papel», in Ana Maria Haddad Baptista & Rosemary
Roggero, Tempo-Memória na Educação. São Paulo, 2014.
TEATRO
Multimedia “O
Lagarto do Âmbar, levado à cena em 1987, no ACARTE, Fundação
Calouste Gulbenkian, com direcção de Alberto Lopes e interpretação
de João Grosso, Ângela Pinto e Maria José Camecelha, e cenografia de
Xana; “A Boba”, levado à cena em 2008 no Teatro Experimental de
Cascais, com encenação de Carlos Avilez, cenografia de Fernando
Alvarez e interpretação de Maria Vieira.
|
|