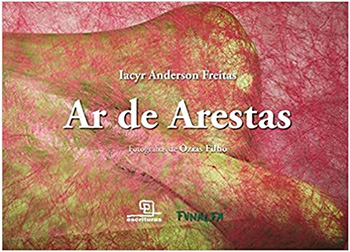ADELTO GONÇALVES
Adelto Gonçalves, jornalista, mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana e doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), é autor de Gonzaga, um poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; Publisher Brasil, 2002), Bocage – o perfil perdido (Lisboa, Editorial Caminho, 2003; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – Imesp, 2021), Tomás Antônio Gonzaga (Imesp/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em terras d´el-rei na São Paulo Colonial (Imesp, 2015), Os vira-latas da madrugada (José Olympio Editora, 1981; Letra Selvagem, 2015) e O reino, a colônia e o poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo 1788-1797 (Imesp, 2019), entre outros. E-mail: marilizadelto@uol.com.br.
I
A precariedade da vida ou a dor da partida – este é o tema de um longo poema de Iacyr Anderson Freitas que se lê em Ar de arestas (São Paulo, Escrituras Editora, Juiz de Fora-MG, Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage-Funalfa, 2013), livro finalista do Prêmio Jabuti e semifinalista do Prêmio Portugal Telecom. Em quadras rimadas, com versos heptassílabos, trata-se de um peça que medita sobre a precariedade iminente do ser, sobrepujado pela manifestação da dor, que lhe é transfigurada “através da exploração sistemática de um sistema de símiles e metáforas”, como observou o crítico, contista, ensaísta e tradutor Paulo Henriques Britto em enriquecedor posfácio que escreveu para este livro.
É um poema que diz muito a quem já chegou perto daquela idade a que chamam de provecta, ainda que o seu autor esteja a certa distância dela, mas, como se sabe, tudo é uma questão de tempo, que passa implacavelmente. De fato, o “eu poético” se expressa e procura comunicar ao leitor a chamada emoção estética, tratando de transmitir um sentimento vago e pouco confortável que é a aproximação do fim de tudo, que vem com a chegada da serpente, aqui significando a morte. E do qual, portanto, o leitor não sai ileso. Leia-se, por exemplo, este trecho:
Desse gênero de dor / – que é quando todas as lentes / voltam-se ao corpo, no ardor / de exterminar as serpentes / que o feriram sem perdão –, / desse gênero, dizendo / melhor, tipo ou modo, então, / não há margem nem adendo: / dele nada se transforma, / nada se cria, apenas / o corpo conhece a norma / de assumir as próprias penas, / de mirar-se num espelho / fraturado, eternamente. Ao centro, um ponto vermelho: o lugar onde a serpente / derramou toda peçonha. / Só tal lugar interessa, / o da dor, da dor medonha, / que ao corpo impõe sua pressa. / Como foi escrito acima: / dessa dor nada se cria. / Mesmo a morte se aproxima, / abatendo mais um dia.
É também um poema do qual se pode dizer “que se fecha em si mesmo, universo autossuficiente e no qual o fim é também um princípio que volta, se repete e se recria”, repetindo-se aqui uma frase do poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz (1914-1998) que está em O arco e a lira (1956). Tanto que, ao final do poema, o poeta recorre à imagem do ouroboros ou uróboro, símbolo antigo que representa a cobra comendo sua própria cauda, ou seja, do grego oura ou a cauda, e boros, de comer.
Assim, a imagem daquele que come a cauda procura significar a renovação perpétua da vida e do infinito, a eternidade e o eterno retorno ou a morte e o renascimento, a exemplo da fênix, a ave da mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, ressurgia das próprias cinzas.
Eis o epílogo do poema: Tudo retorna ao início, / a serpente engole a cauda / e, em suma, este exercício / correrá de lauda em lauda / sem ter fim. Antes fechar / a conta: ceifar o clero. / Nada sobrou no alguidar / – lida noves fora zero. / Quando a tortura termina, / eis que o tempo recomeça / a colher em cada esquina / os venenos da promessa. / Tal colheita quer que tudo / tenha na dor vida nova, / que a própria vida – seu ludo – / fique onde a dor se renova.
II
Iacyr Anderson Freitas (1963), nascido em Patrocínio do Muriaé-MG, é engenheiro civil e mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)-MG. Fez sua estreia na poesia em 1982, com a obra Verso e palavra. Desde então, publicou mais de vinte obras, tendo afirmado sua voz no cenário do Brasil contemporâneo, já com várias premiações, inclusive no exterior. Está presente em mais de 20 antologias publicadas no Brasil e no exterior, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Malta e Portugal.
Com Quaradouro (2007), foi semifinalista do Prêmio Portugal Telecom), e com Viavária (2010), primeiro lugar no Prêmio Literário Nacional do PEN Clube do Brasil. Publicou três livros de ensaio literário: Heidegger e a origem da arte (1993), Quatro estudos (1998) e As perdas luminosas: uma análise da poesia de Ruy Espinheira Filho (2001). E dois livros de ficção: O artista e a cidade, álbum comemorativo dos 150 anos de emancipação política de Juiz de Fora (2000), e Trinca dos traídos (2003). Em 2016, publicou Estação das Clínicas. Publicou ainda três livros de poemas para o público infanto-juvenil.
III
Para enriquecer ainda mais a obra, este livro traz fotografias do jornalista, poeta e fotógrafo Ozias Filho, que foram obtidas em 6 de fevereiro de 2012, quando as cenas do poema foram traduzidas para a linguagem corporal do Laboratório de Movimento e Performance l´Mmoving, na Universidade de Lisboa, pela coreógrafa Marina Frangioia. E que foram registradas a uma época em que aqueles versos ainda eram inéditos.
Para ajudar a penetrar nas sutilezas das imagens de Ozias Filho, há ainda um posfácio escrito pela fotógrafa moçambicana Susana Paiva, coordenadora da revista digital Flânerie e editora da coleção Reflex, dedicada à publicação de ensaios sobre fotografia.
Ozias Filho (1962), carioca, é formado em Jornalismo pela Faculdade Hélio Alonso e em Fotografia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio de Janeiro, e pós-graduado em Edição e Novos Suportes Digitais, pela Universidade Católica Portuguesa. Vive em Portugal há três décadas, tendo trabalhado no jornal O Primeiro de Janeiro, do Porto. Foi de 1999 até 2011 o responsável pela Editora Vozes, em Lisboa. Em 2005, lançou, por Edições Pasárgada, o livro Páginas despidas.
Em 2006, participou da coletânea de contos Con-to-Con-ti-go, da Livrododia Editores e, em 2008, publicou, pela mesma editora, o livro de fotografias Santa Cruz, com poemas de Luís Filipe Cristóvão. Em 2010, integrou a coletânea de contos Só agora vejo crescer em mim as mãos de meu pai e, no ano seguinte, publicou o livro de poemas O relógio avariado de Deus, ambos por Edições Pasárgada. Produziu fotografias para capas de livros de diversos autores, tendo publicado também em várias revistas internacionais de cultura.
Lançou em 2001, pela Editora Alma Azul, o livro Poemas do dilúvio. Idealizou e protagonizou na Casa da América Latina, em Lisboa, vários projetos: Uma hora com os poetas, Noites em Pasárgada e Neruda com amor. Expôs recentemente no projeto português On the Wall (de fotografias feitas por smartfones). É editor do blogue O relógio avariado de Deus. Tem uma página profissional em Ozias Filho Photographer.
Ar de arestas, de Iacyr Anderson Freitas
Com fotografias de Ozias Filho.
São Paulo/Juiz de Fora-MG: Escrituras Editora/Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa)
80 páginas, R$ 34,00, 2013. Site: www.escrituras.com.br E-mail: escrituras@escrituras.com.br