
FRANCISCO SARAIVA FINO
Francisco Saraiva Fino é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses, pela Universidade do Porto e mestre em Criações Literárias Contemporâneas pela Universidade de Évora, na especialidade de Teoria da Criação Literária. É colaborador do CEL (Universidade de Évora) e membro das Comissões de Espólio e de Edição da obra do poeta Daniel Faria, tendo sido responsável, nesse âmbito, pela edição de O Livro do Joaquim (2007 / 2019) e Sétimo Dia (2021). É autor de A Multiplicação do Espaço – Ensaios sobre a Poesia de Daniel Faria (Teórica Editora, 2020). Além de outros projetos de edição, é autor de ensaios e recensões publicados em revistas nacionais e internacionais. Desenvolve investigação nas áreas da poesia portuguesa moderna e contemporânea, na teorização crítica e nas relações entre discursos artísticos.
O aedificatio summae bonitatis,
Quae es lux munquam obscurata.
Tu enim es ornata in aurora et in calore solis.
Hildegard von Bingen, Sequentia De Sancto Ruperto
Em Le Musée Imaginaire, André Malraux começa por definir o museu como um confronto de metamorfoses entre as coisas e as suas imagens. No museu, a função da obra de arte é a de ser obra de arte, o que supõe convocar na imaginação do visitante todas as obras-primas expostas ou ausentes num processo de descoberta mental que confere à curiosidade e à memória (seja verdadeira ou falsa) os seus fundamentos. O museu conserva coisas e imagens no silêncio recolhido daquilo que aguarda o movimento da atenção. A rápida massificação da imagem debate-se com o seu previsível esgotamento sem a garantia do tempo necessário à perceção do sentimento de ausência de que cada uma se reveste assim como dos vínculos que elas asseguram de forma mais ou menos involuntária com certas experiências textuais. A velocidade contemporânea apenas superficialmente aceita a metamorfose, empregando-a com frequência no pitoresco lúdico das montagens instantâneas e acríticas das opiniões consensuais. Em contraste, a interrogação dos limites entre a imagem e texto mostra-se mais fecunda na revelação da sua aporia constitutiva, a qual, na perspetiva de Maria Augusta Babo (2017: 36), consiste na averiguação da sua reciprocidade: “se o limiar do texto é a imagem, então, o limiar da imagem é o texto”.
A estreia na publicação literária de Alexandra Soares Rodrigues, doutorada em Linguística Portuguesa pela Universidade de Coimbra e Professora Coordenadora do Instituto Politécnico de Bragança, traz a cada leitor a essência da aporia citada no desejo de comunicar a variedade de experiências metamórficas que, nas circulações contínuas entre palavra e imagem, induzem à contingência interpretativa inerente ao trabalho poiético. A sensação de ambiguidade é introduzida de imediato no título da obra, em francês, onde Cluny poderá sugerir a referência à maior igreja abacial românica da Idade Média quase inteiramente destruída durante a Revolução Francesa, e ainda ao museu homónimo em Paris em cujas coleções medievais se conserva, entre outros objetos, a famosa série de tapeçarias de La Dame à la Licorne, inspiradora de vários textos de Rilke. Não sendo fornecida uma resposta concreta, o primeiro poema, também em francês, apenas assegura o imaginário como centro motriz do texto, secundarizando a problemática em torno da realidade toponímica e geográfica – “Cluny n’existe pas” (p. 4) – a favor da sua realidade verbal e simbólica: “Tous les mots le construisent / Tous les roses le labyrinthisent” (idem).
De facto, enquanto limiar, o terceto anterior confere o tom arquitetural do livro, visível na edificação alegórica que toma um elemento real e poético, a rosa, como essa “auréola do labirinto / do signo / perfeito // imagem de si / em pecíolo cruzada / nome dos nomes / éter dos éteres // mistério da palavra / no tecido / da encruzilhada”, de acordo com o poema seguinte (p. 5) e posteriormente desenvolvido na interceção entre imagem e linguagem em outra composição de que citamos apenas uma estrofe:
uma rosa
é um nome
imagem ecoando
no espaço da vertigem
entre o som e o sentido
entre a propriedade
da fragrância
e a pureza
da consciência (p. 34)
Convocar a rosa significa convocar o nó hermenêutico no qual convergem tanto as possibilidades disponíveis de imagem e sentido como as que derivam da experiência ambígua da sua leitura, porventura ancoradas no poema anterior nos dois primeiros versos que, em simultâneo, predispõem o imaginário não apenas para a obra medieval de Guillaume de Lorris e Jean de Meun, Le Roman de la Rose, como para o mais conhecido romance histórico de Umberto Eco, cujo título, de resto, recorre à pregnância dos significados para criar no leitor o efeito de desorientação no labirinto das suas potencialidades (cf. Eco, 1985: 8). Noutro poema, elas são o “percurso de um pensamento / aninhado / dentro de um imo de um átomo” (p. 36) cujo nó (“nudo”) se desfaz em pensamento. O que ASR consegue reaver nestes e nos restantes versos é o renovar da atenção a uma mundividência que, afastada há muito do rigor teológico, se mantém habitado de significados estéticos e alegóricos que o texto, entidade labiríntica, redescreve na sua condição de herdeiro ambíguo do Verbo divino. O texto poético assume o poder simbólico que outrora Alain de Lille atribuíra à rosa como “graciosa glosa” da condição humana (apud Eco, 1989: 87) mas na diferença de na obra de ASR reivindicar com veemência, nas suas circunvoluções imagéticas e acústicas, a elevação estética do Homem. É nesse sentido que a arte medieval nela surge enquanto interlocutor significativo, fornecendo temas e tópicos para a enunciação de uma nova cosmogonia poética, descrita nos poemas seguintes (pp. 6-8), e para a composição de uma cartografia simbólica distinta, cujas coordenadas passaremos a percorrer.
O espaço e a arquitetura formam ao longo dos poemas de ASR pontos de referência constantes em torno dos quais gravitam alguns dos símbolos mais reiterados, caso da ave, do anjo, do dragão ou da estrela, além da já referida preponderância da rosa enquanto “signo perfeito” no centro do labirinto, assistida pela variedade meronímica das pétalas, cuja presença também é de assinalar. A rosácea textual desvela-se numa topografia preferencialmente dirigida ao imaginário etéreo da verticalidade através dos topoi mencionados, combinados com a referência repetida ao merónimo “asa” (ou “ala”) em poemas como “em que posição / dormirão os anjos?” e “Eis o dragão” (p. 27), constituindo ambos expressões da força ascensional responsável pelo despertar de toda a Natureza de acordo com a conhecida interpretação de Gaston Bachelard em L’ Air et les Songes (cf. Bachelard, 2001: 70). No sentido do dinamismo transformativo, contamos ainda com a série de “Drôleries” (pp. 20-21; 24, 25), nas quais o espaço é tomado numa série ritmada de metamorfoses que, simulando o percurso visual dos iluminadores nos códices, preenchem a continuidade icónica do sonho que envolve todas as coisas. Transcrevemos o exemplo de “Drôleries outras” (p. 25):
da pegada do dragão
nascem das rosas
os espinhos aduncam-se
em garras
e o corpo-sonho
evola-se
nas pétalas
fragrantemente róseas
A “drôlerie”, no vocabulário codicológico, remete para a presença de figuras híbridas e grotescas situadas marginalmente nos confins da página, outras vezes nas iniciais capitulares, em qualquer dos casos testemunhando a originalidade criativa do artista iluminador na capacidade de constituir no pormenor um foco de atenção para o leitor. A minúcia e o engenho na divulgação de uma mensagem moral no confronto tradicional entre as forças do Bem e do Mal garantem a duração infinita da presença simbólica dos seres representados, conforme ASR refere no final do poema “eis o dragão” ao assegurar que “em pintura terei / a minha perpetuação” (p. 28). Esta promessa de perenidade do símbolo na representação pictórica e na palavra escrita recobra a preocupação medieval de não suprimir qualquer uma destas dimensões, ideia que encontramos no prólogo ao Livro das Aves de Hugo de Folieto (século XII), no qual se afirma a intenção de não se desejar “pintar a pomba dando-lhe forma, mas também descrevê-la por palavras, para elucidar a pintura por meio da escrita” (Folieto, 1999: 59). Nesse nó visual assenta uma parte importante da arte poética deste livro, que em certos momentos recupera explicitamente a referência a um objeto específico, caso do poema “Codex Manesse” (p. 31), belíssima composição ecfrástica elaborada a partir de um fólio do manuscrito conservado na biblioteca da Universidade de Heidelberg:
o rosto
tomba
sobre o rosto
a mão
pende
do esquecimento
do corpo
o falcão
toca
a rosa desabrochada
quiasmo perfeito
da harmonia entrelaçada
O apuramento formal destes versos, numa brevidade inclinada ao silêncio e habilmente dispostos em torno de sucessivas aliterações e assonâncias, transporta o leitor para o olhar pormenorizado sobre a intemporalidade do encontro amoroso a partir do Minnesang (o cantar de amor), género literário composto em alemão antigo de que o códice citado é o mais famoso repositório. Já num outro exemplo, o poema “o moinho e a cruz”, referência ao filme de 2011 do realizador Lech Majewski inspirado na tela “Caminho do Calvário” (1564) de Pieter Bruegel, o Velho, a profusão de pormenores, figuras, planos e situações representados na pintura caminha para a tridimensionalidade do objeto cinemático através do acolhimento do elemento sonoro que o imaginário medieval havia tornado indispensável enquanto meio privilegiado de expressão da comunidade (cf. Zumthor, 1984: 108). Dando continuidade ao processo transformativo já referido, neste poema o som é representado como elemento de queda – “Caem como gotas / os sons finíssimos e frios //da melodia // caem / e perfuram / a pele / do cérebro” (p. 85) –, para se revelar no final da composição meio de elevação estética do sujeito, de novo através do onirismo do voo:
(…)
uma esperança
prolonga-se
desde um horizonte
que se forma nos ouvidos
as asas
começam a nascer
no cérebro
e o espírito
voa
sustentado pelas
gotas do som (pp. 86-87)
O poder transformativo da obra de arte introduz no museu imaginário pessoal o sublime como transporte para a topografia simbólica do Paraíso, outro dos topoi desta obra, revisitado na perspetiva medieva do hortus conclusus ou hortus deliciarum, como nos é apresentado em vários poemas (pp. 42-44; 46-50, entre as referências mais acessíveis), mas aqui afastado da dimensão religiosa da recompensa eterna depois da morte. Dele se conserva a sinestesia do puro espaço de contemplação serena da beleza, por vezes num registo próximo da hedonê epicurista na associação à convicção materialista do final inelutável, como se pode constatar nos versos “então / contemplaremos / todos os átomos / todos na sua infinitude / e dar-lhes-emos tonalidades iridescentes / e descobriremos / a inerência da inexistência / e perpetuar-nos-emos / na docilidade / do nenhum porvir” (p. 44). O Paraíso como “vertigem fabulosa” (p. 49) desvela-se simbolicamente como espaço nodal onde belo e sublime se entrelaçam em imagem e palavra, denotando, em nosso entender, o compromisso que esta poesia assume com uma certa mundividência romântica de que a atenção concedida à Idade Média enquanto período criativo constitui também indício relevante; de facto, o imaginário gótico e tardo-medieval representado em muitos poemas prossegue de bastante perto a revisitação romântica a este período histórico no âmbito da relação entre a arquitetura, a Natureza e a expressão do Infinito, conforme podemos ler numa das últimas composições da obra (pp. 89-90):
este é
o Jardim-Catedral
arcos e ogivas vegetais
pontiagudam-se na procura
da vertiginosidade alada do azul
ramagens de contorções rendilhadas
pinta-as
a luz
em vitrais
neles se narram
os grandes mistérios do universo
as extremidades florescências-rosas
guiando a verticalidade do espaço
para o candor do etéreo
a nave construída pelos passos
nele se desemaranham
os sentidos
gorjeios de aves-sinos
estancam
o pluriturbilhão da mente
condescendem-na à contemplação
sagram-na aos alvores
da captescência
O início do poema remete para a conhecida formulação de Schelling na Filosofia da Arte (1802-1803) sobre a Natureza como modelo orgânico da arquitetura gótica, repositório dos motivos ascensionais que caracterizam o sentimento infinito do universo. Por seu lado, a Catedral gótica e os seus labirintos vegetais convergem no simbolismo do Jardim-Éden e na horizontalidade dos seus muros, de acordo com a tradição pictórica da sua geometria quadrangular, representada, por exemplo, no mapa-mundi do Beatus de Liebana do mosteiro de Silos (séc. XII); como figura da totalidade , o Jardim-Catedral é ainda espaço de encontro entre as imagens e a linguagem poética, singularizada aqui e ao longo da obra através de uma cuidada prospeção rítmica e verbal, a que se congrega o efeito surpreendente da criativa variação morfológica de vocábulos como “pontiagudam-se”, “pluriturbilhão” ou “captescência”, certas extrações cultas (caso de “nudo” ou “imo”, palavra repetida em vários poemas) e o entrelaçar de citações bíblicas e de orações em latim, pistas possíveis para a sensação enigmática que esta poética também partilha com a experiência finissecular do Simbolismo, reconhecível nos versos que passamos a reproduzir:
auriflama
flâmula
pluma de seda vertida
como
mulier amicta sole
estrela cadente
candente
debulhando-se
num ocaso de luz
nos mares da noite (p. 41)
As imagens sugerem trânsitos acústicos e luminosos que as palavras vão libertando dos seus corpos ambíguos, promovendo a circulação contínua entre a claridade e a escuridão que, por instantes, cada poema revela durante o tempo de leitura, como os relâmpagos iluminando bruscamente o moinho na pesada treva, um dos momentos sublimes do filme de Majewski, antes de, como na sua sequência final, regressarem ao silêncio contemplativo dos corredores e salas do museu de Viena onde o quadro de Bruegel, ao lado da “Torre de Babel”, aguarda pacientemente os seus visitantes.
Ouïr l’indiscutable rayon, o incitamento de Mallarmé em Crise des Vers, alcança na primeira obra de Alexandra Soares Rodrigues um acolhimento singular e, em nosso entender, essa é apenas uma das razões para o regresso atento a esta poesia.
Francisco Saraiva Fino
Referências bibliográficas
BABO, Maria Augusta, “Da Imagem na Linguagem”, in Imagem e Pensamento, org. Moisés Martins, José Bragança de Miranda, Madalena Oliveira e Jacinto Godinho, 2.ª ed. Vila Nova de Famalicão: Edições Húmus, 2017.
BACHELARD, Gaston (2001) – O Ar e os Sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento, trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes.
ECO, Umberto (1985) – Apostille au Nom de la rose, trad. Do italiano de Myriem Bouzaher. Paris: Éditions Grasset.
ECO, Umberto (1989) – Arte e Beleza na Estética Medieval, trad. António Guerreiro. Lisboa: Editorial Presença.
FOLIETO, Hugo de (1999) – Livro das Aves, trad. Maria Isabel Rebelo Gonçalves. Lisboa: Edições Colibri.
MALLARMÉ, Stéphane (2005) – Poésies et autres textes. Paris: Le Livre de poche.
MALRAUX, André (2011) – O Museu Imaginário, trad. Isabel Saint-Aubyn. Lisboa: Edições 70.
ZUMTHOR, Paul (1984) – La poésie et la voix dans la civilisation médiévale. Paris: Presses Universitaires de France.
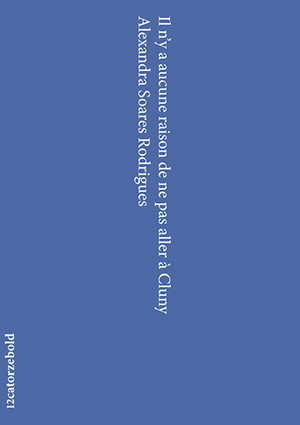
Alexandra Soares Rodrigues
Il n’y a aucune raison de ne pas aller à Cluny
Edições Húmus / coleção 12catorzebold 35,
Vila Nova de Famalicão, 2022
98 pp.

