
FRANCISCO SARAIVA FINO
Francisco Saraiva Fino é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses, pela Universidade do Porto e mestre em Criações Literárias Contemporâneas pela Universidade de Évora, na especialidade de Teoria da Criação Literária. É colaborador do CEL (Universidade de Évora) e membro das Comissões de Espólio e de Edição da obra do poeta Daniel Faria, tendo sido responsável, nesse âmbito, pela edição de O Livro do Joaquim (2007 / 2019) e Sétimo Dia (2021). É autor de A Multiplicação do Espaço – Ensaios sobre a Poesia de Daniel Faria (Teórica Editora, 2020). Além de outros projetos de edição, é autor de ensaios e recensões publicados em revistas nacionais e internacionais. Desenvolve investigação nas áreas da poesia portuguesa moderna e contemporânea, na teorização crítica e nas relações entre discursos artísticos.
J’ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre;
des chaines d’or d’étoile à étoile, et je danse.
Arthur Rimbaud, Illuminations.
Dancei num matadouro, como se o sangue de todos os animais que à minha volta pendiam degolados
fosse o meu. Dancei até que em mim houvesse espaço para um poema
de que todas as imagens depois fossem desertando.
Luís Miguel Nava, O Céu Sob as Entranhas.
No início do livro de Nietzsche, no momento da descida da montanha para junto dos homens, o velho eremita afirmava ter reconhecido Zaratustra pelas suas maneiras de dançarino. A dança da vida, a que reivindica “o ouvido nos dedos dos pés” (Nietzsche, 1988: 225), configura expressivamente a vertigem do abalo essencial à superação contínua do homem, tema caro à Modernidade. No registo do movimento próximo da terra e dos instintos, a revelação da liberdade do espírito circula, apressada, na corda instável que liga a organização apolínea à desrazão dionisíaca e percorre o caminho de regresso; o poeta moderno abraça as experiências da instabilidade com a sofreguidão de quem se sabe no trânsito entre as duas, escutando a experiência dos abismos com a mesma delicadeza palmar com que procura o equilíbrio de todas as sensações que consegue obter. A imagem do frenesi combina eficazmente a suspensão provisória da contemplação melancólica do mundo com a fundação sagrada da expressão das forças que precederam a harmonia cósmica. O corpo em transe – em trânsito – representa a possibilidade de se dispor à pura estesia com a suspensão momentânea do governo racional da alma que o ethos dispusera como sinal intrínseco do humano. A Modernidade soube dar conta da representação artística deste princípio frenético com grande eficácia, entre outros exemplos variados na admiração pelo “Shakespeare da sensação” Walt Whitman, cujo canto do Homem Moderno levou Álvaro de Campos a declarar na ode de Saudação ao poeta americano o desejo de seguir com ele, de mãos dadas, “dançando o universo na alma”.
De facto, o nervo futurista não cessou de olhar com fascínio para a epilepsia, reconhecida na Antiguidade como morbus sacer, e de a ligar a eventos vanguardistas como o “cabaret epilletico” concebido por Marinetti em colaboração com o fotógrafo e cineasta Anton Giulio Bragagglia, experiência que o Cabaret Voltaire dadaísta viria a considerar nas suas próprias condições com o impacto conhecido. Também a “beleza convulsiva” do surrealismo de André Breton não se encontra distanciada de fontes mórbidas, sobretudo dessa histeria que assombrara a etiologia do génio ao longo do século XIX e que Fernando Pessoa estudara com perseverança a partir da leitura, entre outros, de Lombroso, ao ponto de a destacar tanto no perfil nosológico do ortónimo como de algumas personalidades pré-heteronímicas. Contrariamente à neurastenia, que o poeta da Mensagem também privilegia nos seus escritos, e ao spleen finissecular, a epilepsia, por vezes referida nos apontamentos de Pessoa como “histero-epilepsia” (cf. Pessoa, 2006: 131-136), constitui um poderoso dispositivo cinético-visual capaz de surpreender objetivamente a suspensão momentânea da racionalidade pelo assalto e posse involuntária de forças naturais (o fogo, a eletricidade) sobre o espírito humano.
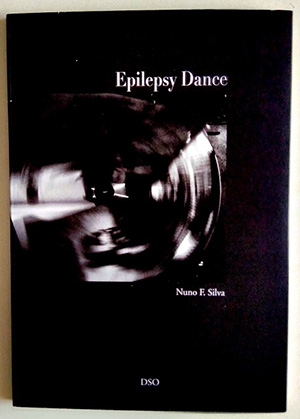
As ideias de performatividade espontânea e de vanguardismo animaram o mito artístico do vocalista inglês Ian Curtis, que Nuno F. Silva (n. 1994) recupera tanto no título da sua obra como na sequência de epígrafes iniciais, ambas fragmentos de letras de canções do grupo de rock pós-punk Joy Division. A epilepsy dance como estilo característico do cantor em palco vinha combinar ambiguamente os níveis de experiência real (Ian Curtis sofria, de facto, de crises de epilepsia) e fictivo, este reservado à dramatização dos transes que, em certas circunstâncias, chegaram mesmo a revelar-se autênticos. O “fingimento da dor” (deveras sentida) seria mediado em cena pela expectativa do público para quem a exibição convulsiva do corpo cumpria um desígnio aurático à medida que o ritmo musical se sincronizava com a contorção acelerada do cantor e a sua gestualidade estranha. A visualidade produzida nos concertos a partir dos sons e esgares do “corpo teatralizado” alcançou, através da imagem-vídeo, a experiência de memória que ainda hoje permanece, reatualizando-se a aceleração nos dispositivos cinemáticos de gravação, reprodução e de divulgação tecnológica disponíveis. Em certo sentido, estes dispositivos prosseguem a imediaticidade do flash fotográfico que, no século XIX, garantira a Jean-Martin Charcot a construção de uma certa memória espetacular da histeria através da célebre Iconographie photographique de la Salprêtrière (1876-1877) de Bourneville e Régnard, álbum que vinha complementar as célebres sessões de hipnose que o médico praticava em público no anfiteatro do hospital. O registo de contorções “histero-epiléticas” consta entre outras representações de movimentos físicos e da facies alienada que a cronofotografia de Albert Londe se encarregaria de captar ao serviço de Charcot, num processo contemporâneo das experiências de Muybridge antecessoras da criação do cinema.
A fotografia da capa do livro de Nuno F. Silva, da sua autoria, parece expor a reminiscência dos procedimentos descritos ao recuperar a busca da captação do movimento na forma de representação do vórtice de um instante, no qual o trânsito da memória se vai diluindo na composição imagética da aceleração no crescendo vertígico do “ganhar o espírito, perdendo a sensibilidade” (“I’ve got the spirit, lose the felling”) sublinhado na letra de “Disorder”, uma das canções do grupo citada na epígrafe. A dança circulatória da imagem, porém, não encontra nas duas partes que constituem a obra – “Hóspede Ausente” e “O Canibal de Memórias” – mais do que os estertores desses movimentos, como se a capa funcionasse como representação monocromática do verdadeiro centro do redemoinho lírico de que todos os poemas procurariam dar testemunho através das centelhas ainda reconhecíveis do anterior excesso de pulsações. Nesse sentido, o presente assume na obra a violência do abandono e da desaceleração que antecede a ameaça de inércia ou antes a repetição aparentemente sem saída do desabrigo das emoções, como é possível ler em “Dois Tiros de Pólvora Seca” (p. 14):
O retrato do poeta
sentado à mesa:
A esferográfica
é a arma escolhida
para gravar a cena do suicídio
em slow motion.
À primeira vista
é um animal imóvel,
catatónico.
A boca sabe a um sonho
sinistro.
Nos olhos passam
fotogramas de um futuro
sem morada.
Talvez o amanhã
esteja guardado
para morrer sozinho
se os navios
o levarem para longe
e não houver regresso
Será ainda cedo
Para criar pés e fugir?
O que os olhos guardam desses tempos de assombro já se encontra subjugado pelo sentido introspetivo do caminho para a inação, ainda que os versos procurem, sobretudo na segunda parte, prolongar o sentimento pós-catártico dominante. O “corpo avariado” (p. 16), o “corpo lento, / quase insondável” (p. 27) escutando a morte, persiste na circularidade do desejo de regresso à condição anterior de que perdeu a vertigem do ritmo e a emoção transbordante. O “corpo teatralizado”, orgânico na sua unidade visual e gestual dinâmica, cede lugar à inorganicidade dos thaumata, marionetas sujeitas à manobra do thaumatourgos. A transformação impôs o pensamento da imperfeição e a consciência da representação de um duplo diabólico do sujeito indiretamente reconhecido na sua estranheza pelo conjunto de sinais que o anunciam e já não pela espetacularidade instantânea da sua aparição. Num dos poemas mais representativos do primeiro conjunto e de todo o livro, “A Obra-Prima de Gepetto” (p. 20-21), o som da matéria imperfeita pressagia a chegada sinistra de um ser sentido como desmanchado e amaldiçoado em busca de alguns sinais de humanidade:
Tudo isto são demónios.
Não,
são pernas,
pernas mal desenhadas.
Pernas bailarinas,
desobedecem à lei
do silêncio.
Outrora,
não me lembro bem,
devo ter escarrado
na carpintaria.
Nunca poderei chegar
de surpresa.
Ouvir-me-ás,
antes que eu apareça,
o pé direito,
metrómeno que marca
o tempo musical
da minha aparição.
Como no cinema,
o monstro chega
sempre através do som;
No amor
é um susto idêntico,
é certa violência
da cena final.
Mas escolhemos
a banda sonora.
O rodopio vertígico da cronofotografia, também ela constrangida à ação taumatúrgica, cede lugar ao controlo cinematográfico do tempo sonoro, de uma estesia do desvendamento – o “monstro” é, por definição, aquele que se dá a ver, o ser que se expõe na alteridade dissonante – cujo efeito sinistro pretende deslocar a perceção da performatividade insólita da representação para a qualidade emocional do sujeito. O slow motion de “Dois Tiros de Pólvora Seca” supõe um enquadramento diferente, mais suscetível a comprometer o espectador no enredo trágico anunciado do que o voyeurismo lúdico das experiências de Charcot, concentrado na documentação técnica de habilidades epistémicas. Já da epilepsy dance de Ian Curtis subsistem resquícios da violência suicidária que se quis representada involuntária e poeticamente sob o domínio de forças contingentes. Na obra de Nuno F. Silva, a diferença reside na dominância autorreflexiva e na perceção obsessiva do tempo, cuja permanência circunscreve a sugestão da catástrofe diária de um corpo desarticulado até às fibras do coração e a insistência narcísica de quem se vê assolado pela incapacidade de regressar à plenitude do período irracional das emoções. A pujança espetacular da epilepsia dá lugar ao frémito breve, à oscilação débil cujo regresso na forma de recordação (recordare, ‘repetir, voltar a passar pelo coração’) estimulará o crescimento do pathos e dos sentimentos mais funestos. Lemos em “Encontraram um Dedo na Engrenagem” (p. 11) que
Uma dor lateja
E sobe
até aos olhos
de uma carpa de sangue.
Os dias são cópias
plenas de gravuras
a preto e branco
daquelas que nos davam
no primeiro dia de aulas.
para nomearmos a besta.
Confirmo hoje o medo
que tinha na infância:
Uma trituradora.
Trago no bolso,
uma maquete estúpida
de outro sonho.
O sinistro como condição e limite do belo cumpre nesta poesia a perspetiva de Eugenio Trías (2005: 51), que pensou a revelação do primeiro sob a forma de ausência “numa rotação e oscilação em espiral entre realidade-ficção e ficção-realidade, que nunca perde o seu vacilar perpétuo”. O seu anúncio instala-se na vida com argúcia, confundindo-se com o permanente estado de exceção que ambiguamente traduz a vivência emocional do sujeito conforme se proclama no primeiro conjunto de “Good Morning, Citizens” (p. 23) – “(…) Como quem aguarda que algo aconteça, / o fim repentino do mundo / sem sirenes nem tempo / para declarar estado de emergência. // O verdadeiro poema de amor / será escrito em estado de sítio.”. A vacilação, neste âmbito, restringe-se à expressão dilacerada do suplício amoroso cuja espiral se concretiza na segunda parte de Epilepsy Dance sob o título “O Canibal de Memórias”. Entre a realidade da ausência na primeira parte e a ficcionalização das dores da carne na segunda, o sinistro elege preferencialmente o coração enquanto metonímia do corpo dilacerado, como no poema “Cardiologia” (p. 44) – “No ecocardiograma / o coração / um pedaço / de carne em ruínas // pendurado na escuridão, / um hematoma tão completo. (…)” –, ou na memória da sua vertente circulatória em “Metropolitano” (p. 40) – “Lembro-me / do barulho do coração / quando aprendeu / a andar sobre ferros. // Atravessamos tantas vezes aquela cidade, / [eu quase transparente; / tu sempre em carne viva] // alucinados, / com a possibilidade / daquele amor de primavera.” -, mas sempre predisposto à corrosão no momento em que a imobilidade e o silêncio do Outro o fazem reverter à materialidade decadente do seu duplo artificial, como sucede na terceira sequência de “Paladar” (p. 48): “Procurar-me-ás no outono / quando no coração houver / ferrugem. // No texto, / o paladar da época: / sangue e metal.”. As sugestões imagéticas transitam em acenos a outras poéticas (Al Berto e Luís Miguel Nava serão exemplos facilmente reconhecíveis) onde o corpo e a memória persistente da ausência se dispõem em torno de um erotismo abrasivo, por vezes autofágico, como se lê expressivamente no poema “A Arte dos Dentes Caninos” (p. 26) – “Queria que estivesses / aqui / para me ensinar a comer o coração / sem deixar restos de carne / pendurada nos dentes / do siso.” –, no qual o topos do coeur mangé sublinha a possibilidade do holocausto de si mesmo a troco da recuperação da plenitude da irracionalidade amorosa. O desejo de infração voluntária do tabu pitagórico (Cor ne edito, “não comas o coração”) vem colocar em destaque a sua centralidade como objeto de consumo interior, de fracionamento infernal que, na interpretação de Milad Douehi (2002: 10) a propósito do mito sacrificial de Dioniso, coincide com a eliminação da possibilidade de regeneração. Por seu lado, a imagem da oferta da vida, que no capítulo III da Vita Nuova de Dante se associa à visão do coração a arder comido por uma delicada dama, incita o sujeito à criação poética do mesmo modo que havia motivado o poeta de A Divina Comédia a escrever um soneto a comunicar a experiência “a todos os devotos do Amor” (Dante, 1993: III, 11). Na lentidão interior encontrada após a desaceleração da idade das paixões, resta a emergência da recordação pela partilha parcimoniosa do espetáculo solitário do canibal devorando o tempo:
Esta noite vou
roer as lembranças
do teu corpo.
Uma cena gourmet:
o monólogo
do canibal
de memórias.
Por razões de delicadeza,
guardei o teu nome
para devorar numa ocasião
especial. (p. 50)
Na linguagem de Rimbaud, decididamente convocada nos momentos finais de Epilepsy Dance, é no desejo de que os ossos se revistam de “un nouveau corps amoureux” que o sujeito perspetiva a sua poesia, apesar de consciente de que o desdobramento possível da violência perversa dos sentimentos já pouco retém da bravura indómita do dançarino na corda estendida de astro a astro, exceto talvez no seu fantasma em dupla exposição. O ritmo noturno destes versos, dispostos parcimoniosamente em cada página num cuidadoso trabalho gráfico de edição, nunca perde de vista o desejo de exorcismo exposto logo no primeiro poema, “Oração” (p. 9) – “Esconjura / a noite deste corpo” -, sem que, todavia, se vislumbrem saídas para o spleen que vai entretendo o fluir mórbido da existência. Apenas a poesia parece não vacilar, reclamada que foi há muito a sua parte na maldição que Rimbaud afirmara ser condição para a vidência do poeta. Dos dois livros anteriores, Linguagem do Abandono (Idioteque, 2018) e Cativeiro (Idioteque, 2017) (1), Epilepsy Dance prossegue a convicção de que, no bailado do Universo até à próxima conflagração, cabe ao sujeito, conforme a primeira obra mencionada, trazer consigo “o Génesis / do desassossego” (p. 52). De cada cinza ele fará o possível por manter o essencial da chama que ilumine a esperança pelo final da noite e que a qualquer momento dispare o recomeço da dança; “Enquanto isso”, lemos nessa mesma obra como homenagem a Dylan Thomas e à resistência na entrada na “noite serena”, “acende uma luz onde fores, / incendeia sempre o abismo / antes de tudo.” (p. 62).
Tal como o dançarino Zaratustra descera da montanha para levar o fogo ao vale, também este jovem poeta parece não recear o castigo dos incendiários.
Francisco Saraiva Fino
BIBLIOGRAFIA
Ativa
Silva, Nuno F. (2020) – Epilepsy Dance, Figueira da Foz: DSO.
Passiva
DANTE (1993) – Vida Nova, III, 3.ª ed., trad. Carlos Eduardo Soveral, Lisboa: Guimarães Editores.
DOUEHI, Milad (2002) – História Perversa do Coração Humano, trad. Ana Margarida Fonseca, Lisboa: Terramar.
NIETZSCHE, Friedrich (1988) – Assim Falou Zaratustra, 2ª ed., trad. M. de Campos, Mem Martins: Publicações Europa-América.
PESSOA, Fernando (2006) – Escritos sobre Génio e Loucura, ed. Jerónimo Pizarro, vol. VII, tomo I, Lisboa: IN-CM.
TRÍAS, Eugenio (2005) – O Belo e o Sinistro, trad. Miguel Serras Pereira, Lisboa: Fim de Século.
(1) Estreando-se em 2011 com Flor de Espinhos (World Art Friends), Nuno F. Silva viu publicados, até ao momento, Flor de Lótus (Euedito, 2013), Frágil (Euedito, 2016) e Lunescer (Lua de Marfim, 2016), além dos títulos citados.

