
NATÁLIA CONSTÂNCIO
PAISAGEM E INTERTEXTUALIDADE(S) NA OBRA
A ESPIRAL DE DELFOS[1], DE CRISTINO CORTES
Ao analisar a capa deste livro, ocorre-me a visita que há uns anos realizei ao santuário de Delfos, dedicado a Apolo. Na aragem silenciosa do tempo, ali se recortam, sob o verde arbóreo, as pedras que testemunham a voz que outrora o deus da Poesia e da Lira fazia ecoar por entre as montanhas.
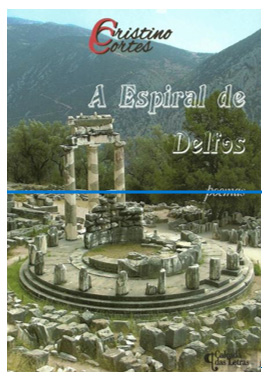 Frequentemente remeto para a autoridade de Umberto Eco (1991), no que à intertextualidade respeita, quando assevera que todos os textos evocam e convocam outros textos. Se esta premissa é hoje verdadeira, era-o mais vincadamente assumido na época renascentista. O código retórico e estético dos autores clássicos pautava-se expressamente por uma dupla mimesis – a imitação da natureza e a de modelos greco-latinos. Todavia, não obstante o quadro de convenções e de representações e da importância da imitação, esses mesmos autores valorizavam a capacidade criadora. O título – A Espiral de Delfos – evoca o mundo helénico, tendo como mote a fugacidade da vida, recorrente nos poetas greco-latinos. Em jeito preambular, na nota Abertura, o autor do livro em análise assume e enfatiza essa intertextualidade que se entrelaça com matriz clássica, a antiga e a renascentista. Numa alusão explicita à trágica peça O Rei Lear, de Shakespeare, o poema “A Morte”, de Cristino Cortes, reenvia para o sema de negatividade, que não chega a evocar a morte física, mas remete para o desconcerto do mundo que Camões preconiza: “Por entre os dedos algo vai mal no reino da Dinamarca.” (17).
Frequentemente remeto para a autoridade de Umberto Eco (1991), no que à intertextualidade respeita, quando assevera que todos os textos evocam e convocam outros textos. Se esta premissa é hoje verdadeira, era-o mais vincadamente assumido na época renascentista. O código retórico e estético dos autores clássicos pautava-se expressamente por uma dupla mimesis – a imitação da natureza e a de modelos greco-latinos. Todavia, não obstante o quadro de convenções e de representações e da importância da imitação, esses mesmos autores valorizavam a capacidade criadora. O título – A Espiral de Delfos – evoca o mundo helénico, tendo como mote a fugacidade da vida, recorrente nos poetas greco-latinos. Em jeito preambular, na nota Abertura, o autor do livro em análise assume e enfatiza essa intertextualidade que se entrelaça com matriz clássica, a antiga e a renascentista. Numa alusão explicita à trágica peça O Rei Lear, de Shakespeare, o poema “A Morte”, de Cristino Cortes, reenvia para o sema de negatividade, que não chega a evocar a morte física, mas remete para o desconcerto do mundo que Camões preconiza: “Por entre os dedos algo vai mal no reino da Dinamarca.” (17).
A obra em foco ostenta como epígrafe de cada um dos nove conjuntos em que se estrutura um excerto do poema Sôbolos Rios, evocando Camões, próximo do quinto centenário do seu nascimento. Não será despiciendo referir que o poema citado se constrói a partir de uma hierarquia tríade: o plano do conhecimento, traduzido na faculdade da memória (no sentido platónico do termo), que nos eleva; o plano da salvação, sendo que Sião simboliza o passado, e Babel, o desterro. “Em Babel, sob o domínio do tempo, tudo se dissolve e desfaz como na água,” (1981: 39), afirma Maria Vitalina Matos, a propósito da composição supracitada. Em Jerusalém, pátria da alma, abundam a justiça, o entendimento e o amor. Sôbolos Rios revela a consciência “do fracasso e do estado de desespero a que chegou” o poeta (MATOS 1981: 37), consubstanciando-se numa síntese de vida, da vida que passou, com especial incidência no domínio do Tempo e da Fortuna, a sorte que a todos rege.
“Casa de Partida” remete para o quotidiano, a que não é alheia a noção de evanescência. Ainda que a obra trazida à colação evidencie uma matriz clássica, ao nível temático, Cristino Cortes demonstra a sua originalidade ao aliá-la a um enfoque contemporâneo. A imitação dos modelos antigos não limita, portanto, a capacidade imaginativa do seu autor.
Numa obra sobre o tempo e as suas repercussões na existência humana, William Bull realça que “Personal time derives from man’s attempt to mesure duration by using his own emotions as the clock.” (1960: 5). O tempo, que intuitivamente não somos capazes de definir de forma objetiva ou mensurável (notou-o Santo Agostinho), é cronologicamente marcado pelo fluir do momento, das horas, dos dias e dos anos. Os poetas pintam com palavras as cores da existência, a sua experiência de vida, inevitavelmente marcada pela contingência e pela consciencialização da finitude – do outro e de si próprio –, enquanto seres no e do mundo, expressão que tomo de empréstimo ao filósofo Martin Heidegger (1988). Indo ao encontro da estética clássica – cujos autores tendem a personificar o Destino e a duração da vida, que flui, indiferente à vontade humana – ao lermos este livro, acentua-se em nós uma forte impressão de temporalidade. A Espiral de Delfos sanciona, reiteradamente, a suprema verdade – nem sempre fácil de aceitar – dos seres efémeros e marcescíveis que somos, como as folhas de outono, porque sujeitos ao tempo, que tudo dissolve. Tal como sucede na arte poética clássica, esta obra põe a nu a problemática da evanescência. Diz-nos o poeta: “Como pétalas de rosa que o vento no jardim desfolha”, “Como corda só cujo jeito a falta de uso nos perdeu/ Eis pois o tempo, cair de ilusões, o que tinha já deu.” (86).
Refira-se, contudo, que a angústia experienciada ante a brevidade da vida atravessa a literatura portuguesa, desde a lírica trovadoresca à contemporaneidade, passando pelo neoclassicismo e pelo romantismo. Num artigo intitulado “O Homem doente do tempo”, Fernandes da Fonseca (2001: 234-246) refere que os poetas são os seres mais sensíveis e mais angustiados face à irreversibilidade do tempo, porque cientes da transitoriedade e, consequentemente, da lei irrevogável da morte. O livro em destaque abre com “Poema das Duas Metades” – o rosto do livro –, pela introdução da temática da fugacidade do tempo. Na esteira de Cícero, para quem a História é mestra da vida, o sujeito poético advoga a importância da experiência como veículo de aprendizagem, “o saber de experiência feito”, remetendo, timidamente, para o poema camoniano “Erros meus, má fortuna, amor ardente”. Diz-nos o poeta: “O que ficou atrás tem peso, é uma lição/ Bem fundada, própria ou alheia, fácil de ver.” (11).
***
Ante a iminência do fim, nele encontramos a mesma reiterada opressão que eclode e se faz presente em muitos autores da literatura portuguesa. Indo ao encontro da estética clássica, o poemário de Cristino Cortes reenvia, de forma persistente e obsessiva, para o topos suprarreferido: “Não quero a morte, não […]”; “[…] É o tempo/ Tão pouco para tudo e o espaço ainda menos;” (15). O heterónimo (pessoano) helenista Ricardo Reis aponta para um pessimismo similar ante o decesso, não obstante o realize sob a máscara altiva e encoberta da quietude:
Lídia, a vida mais vil antes que a morte,
Que desconheço, quero; e as flores colho
Que te entrego, votivas
De um pequeno destino.
(PESSOA 1994: 99 – 19‑11‑1927)
A captação interior da dimensão temporal não decorre apenas da notação mensurável, em termos dos estudos realizados no âmbito da Física, nem da referência cronológica. Pode ser experienciada em função da subjetividade inerente a cada ser humano. Se atentarmos nos estudos realizados por Henri Bergson, o filósofo faz destacar a apreensão subjetiva e intuitiva do tempo, realizada a partir da coordenada existencial do sujeito vivente – o eu. Inserido numa ramificação que tem início e finitude, vive a temporalidade de forma duplamente experimentada: subjetiva e cronologicamente. Por este motivo escrevem os poetas, para exorcizarem a angústia que a visão da morte lhes provoca. No contexto abordado, não será anódino avocar os estudos sobre a temporalidade preconizados por Martin Heidegger (1988), que encara o poema como o “campo do ser”. No caso da obra em análise, a poesia instaura o ser pela palavra, alimenta-se do tempo e reflete-o. Através da metáfora da navegação interior – que, tal como a viagem física, conduz o ser a(o) outro lado –, A espiral de Delfos patenteia a ideia da determinação do ser que se agarra à vida: “São pacíficas estas águas, mas também o são de passagem.”, “[…] Morto/ Só o será quem desiste, na vida ou em qualquer viagem.” (99).
A meditação sobre a brevidade das horas e dos dias – e a noção de que, na natureza, tudo flui, indiferente à nossa passagem – figura, igualmente, em “Poema da Véspera”. Trata-se, efetivamente, de um topos recorrente no livro em análise, como temos vindo a constatar: “Serei octogenário talvez, mas isso bem pouco monta/ A vida continua e oxalá fosse permanente festa…”(22). O eu que perpassa este poemário alude, constantemente, ao fim, relembrando ao leitor que “certa é a morte.” (41). O sentimento agudo do niilismo também sobrevém, por vezes, na obra do autor em estudo. Pressentimento e Antecipação guia o leitor através de uma íntima visão da existência, aludindo às premonições que assaltam o poeta, numa referência obsidiante da morte: “Tive hoje nítido o pressentimento/ Do que será a sensação da morte” (23). No poema citado, a paisagem fluviária – o Tejo – surge como lugar de eterna sepultura, contrastando com o telurismo imanente à obra de um Miguel Torga ou de Francisco Bugalho, para quem a terra é, simultaneamente, berço e sepultura dos seres, se pedirmos de empréstimo as palavras de Gilbert Durand (1989). Outras vezes, o sujeito poético constata, de forma neutra, que a sua hora não chegou e, consequentemente, aguarda o momento da passagem para as incógnitas margens do rio. No âmbito desta temática, não deixa de evocar a figura do velho Caronte, o barqueiro que, no mundo subterrâneo da mitologia helénica, transporta as almas para o outro lado do rio, ante o pagamento de um óbulo: “Nas incógnitas margens lá ao último barqueiro/ Meu óbulo ainda não dei […]”, “Mas estive perto e na imaginação/ Caronte se aproximou o odor lhe intuí;” (26).
Convém salientar que, ao longo da obra, o sujeito poético apresenta a perspetiva da inexorabilidade do tempo que flui, cronologicamente, mas subjetivamente estagnado, sob a égide da enfermidade. Indo ao encontro do cunho clássico que Cristino Cortes procura imprimir à obra em foco, o poema “A Morte” alude explicitamente às Moiras, ou Parcas, as três fiandeiras do Destino, cuja atividade se sobrepõe à vontade de todos os seres viventes, inclusive de Zeus. Estas divindades da mitologia grega têm uma função muito específica: Cloto preside ao nascimento da criança; Láquesis é responsável pela duração da vida e determina o caminho de cada um. Deixamos para o fim desta tríade a menção à velha Átropos, a mais temida das Moiras, implacável e indiferente às lágrimas dos humanos, a que corta o fio da existência: “[…] pouco sabemos das Parcas/ Mas é assim: parece que a pouco e pouco se vai morrendo;” (17). A última estrofe do poema acentua a ideia de inexorabilidade do fim, metaforicamente associado ao coração: “Morre-se pois um pouco em cada dia que por nós vai passando”; “Quantas vezes não é a morte mais do que a triste confirmação/ De que há muito em muitos casos se negara já o coração?!” (18).
Nesta obra, o crepúsculo da vida reenvia, não raro, para as origens da literatura europeia. No caso concreto, uma outra alusão intertextual remete para o episódio de despedida de Heitor e Andrómaca, quadro que se revela um dos mais emotivos e dramáticos de toda a literatura helénica. Mãe de Astíanax, criança de colo, Andrómaca vê partir para a guerra o marido, Heitor, varão que encarna as mais elevadas virtudes, quer em termos familiares e singulares, quer como guerreiro, escolhido que foi para ocupar o cargo de comandante dos troianos. Andrómaca detém a sabedoria do amor e sabe, intuitivamente, que, não obstante os feitos notáveis que o esposo há de cometer na guerra contra os inimigos sitiantes de Troia, não retornará. Porque a perceção temporal inerente à intuição de Andrómaca e do príncipe troiano antecipa a finitude, a despedida do casal, no Canto VI da Ilíada, é simultaneamente enternecedora, comovente e trágica. A (breve) felicidade outrora experienciada por ambos será substituída por uma nova etapa nas suas vidas: a do vazio e da solidão.
Noutros passos, o eu poético da obra em foco alude à contemplação no espelho para demonstrar a proximidade da eterna noite: “[…] Ao espelho/ Me vendo, sei não estar sozinho nesta agreste paisagem;” (36). Em “Crepúsculo”, antecipa-se a noção de morte, ainda que se refira o amor inabalável à existência terrena: “Estou do lado de cá e penso continuar./ Mas já não é bem dia, vejo o crepúsculo a avançar. (33). Perante a iminência do fim, o sujeito poético confirma a vontade de permanecer, de continuar deste lado, que é, afinal, o lado da magia, mesmo quando a doença o assola. No poema “Flor de Estufa”, declara que “O fluxo da vida não é mais _ nem voltará a ser _ o que era./ Mas ainda me revolto e luto. Não me vejo já flor de estufa.” (37). “Crepúsculo” anuncia o fim, mas logo o sujeito enunciador contraria a ideia, como se lhe fosse outorgado alterar o curso da vida. Mas é próprio dos humanos lutarem, porque na caixa de Pandora resta ainda a Esperança, esse ser maravilhoso que não se evolou: “Sob a linha do horizonte o avermelhado/ Do sol se despede por um bom bocado.”; “Por enquanto ainda aguento bem os anos que tenho,” (33). E, não obstante a forma trágica com que termina o episódio de Orfeu e Eurídice[2], o resgate da amada revela-se um momento de coragem e denodo, talvez por isso a composição “Eurídice” remeta para o alento: “Eurídice me continua fiel ou eu a ela/ Quando sem a ver a rota traçada prossigo;” (90).
***
Na secção “Face ao Espelho”, qual Alice de Lewis Carroll, o sujeito de enunciação observa a sua imagem e assume que o labor artístico é pesado e duro: “A poesia é sangue;” Todavia, na senda de outros poetas, de entre os quais se destacam os clássicos e os renascentistas, o eu reconhece a importância da criação artística como fator de permanência. Pelo labor artístico, os poetas adiam ou retardam a morte: “Sou-lhe fiel [à poesia] estendendo sucessivas ilusões…” (31). Invocando a estética difundida pelos autores simbolistas, nefelibatas e sonhadores por excelência, num percurso de evasão interior, o eu poético assume a capacidade de divagar e sonha “com viagens a lugares/ E sítios a que nunca fui, mas de grande fascínio/ Que o tempo conserva.” (51).
Independentemente das crenças religiosas, ou da ausência de fé, o momento da passagem para o Além revela-se um momento enigmático para os humanos. A obra em análise faz coexistir o mundo dos vivos com aqueles que perduram num plano transcendente. A linha de demarcação que os divide é muito ténue e, à semelhança do que encontramos nas epopeias homéricas, esses seres sem consistência corpórea, sem frenes, deambulam por entre as nossas vidas. E conhecem o futuro pálido que nos espera, qual velho e sábio Tirésias prevendo o destino a Ulisses, no mundo das sombras: “E predizem-nos o futuro:/ Desbotado e amarelecido, como só eles o vêem/ Antecipando a companhia que um dia lhes faremos.” (105). A representação das águas que irrompem ao longo deste poemário evocam a efemeridade dos tempos que encontramos no discurso de Heraclito. Mas o sujeito poético ultrapassa essa noção e associa, explicitamente, o curso das águas à morte, ainda que veladamente, ao equipará-la ao repouso, e ao incorporar no papel do rio o das Parcas, ou Moiras: “Reservo-me para as águas revoltas do Tejo/ Se nos antípodas do Verão o facto ocorrer”; “De pé sim, de pé e bem vivo me há-de encontrar/ A última das Parcas. Nem então me vejo a repousar.” (32). No caso concreto, o sujeito enunciador assevera que Átropos – a deusa responsável pelo corte da vida – o encontrará vivo e resistente, não um fragilizado e moribundo, interiormente vascolejado, como as árvores de inverno fustigadas pelo vento e pela aragem gélida e pálida dos dias. Ainda assim, disfarçadamente, pede clemência aos deuses:
“Antes do tempo certo me não levem, em seu fogo me aqueçam.
Como alguém, parente de Vulcano, vendo a forja orienta o malho
Assim todo eu me entrego ao que é destino, ofício e sorte
E nessa romagem, oxalá próxima, empenho o meu trabalho.
Que só no tranquilo sono de Ulisses última Parca o fio corte! (76)
Como temos vindo a notar, a poesia de Cristino Cortes reflete sobre o tempo e a vida. Ou o tempo e a morte. Ou o tempo cronológico e o tempo psicológico, a durée, de que fala Bergson. E, não obstante o sofrimento que a constatação da inexorabilidade do fim antecipa, nela refulge, ainda que timidamente uma conciliação com o tempo e a vida. A mesma voz pungente que Camões faz emergir de Sôbolos Rios perpassa este poemário. Mas com uma diferença: o platonismo do mundo ideal é, agora, vertido na constatação de que, afinal, nós – os vivos – e eles – os mortos, nos encontramos por aqui, embora os nossos olhos, ao contrário dos deles, estejam vendados para esse espaço: “Não há limites de tempo e lugar”, “Falo com os vivos e os mortos” (95). E a grande sabedoria, a que todos aspiramos, a sabedoria para encarar os infortúnios ou a doença revela-se uma aprendizagem difícil, que, de entre os mortais, só Penélope detém: “A mulher de Ulisses, enquanto esperava, a sabedoria/ Encontrou, de dominar o tempo _ que nunca mais passava…” (92).
***
Na esteira dos poetas clássicos, como Simónides, para quem a poesia é pictura loquens, Safo, a poetisa de Lesbos, ou Teógnis de Mégara, que assumem a imortalidade concedida pelos deuses aos poetas, Cristino Cortes associa a estação da primavera à produção artística e declara: “Tal como esta ameixoeira de futuros sonhos/ Sempre grávido, a poesia é o mel e a seiva que aqui ponho/ A poesia invocando, senhora de que me quero digno.” (21). O livro em foco apresenta diversas temáticas, como o amor, a ternura e a afetividade. O ser que ama é um ser interiormente mais robusto e mais sonhador, por conseguinte, o autor termina a sua obra com um rasgo iridescente. Afinal, sempre há amanhã. A morte – dizia Camões – ante os olhos sempre anda. Mas o povo, sábio, também diz que enquanto há vida, há esperança. A existência entrelaça os seres num círculo perfeito e harmonioso, que termina, corporeamente, com a morte. Mas que não é, afinal, um fim completo e irremível, porque os seres que se amam perduram no tempo e no espaço: “Nas noites de Verão os mortos da casa vêm até ao tanque/ Libertam-se dos seus medos quase invisíveis, e no quintal/ Assumem os cuidados que ainda têm por nós.” (105).
Qual destemido e aventureiro Cristóvão Colombo, navegando os mares encapelados do grande oceano e da vida, o poeta existe e vive porque (se) alimenta (d)os sonhos. E o inverso também é verdadeiro: a poesia imortaliza os seres sonhadores que a escrevem. Porque o dom de Apolo não ilumina o comum dos homens: “O meu maior desejo […] / “É o de a Apolo prestar o meu humilde reconhecimento:/ _No centro do mundo, Delfos, serei inteiro nesse momento.” (75).
BIBLIOGRAFIA:
CORTES, Cristino (2023). A Espiral de Delfos. Lisboa: Calçada das Letras.
BERGSON, Henri (1993) [1900]. O Riso. Ensaio sobre o significado do cómico. Lisboa: Guimarães Editores.
BULL, William (1960). Time, Tense and the Verb. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
DURAND, Gilbert (1989). As Estruturas Antropológicas do Imaginário. Introdução à Arquetipologia Geral. Tradução de Hélder Godinho. Lisboa: Editorial Presença.
ECO, Umberto (19912ª). Porquê “O Nome da Rosa”. Tradução de Maria Luísa Rodrigues de Freitas. Lisboa: Difel.
FONSECA, A. Fernandes da (2001). “O Homem doente do tempo”, 234-246. In Sobre o Tempo. MENESES, Paulo (coord.) Secção Portuguesa da AHLM. Actas do III Congresso. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.
HEIDEGGER, Martin (1988). The Basic Problems of Phenomenology. Translated by Albert Hofstadter. Indiana University Press: Bloomington & Indianapolis.
HOMERO (2005). Ilíada. Tradução de Frederico Lourenço. Lisboa: Edições Cotovia.
MATOS, Maria Vitalina (19812ª). A Lírica de Luís de Camões. Lisboa: Seara Comunicação.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha (19824ª) [1959]. Hélade. Antologia da Cultura Grega. Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos.
——- (1984). Estudos de História da Cultura Clássica. Cultura Romana. Vol. II. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
PESSOA, Fernando (1994). Poemas de Ricardo Reis. (Edição Crítica de Luiz Fagundes Duarte.) Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
[1] Todos os poemas analisados são citados a partir desta obra, pelo que as páginas que surgem entre parêntesis correspondem a esta edição.
[2] Eurídice foi picada por uma serpente, no dia do seu casamento. Desesperado, Orfeu desceu ao mundo dos mortos e suplicou que Eurídice regressasse à vida. Plutão e Perséfone anuíram, com a condição de que, quando resgatasse a esposa, Orfeu não olhasse para trás, o que, tragicamente, acabou por acontecer. E assim se perdeu Eurídice no mundo dos mortos.

