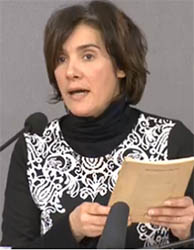|
No romance, tem muita importância o nome próprio. Ele distingue
a personagem do figurante, confere densidade psicológica ao
retrato e “efeito de real” à ação. Até para o art.º 3 da
Declaração Universal dos Direitos da Criança, ter/não ter nome é
acentuar/anular conteúdos de ordem psicológica, ou ideológica,
delimitando no “leitor” (o Outro) múltiplos horizontes de
expectativa. Não dar nome é, retoricamente, reduzir o singular
ao coletivo, negar estatuto reivindicativo ao “indivíduo”. Por
isso o nome civil, ao contrário da marca, é um valor jurídico
que se diz inalienável e inestimável, isto é, coloca o indivíduo
acima de qualquer avaliação do que nele os outros podem trocar,
vender ou comprar.
Estes vários aspetos são evidenciados pelo uso do nome próprio,
num romance de Adelto Gonçalves: Os Vira-Latas da Madrugada.
Escrito desde o final dos anos 60, e publicado em 1981, recebeu
a menção honrosa do Prémio José Lins do Rego. Em 2015, foi
finalmente reeditado com o prefácio original, de Marcos Faerman,
arrancado à última hora da edição de 1981, não fosse o regime
político reparar demasiado naquelas histórias tristes “como
tristes são os tempos que as tornaram reais”. Se, no contexto
repressivo dos anos 60-80, a questão ideológica se sobrepunha à
questão estética, o distanciamento da reedição permite hoje
valorizar estratégias como o uso irónico do nome próprio,
assinalado amiúde pelo itálico.
Os nomes próprios revelam aqui uma amálgama de estilos. Não
estamos perante um romance de espaço canónico, ainda que se
passe em Paquetá, bairro portuário de Santos, no Brasil: a
representação de um ponto de encontro incaracterístico de
movimentos provisórios é aqui um exercício iniciático, de
educação visual. Também não é um romance histórico ortodoxo,
ainda que a memória seja a de um contemporâneo da Coluna
Prestes, de Vargas e do golpe militar de 1964: “Neste livro, o
tempo não existe, os acontecimentos se confundem, as datas são
esquecidas”.
Num espaço concentracionário, os nomes próprios evidenciam um
tempo não-cronológico: a coexistência da Antiguidade
greco-latina (os vagabundos podem chamar-se Plínio, Juvenal,
Eronildes, Themis), com a Cristandade (Gabriel, Belchior,
Rosário, Epifânio); do tempo pré-colonial (Cariri, Tibiriçá),
com um tempo colonial (Negrinho Louva-Deus, Nego Oswaldo) ou
pós-colonial, de migrações (Arouca, Valongo). O nome próprio
aparece associado à nacionalidade ou à raça, como se Paquetá
fosse o mundo inteiro: lá moram a turca Isabel, João de Angola,
o garção português, o Grego, a Grega, frequentadores dos Old
Kopenhagen, El Moroco, Volga ou Mont Serrat, bares que nos
lembram o Mexico-City, de Camus. Nomes patronímicos, que
identificam património – Braz Aguiar, Epifânio Peremateu, Plínio
Giancotti – são raros e sempre de discurso indireto.
O nome próprio aparece quando muito ligado à profissão, ou à
ausência dela, como se fossem um agnome epitético, sem valor
jurídico: o vagabundo Plínio, o Malandro Sarará, uma Milena que
trabalha no Las Vegas. Os nomes próprios revelam-se equívocos,
ironias, ilusões e provocações. O Grego e a Grega só se tinham
conhecido por causa do apelido. Eram até parecidos, mas o Grego
era português, de olhos azuis, e a Grega catarinense. João de
Angola viera do Rio Grande do Norte. Plínio, o velho, é chamado
Primo pelos que não conseguem afinal pronunciar o nome.
Paquetá tem outra toponímia para os que lá não moram. Os
jornalistas chamam-lhe Boca do Lixo. Mas “Nós, os daquele tempo,
sabemos que, se hoje o beira-cais é quase conhecido apenas pelo
nome de Boca, deve-se a um maldito portenho que, um dia,
desembarcou aqui e achou de comparar este pedaço de porto com o
bairro de La Boca, de Buenos Aires. Mas igual a este beira-cais,
como dizem os velhos marinheiros, não existe lugar em outra
parte do mundo”.
Entre a representação do universal e do irrepetível, os nomes
próprios criam, goram e recriam diferentes horizontes de
expectativa de quem habita o “beira-cais”, fio-da-navalha: o
espaço onde as mulheres das ruas não se entregam porque só
vendem o corpo, onde as crianças “dormem com os pederastas e
vivem de pequenos furtos”, onde os antigos escravos sonham com a
moça loira que anuncia a Coca-cola num out-door, e os
trabalhadores da estiva gastam o salário no esquecimento
prometido pelas tabuletas utópicas: Estrela da Manhã, Chave de
Ouro, Gold & Silver, Las Vegas, Salão Azul, Imperial, Pavão de
Ouro, Zanzibar, Zanzi, e tc… Ah, a ironia dos analfabetos no bar
ABC, ou dos famintos no Maxim’s!…
O equívoco do nome próprio é quase um tema, desde as primeiras
linhas: qual a origem etimológica de Paquetá? O narrador
recupera uma nota de rodapé do volume II da História de
Santos, de Francisco Martins dos Santos (o nome do
historiador é um “nome motivado”, como os que existem nos
romances). Segundo aquele historiador, Paquetá não significa,
como é ideia comum, um “lugar ou viveiro das pacas”.
O vulgo e os historiadores são vítimas de “etimologias
simplificadas”, da “invenção de tradutores fáceis”. E as pacas,
como toda a gente sabia, só vivem em água doce e límpida,
impossível nos pântanos (ainda visíveis numa fotografia de
Paquetá de finais do século XIX). “Conta ainda que a verdadeira
etimologia da palavra Paquetá é PAÃIQUÊ-TÃ, por contração:
PÃ-QUE-TÀ, que, com o tempo e por evolução, se tornou PA-QUE-TÃ.
E explica: ‘PAÃ – atolar; IQUÊ – lado, costado; e TÃ – apócope
usual de TA TÃ – duro, forte -, significando lugar de atoleiro
forte, mais forte do que em outros lugares da ilha habitável”.
Não menos fantasista que a do vulgo, esta explicação
“científica” de F. M. dos Santos assemelha-se afinal a um
processo romanesco. Também a ficção reproduz fenómenos de
contração e apócope, sincretismo e esquecimento. O romance, como
a evolução de um nome próprio, é um processo de densificação do
tempo-espaço, e faz do “efeito de real” um exercício de
possibilidades. Também por isso este é um romance, como escreve
Faerman, “de sons delicados”.
|