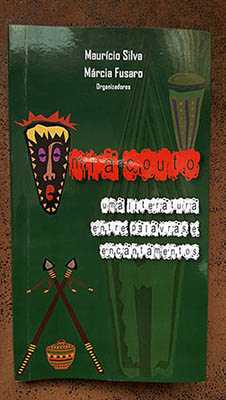| |
| |
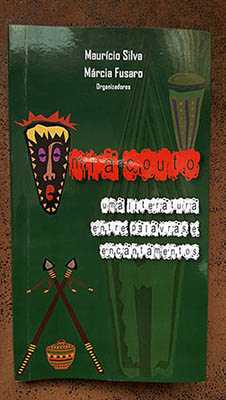 |
MAURÍCIO SILVA &
MÁRCIA FUSARO
Organizadores
MIA COUTO
Uma literatura entre palavras
e encantamentos
São Paulo, 2011
ÍNDICE
|
|
 |
|
Entre o sonho e a
morte: desvelamentos, revelações e contaminações na narrativa
ficcional de Mia Couto
MANUEL TAVARES*

"O maior
empobrecimento provém da falta de ideias,
da erosão da
criatividade e da ausência de debate produtivo.
Mais do que pobres,
tornamo-nos inférteis.
Vou questionar as
três dimensões do tempo
apenas para sacudir
alguma poeira.
Comecemos pelo
passado.
Para constatarmos que
esse passado, afinal, ainda não passou".
(Mia
Couto, Pensatempos)
|
 |
|
Introdução
Nas sociedades
contemporâneas, face ao esgotamento dos paradigmas tradicionais
de caráter positivista e eurocêntrico na compreensão e
explicação da realidade social e da complexidade das relações
que se estabelecem entre as várias formas de conhecimento,
torna-se cada vez mais urgente pensar novas perspectivas sobre a
realidade que problematizem a unidimensionalidade das
explicações eurocêntricas fundamentadas, exclusivamente, numa
suposta visão “científica” da realidade. Privilegiar a
diversidade de leituras do mundo e da vida, entre as quais a
visão estético-literária, constitui um dos desafios
epistemológicos na contemporaneidade. A ciência não é o único
discurso ao qual se possa atribuir o valor de verdade. Já
Aristóteles afirmava que o mundo se diz de vários modos e por
meio de discursos diversos sem que nenhum deles possa ter
legitimidade para afirmar-se como único e verdadeiro. É partindo
deste pressuposto que consideramos que a narrativa literária é
uma abordagem da realidade, da história e das relações humanas
que contribui para novas leituras do mundo e para dar sentido à
existência humana. Numa crítica ao pensamento hegemónico e
excludente de outras racionalidades, sobretudo da racionalidade
eurocêntrica, colonial e da sua lógica, Mia Couto considera que
os critérios de verdade hoje dominantes
"desvalorizam palavra e pensamento em nome do lucro fácil e
imediato. [...] São razões comerciais que se fecham a outras
culturas, outras línguas, outras lógicas. A palavra de hoje é
cada vez mais aquela que se despiu da dimensão poética e que não
carrega nenhuma utopia sobre um mundo diferente" (COUTO, 2009,
p. 15).
Num país dilacerado
por um longo processo colonial, pelas lutas levadas a cabo pelos
movimentos de libertação e pela guerra civil, foram inscritas
marcas negativas profundas na matriz originária de um novo país
independente. Os escritores moçambicanos, particularmente Mia
Couto, nas suas viagens narrativas, constroem, a partir da
matriz linguística colonial, uma nova língua marcada pela
influência das línguas de matriz bantu para dizer o real numa
relação indissociável com o sagrado. A reinvenção da língua
portuguesa permite “mergulhar na oralidade e escapar à
racionalidade dos códigos da escrita enquanto sistema único de
pensamento” (COUTO, 2005, p. 107). Revitalizar o passado e, a
partir dele, não deixar o sonho morrer, apesar das vicissitudes
históricas, constitui um desafio da literatura mágica,
desobediente e transgressiva de Mia Couto.
É nesta reinvenção do
passado pela escrita, adaptada a uma realidade africana, povoada
pelo mistério, pelo maravilhoso, pelos mitos e pela crença,
onde, entre o sonho e a morte se vão revelando e desvelando
tempos e lugares que se entrelaçam, povoados por figuras
que “nas margens dos rios inscrevem na pedra, teimosamente, os
minúsculos sinais da esperança” (COUTO, 2009, p. 11). O
compromisso com a verdade, com a democracia e com a liberdade
faz dele um escritor inconformado com a situação política e
social em que o seu país mergulhou. Os textos de intervenção (Pensatempos,
2005 e E se Obama fosse africano. Interinvenções, 2009)
são reveladores desse inconformismo a que nos referimos.
Inconformismo que, apesar de tudo, abre as portas da esperança
para a construção de uma sociedade solidária e livre da miséria.
O escritor é esse ser comprometido com o seu povo, com a
realidade social e com a História, estando disponível “para se
negar a si mesmo porque só assim ele viaja entre identidades”
(COUTO, 2005, p. 59), tendo como horizonte a criação de um
pensamento que revele a riqueza cultural do seu povo. Entre
influências e confluências o pensamento literário de Mia Couto
afirma-se pela originalidade, criatividade e compromisso
intransigente com o seu povo e com a sua história.
Do ponto
de vista estrutural, obedecendo a algumas das dimensões que
consideramos importantes, no pensamento de Mia Couto, dividimos
estas reflexões nos seguintes aspetos: o sertão e a savana:
influências e confluências; o pós-colonial: a busca de uma
identidade entrelaçada entre o passado e o presente;
desvelamento e revelação e, finalmente, entre o sonho e a morte:
a reinvenção do real. Cada um deles foi desenvolvido nas
dimensões analítica e interpretativa, procurando justificações
nos próprios textos do autor. Não seguimos nenhuma obra
específica, mas tentamos fazer percursos horizontais por
diversas obras em função das dimensões abordadas.
|
 |
|
O sertão e a savana:
influências e confluências
É inquestionável a
influência de um conjunto de escritores brasileiros na
construção do imaginário dos escritores africanos. Vivemos,
afirma Mia Couto, “uma certa saturação de um discurso funcional
e sonolento” (COUTO, 2009, p. 121), que reproduz e perpetua a
ordem existente. Pela influência de Guimarães Rosa, Couto
considera que a nova literatura africana de expressão
portuguesa, “deve fugir da esclerose dos lugares comuns, escapar
à viscosidade e à sonolência” (COUTO, 2009, p. 121). Não se
trata de uma mera questão estética, mas o que está em jogo é o
próprio sentido da escrita. Importa explorar as potencialidades
da língua, desafiar os processos convencionais da narração
“deixando que a escrita seja penetrada pelo mítico e pela
oralidade” (COUTO, 2009, p. 121). A renovação do mundo supõe a
renovação da língua, a ressurreição da linguagem, imprimindo-lhe
outra lógica e abrindo-lhe outros caminhos e horizontes. E estes
não são insondáveis. São os caminhos das coisas banais, de um
senso-incomum, onde se encontra o mistério denso das coisas
simples, “a transcendência da coisa banal” (COUTO, 2009, p.
122).
O nascimento da
poesia moçambicana está marcado pela recusa da portugalidade e
dos modelos eurocêntricos e pela afirmação da “moçambicanidade”,
ou seja, uma literatura que pretendeu contribuir para “a
descoberta e revelação da terra” (COUTO, 2005, p. 104). Para
estas recusa e afirmação muito contribuíram poetas brasileiros,
como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Jorge
Amado, Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e outros.
Escrever em língua portuguesa ajustada à realidade local, mais
próximo do sotaque local, sem cair no exotismo, era o desafio
dos autores moçambicanos, movidos pela influência e experiência
do “abrasileiramento da linguagem”. Mais do que a mudança
estilística da língua, a experiência dos autores brasileiros
revelou um certo “possuimento” da literatura pela cultura
popular. A escrita surge, assim, como um rio com múltiplos
afluentes, desaguando em delta: a diversidade cultural constitui
o seu alimento e a sua expressão como valorização das culturas
locais e das suas línguas, dialetos e variações linguísticas.
Pouco me importa, afirmava Mário de Andrade (apud COUTO,
2005, p. 104-105), “que esteja escrevendo igualzinho ou não com
Portugal; o que escrevo é língua brasileira: pelo simples facto
de ser a língua minha, a língua do meu país, o Brasil”. Era
necessário esquecer Portugal para desvelar e revelar a
multiplicidade linguística existente no Brasil; mergulhar no
sertão e resgatar as histórias que ele oculta. Também os
escritores moçambicanos consideraram que era necessário
reinventar a língua portuguesa, mergulhando-a nas raízes do seu
povo e nas suas cosmovisões para resgatar uma religiosidade, uma
relação com o sagrado e a sua lógica que “é o chão da alma
moçambicana, enquanto indivíduos e coletividade” (COUTO, 2005,
p. 106). João Guimarães Rosa foi, inquestionavelmente, a maior
influência da literatura brasileira na escrita de Mia Couto: “o
encontro com Guimarães Rosa provocou uma espécie de abalo
sísmico na minha alma” (COUTO, 2009, p. 114).
Um abalo que lança o escritor para fora da escrita para
mergulhar no mundo fantástico das estórias, dos mitos e das
lendas. Não é a escrita que invade este universo, mas aquela que
é invadida pela fantasia da oralidade:
"Foi a poesia o que me deu o prosador João Guimarães Rosa.
Quando o li pela primeira vez experimentei uma sensação que já
tinha sentido quando escutava os contadores de histórias da
infância. Perante o texto, eu não lia simplesmente: eu ouvia
vozes da infância. Os livros de João Guimarães Rosa atiravam-me
para fora da escrita como se, de repente, eu me tivesse
convertido num analfabeto seletivo. Para entrar naqueles textos
eu devia fazer uso de um outro ato que não é “ler”, mas que pede
um verbo que ainda não tem nome" (COUTO, 2009, p. 124).
A desobediência às
regras lexicais, “o gosto pelo namoro entre língua e pensamento,
o gosto do poder divino da palavra” (COUTO, 2009, p. 115) são
influências do autor da "Terceira Margem do Rio".
Guimarães Rosa tinha um pé em cada um dos mundos: o da escrita e
o da oralidade, “não se trata de visitar o mundo da oralidade.
Trata-se de deixar-se invadir e dissolver pelo universo das
falas, das lendas, dos provérbios” (COUTO, 2009, p. 114). É
essa, afinal, a viagem literária de Mia Couto: a permeabilidade
da sua escrita ao universo da oralidade, das estórias, dos
provérbios e dos atores que as povoam, grande parte das vezes,
em cenários e lugares atemporais:
"essa tradição oral é profundamente marcada por uma cosmovisão
animista que vê o indivíduo em relação estreita e harmoniosa com
o universo, seja com o mundo dos homens, seja com o mundo dos
animais, seja com os elementos, seja ainda com os espíritos,
numa visão holista que contesta qualquer divisão entre o
racional e o irracional, o humano e o divino, o animado e o
inanimado. É, no fundo, uma profunda crença na existência de
forças vivas em todas as dimensões da vida material, mas também
de um outro mundo, invisível e intangível, em que os espíritos
dos antepassados tecem os destinos dos vivos. E essas forças
formam uma rede complexa de ligações que sustentam o universo"
(FERREIRA, 2007, p. 168).
O resgate desse
mundo, ausente de dualismos, onde o ser humano participa do
sagrado e este sacraliza a vida, constitui um dos desafios das
literaturas contra-hegemônicas, especificamente a de Mia Couto,
e do seu realismo mágico-maravilhoso, como um projeto de
descolonização da cultura.
A palavra sertão não
ganhou raiz em África. À realidade e paisagem sertanejas
brasileiras corresponde a savana africana. O sertão e as veredas
na escrita de Guimarães Rosa, não são lugares geográficos, são
mundos construídos na linguagem. O sertão está dentro de nós,
ele é o não-território, mas onde os sonhos se desenrolam e o
tempo também não tem, como em Mia Couto, uma dimensão
cronológica, é o tempo sonhado onde a vida se encaixa. Citando o
autor de Grande Sertão: Veredas, Mia Couto refere: “estas
coisas de que me lembro se passaram tempos depois” (COUTO, 2009,
p. 117). O mundo da vida, onde as coisas importantes acontecem e
se situam para além do tempo, é o universo onde se desenvolve a
narrativa de ambos os autores. “Só pela transgressão poética é
possível escapar à ditadura da realidade” (COUTO, 2009, p. 117)
enquanto recinto prisional, ainda mais aprisionada pelo
convencionalismo das regras e dos géneros literários. O narrador
transgressor é aquele que serve de mediador entre o universo da
escrita e o da oralidade, estabelecendo uma relação entre ambos.
Esta perspectiva de imersão na cultura popular e nos mundos da
oralidade, no sentido da sua revalorização e da busca de uma
identidade traída e negada, representa um dos aspetos da
literatura pós-colonial.
|
 |
|
O pós-colonial: a
busca de uma identidade entrelaçada entre o passado e o presente
O pensamento
literário de Mia Couto pode situar-se num diálogo entre a
tradição africana e a tradição europeia. É no contraponto entre
essas duas tradições que poderemos compreender a visão não
essencialista da proposta identitária de Mia Couto, na convicção
de que não existem culturas puras. A nossa riqueza, afirma o
autor, “provém da nossa disponibilidade de efetuarmos trocas
culturais com os outros” (COUTO, 2005, p. 10). A magia e sedução
que atraem múltiplos visitantes a Moçambique, “nascem da
habilidade em trocarmos cultura e produzirmos mestiçagens.
Nascem da capacidade de sermos nós, sendo outros” (COUTO, 2005,
p. 10).
Mia Couto, escritor
africano, branco e de língua portuguesa, como ele próprio se
define (COUTO, 1997, p. 59) pode inserir-se no âmbito da
literatura pós-colonial, desacorrentado do realismo tradicional
e mergulhando no realismo mágico, onde “o imaginário ancestral
com toda a sua carga de maravilhoso, irrompe, subitamente, no
seio da realidade, relativizando-a e matizando-a de sentidos
plurais” (FERREIRA, 2007, p. 89). Na
perspectiva de Fonseca e Cury, o realismo ficcional de Mia Couto
pode definir-se como “realismo maravilhoso”, dado que
"uma das estratégias para a apreensão dos diferentes processos
de negociação, de misturas, de hibridismos presentes nos
romances de Mia Couto pode ser teoricamente iluminada pelas
referências ao chamado realismo mágico, ao real maravilhoso,
implicando a nomeação de espaços e de uma lógica que se
contrapõem à racionalidade da visão de mundo europeia,
instrumento de poder utilizado pela colonização. O conceito de
real maravilhoso visa configurar a união de
elementos díspares que, procedentes de culturas heterogêneas,
compõem uma nova realidade histórica que subverte os padrões
convencionais da racionalidade ocidental" (FONSECA & CURY, 2008,
p. 121).
O realismo
maravilhoso é marcado pela presença de elementos mágicos,
fantásticos e sobrenaturais e a trama ocorre quase sempre em
espaços e tempos imaginários. De acordo com a
posição de FERREIRA (2007), este realismo define a literatura
pós-colonial e caracteriza-a como contra-hegemônica.
Literatura
pós-colonial, não porque a maior parte da sua obra tenha sido
escrita e publicada no período posterior à descolonização
portuguesa de Moçambique, essa imensa varanda sobre o Índico,
segundo Eduardo Lourenço (apud COUTO, 1996, p. 7), mas
porque, efetivamente, a sua imersão na cultura e tradição
moçambicanas e na oralidade do seu povo faz dele um autor cujo
posicionamento literário, ideológico, político e cultural sempre
foi pós-colonial, independentemente da colonização e das suas
raízes europeias. Por isso, o seu pensamento viaja,
permanentemente, entre a tradição e a modernidade procurando
nestes percursos entre o passado e o presente dar expressão a
uma cultura que, tendo raízes numa tradição pré-colonial, é, na
contemporaneidade, o resultado de múltiplas intercepções que
formam a identidade da cultura moçambicana. Entender o seu
pensamento, implica um encontro com as suas origens. Assim se
refere o autor:
"Nasci num tempo de charneira, entre um mundo que nascia e outro
que morria. Entre uma pátria que nunca houve e outra que ainda
está nascendo. Essa condição de um ser de fronteira marcou-me
para sempre. As duas partes de mim exigiam um médium, um
tradutor. A poesia veio em meu socorro para criar essa ponte
entre dois mundos aparentemente distantes. E eu cresci nesse
ambiente de mestiçagem, escutando os velhos contadores de
histórias. Eles me traziam o encantamento de um momento sagrado"
(COUTO, 2009, p. 123).
Os elementos da
tradição constituem a matriz fundacional da africanidade, que se
substancializa nos hábitos e costumes, mitos, crenças e línguas
locais (obrigadas a hibernar durante longo período), e numa
indistinção entre o sagrado e o profano; enquanto que o segundo
elemento, a modernidade, é, sobretudo, o resultado das
influências europeias, da colonização portuguesa e de uma
cultura global que imprime as suas marcas em todas as culturas.
Todavia, a cultura africana não é, apenas, o regresso a um
passado irreversível, mas o entrecruzamento, a simbiose entre o
passado ancestral e o legado cultural do período colonial,
sobretudo, veiculado pela língua portuguesa que se
institucionalizou como língua-padrão, apesar de considerarmos
que a literatura de Mia Couto opera uma espécie de
desterritorialização da língua portuguesa, transferindo-a e
traduzindo-a para o território e realidade moçambicanos, um
outro lugar enunciativo que luta, permanentemente, “para não ser
silêncio” (COUTO, 2009, p. 15). Efetivamente,
uma das características essenciais do domínio colonial foi o
controle sobre a língua e a imposição de uma cultura
monolinguística, desvalorizando as línguas locais como veículos
de uma cultura ancestral. O domínio de uma língua e a sua
imposição significou o domínio e manipulação das consciências e
da construção das representações pouco africanas sobre o mundo e
sobre a existência. A língua tornou-se o instrumento mais
poderoso para a perpetuação das hierarquias sociais e das
relações de poder, tal como pela construção das concepções de
verdade e pelo “adormecimento das vozes” que ficaram esquecidas
no tempo. A língua colonial operou o esquecimento da memória.
Apesar dos efeitos
desastrosos da colonização, o processo de descolonização de que
aqui se fala, não se opera pela recusa da cultura colonial, mas
por uma inquietude, insubordinação e contaminação linguísticas.
A reinvenção permanente da língua, embora contaminada pelas
origens, sem perversões sintáticas, ao derrubar as convenções
discursivas, produz uma nova semântica potenciadora de novos
caminhos da linguagem, ajustados a cenários onde convivem os
vivos, os mortos, os fantasmas e outros seres da natureza, como
atores de um mágico e harmonioso Universo.
Neste sentido, o
conceito de pós-colonial aplicado à literatura não tem um
sentido cronológico, mas assume uma maior amplitude para
significar um conjunto de experiências políticas, culturais,
subjetivas, intersubjetivas e coletivas que transitam em tempos
e lugares diversos, pré-coloniais, coloniais e pós-coloniais.
Como defende FERREIRA (2007), sendo a questão da temporalidade
uma dimensão fundamental na obra de Mia Couto, ela é,
sistematicamente, desconstruída, perdendo a linearidade que
sempre lhe foi atribuída pela cultura ocidental. O tempo,
“privado da sua dimensão cronológica, […] torna-se um espaço
histórico sofisticado, o de um passado indefinido no seio do
qual os homens tentam reconstruir o caos no qual vivem”
(FERREIRA, 2007, p. 29). Indubitavelmente, o pós-colonial aponta
para a construção ou resgate de outras epistemologias em
oposição ao conhecimento de caráter eurocêntrico e
ocidentocêntrico.
O conceito de
pós-colonialismo suscita, pois, algumas divergências teóricas
que, todavia, são enriquecedoras, quer do ponto de vista
antropológico, quer epistemológico. Para delimitar o sentido que
lhe atribuímos, utilizamo-lo, aqui, na perspectiva de Boaventura
de Sousa Santos (2004) ao referir-se às relações desiguais entre
o Norte e o Sul na compreensão e na explicação do mundo e das
relações sociais. Norte e Sul, não numa perspectiva
especificamente geográfica, mas no sentido simbólico de opressão
e de dominação do Sul (1) pelo Norte.
Essas relações desiguais persistem, quer no Norte quer no Sul,
como extensão e como representação das relações coloniais ainda
dominantes em muitos povos que foram vítimas da colonização.
Pensamento pós-colonial significa, pois, uma oposição a todas as
formas imperiais de opressão dos povos e culturas, histórica e
contemporaneamente dominados, oprimidos e
privados de dar visibilidade à sua cultura. Significa, na visão
de Mia Couto, uma oposição a todas as formas monolíticas e
funcionais de exprimir e dizer o real e a existência humana.
O seu pensamento
desvela e revela, por meio de uma diversidade de vozes, as
formas diversificadas de dominação, no passado e no presente. Os
dominados e excluídos são e foram, sobretudo, “os que moram na
periferia, os da chamada cidade baixa. E há ainda os rurais, os
que são uma espécie de imagem desfocada do retrato nacional.
Essa gente parece condenada a não ter rosto e falar pela voz de
outros” (COUTO, 2005, p. 10). São, afinal, aqueles que
vivem nas margens, na periferia da periferia. O colonialismo não
morreu com as independências e, mais do que isso, permaneceu nas
mentes dos colonizados e colonizadores como colonialidade
(2). O colonialismo “mudou de turno e de executores. O
actual colonialismo dispensa colonos e tornou-se indígena nos
nossos territórios. Não só se naturalizou como passou a ser
co-gerido numa parceria entre ex-colonizadores e ex-colonizados”
(COUTO, 2005, p. 11). O pós-colonialismo tem, assim, uma marca
identitária constituída por uma aceitação e rejeição de um
passado colonial e pela conflitualidade entre ambas. Esse
hibridismo, essa mestiçagem manifesta-se, permanentemente, na
narrativa de Mia Couto e nos próprios textos de intervenção. O
papel da memória, como reconstrução do passado e do
“desanoitecer das vozes” adquire uma centralidade incontornável
no seu pensamento e na sua expressão literária, tendo em vista a
construção de uma identidade moçambicana, feita de encontros e
desencontros culturais e onde os excluídos, oprimidos,
invisibilizados, “aqueles que vivem do outro lado da rua”, nas
margens, possam participar da invenção da sua História. É uma
escrita da História a partir do ponto de vista das vítimas, das
suas estórias, que se desloca do centro hegemônico para a
periferia contra-hegemônica. Aliás, os países africanos de
expressão portuguesa situam-se para além da periferia do
sitema-mundo, situam-se na periferia da periferia, considerando
que o país colonizador ocupa um lugar semiperiférico no âmbito
do sistema capitalista global.
A cultura africana é
o resultado de uma riqueza inquestionável, produto de trocas
diversas (africana, colonial, ocidental, indiana, britânica
etc.) e que constitui um valioso património,
parte dele por desvelar. Assim se exprime Mia Couto:
"O nosso continente é feito de profunda diversidade e de
complexas mestiçagens. Longas e irreversíveis misturas de
culturas moldaram um mosaico de diferenças que são um dos mais
valiosos patrimónios do nosso continente. Quando mencionamos
essas mestiçagens falamos com algum receio como se o produto
híbrido fosse qualquer coisa menos pura. Mas não existe pureza
quando se fala de espécie humana. Não há economia actual que não
se alicerce em trocas. Pois não há cultura humana que não se
fundamente em profundas trocas de alma" (COUTO, 2005, p. 19).
A
experiência do desenraizamento, provocada pela colonização,
levou os escritores africanos, entre eles Mia Couto, a procurar
as raízes culturais e a sua valorização. “É como desterrados ou
(des)locados que os africanos vão reinventar a sua identidade
num discurso que traz as marcas de seu entrelugar cultural”
(REIS, 2011, p. 80). Quando os intelectuais africanos
tomam consciência de si mesmos e da sua diferença em relação às
antigas metrópoles, “são espíritos modernos e culturalmente
híbridos que descobrem a realidade africana e procuram criar uma
nova territorialidade” (REIS, 2011, p. 80). A questão da
identidade africana, moçambicana, torna-se a tendência
prevalecente da literatura pós-colonial, não no sentido de
estabelecer uma ruptura radical e hostilizante com o legado
colonial mas, sobretudo, para resgatar os traços identitários de
uma cultura silenciada e hostilizada pela longa noite colonial.
A língua portuguesa, outrora instrumento de dominação cultural,
política e ideológica, torna-se o instrumento de libertação por
meio da sua reinvenção e dos desvios que a linguagem
possibilita. Os instrumentos do opressor transformam-se, pela
nova literatura, em instrumentos de libertação, de afirmação de
uma identidade cultural e da construção de um futuro a partir
das margens. É no trabalho da língua como texto que “se desvelam
as tradições traídas e reformuladas e se recuperam os traços
genealógicos de variadas formas ou géneros orais africanos e
outros géneros provenientes da literatura escrita” (LEITE, 1998,
p. 54). Desvelar,
revelar e reconhecer os valores simbólicos de uma tradição
cultural esquecida e silenciada pode permitir que o povo
moçambicano reencontre a sua dignidade cultural e rejeite a
condição subalterna e periférica a que foi votado pelo
etnocentrismo europeu. Esta é, pensamos, uma das tarefas
revolucionárias da literatura.
|
 |
|
Desvelamento e
revelação
A literatura, para
além de ser uma espécie de barómetro da consciência moral de um
povo, é um veículo privilegiado de intervenção política, social
e de celebração cultural. É a viagem onde o possível prolifera e
onde as alternativas podem ter o seu lugar e espaço ficcionados
de afirmação. Neste sentido, o mundo literário, pela riqueza
metafórica e pela sua pluridiversidade e mestiçagem de sentidos,
evoca o literal transgredindo-o e, por isso, afirma-se como “um
espaço e tempo do possível, da democracia e da liberdade,
tornando-se a consciência moral da política” (REIS, 2011),
revelando a multiplicidade do real e desvelando os mistérios e
sentidos nele ocultos. Todavia, a literatura de ficção é também
recriação do real, proporcionando um espaço de crítica social,
de questionamento e de combate. “Ficção e realidade são as
gémeas e convertíveis filhas da vida” (COUTO, 1991, p. 73).
“Para combater pela verdade, o escritor usa uma inverdade: a
literatura. Mas é uma mentira que não
mente” (COUTO, 2005, p. 59). O
escritor não é, apenas, aquele que escreve e aquilo que escreve,
é quem desconstrói os pilares em que assentam as convicções
falaciosas do senso comum e que “desafia os fundamentos
do próprio pensamento, que produz pensamento, que é capaz
de engravidar os outros de sentimentos e de encantamento”
(COUTO, 2005, p. 63).
A reflexão sobre o
estado pós-colonial representa uma abertura para um debate sobre
a realidade que se entrecruza em espaços e tempos diversos,
realidade que é marcada pela miséria, pela exploração
desenfreada de uma elite política e económica corrupta,
indiferente ao mal-estar de grande parte da
população. As relações neo-coloniais mantêm as relações de
subalternização que destroem e alienam a dignidade humana.
Assim, assumindo uma posição crítica em relação ao presente, se
pronuncia Mia Couto sobre o esquecimento a que os povos foram
votados por parte das novas elites:
"O nosso continente corre o risco de ser um território
esquecido, secundarizado pelas estratégias de integração global.
Quando digo “esquecido”, pensarão que me refiro à atitude das
grandes potências. Mas eu refiro-me às nossas próprias elites
que viraram as costas às responsabilidades para com os seus
povos, à forma como o seu comportamento predador ajuda a
denegrir a nossa imagem e fere a dignidade de todos os
africanos" (COUTO, 2005, p. 21)
O autor, na sua
preocupação com os vitimados, excluídos e marginalizados, com
aqueles que já na sua infância viviam “do outro lado da rua”,
alerta para a necessidade de redefinir e reinventar modelos de
gestão que excluem “aqueles que vivem na oralidade e na
periferia da lógica e da racionalidade europeias” (COUTO, 2005,
p. 22). Daí que o seu pensamento se enquadre no âmbito de uma
racionalidade mestiça que se move em lógicas que se entrecruzam:
a lógica da oralidade, fundamentada numa relação com as
tradições rurais, envoltas em cenários de magia e uma lógica da
modernidade cosmopolita, veiculada e sustentada pela língua
portuguesa e numa educação colonial. A imposição de um modelo
eurocêntrico gerou um distanciamento dos jovens em relação ao
seu próprio país e o surgimento de um novo sujeito cultural com
uma identidade que se construiu numa conflitualidade entre duas
temporalidades: o presente africano-ocidentalizado, “vestido de
roupa emprestada” (COUTO, 2005, p. 10) e um “passado mal
embalado” das tradições culturais, que se
mantêm vivas, mas “carregadas de mitos e preconceitos” (COUTO,
2005, p. 10). De acordo com Ferreira (2007, p. 53), a relação
com as tradições rurais e com a oralidade, na obra de Mia Couto,
é, na maior parte dos casos,
"uma relação em segunda mão, diferida, nascida não de uma
experiência vivida, mas adquirida, apreendida, estudada. Este
fator está na génese da obra de Mia Couto no que ela revela de
remanejamento da língua, instrumento privilegiado da
contaminação, mestiçagem e entrosamento das culturas, orais e
escritas".
A recusa de uma única
lógica e da hegemonia da lógica racionalista como único modo de
apropriação do real está presente na expressão literária-poética
do seu pensamento. Daí a valorização do universo rural e da
oralidade que o exprime como estratégia de defesa e de resgate
de uma tradição oral que contém em si uma epistemologia, tão
válida como a epistemologia racional e urbana.
"A mais importante linha divisória em Moçambique não é tanto a
fronteira que separa analfabetos e alfabetizados, mas a
fronteira entre a lógica da escrita e a lógica da oralidade. A
absoluta maioria dos 20 milhões de moçambicanos vive e funciona
num tipo de racionalidade que tem pouco a ver com o universo
urbano. Nesses casos, pressupostos filosóficos do mundo rural
correm o risco de ser excluídos e extintos" (COUTO, 2009, p.
108).
Em oposição clara a
uma epistemologia eurocêntrica que apenas valoriza o discurso e
a lógica científicos, o autor apresenta os elementos essenciais
de uma epistemologia da ruralidade africana, propondo o desafio
do diálogo entre a escrita e a oralidade que é, afinal, o que o
próprio Mia Couto experencializa nos seus contos, nas suas
crónicas, nos seus romances:
"A concepção relacional da identidade, inscrita no provérbio:
“eu sou os outros”; a ideia de que a felicidade se alcança não
por domínio mas por harmonias; a ideia de um tempo circular; o
sentimento de gerir o mundo em diálogo com os mortos: todos
estes conceitos constam da rica cosmogonia africana. É evidente
que não se pode romantizar esse mundo não urbanizado. Ele
necessita de enfrentar o confronto com a modernidade. O desafio
seria alfabetizar sem que a riqueza da oralidade
fosse eliminada. O desafio seria ensinar a escrita a
conversar com a oralidade" (COUTO, 2009, p. 108-109).
O desvelamento e
revelação do passado e da ruralidade opera-se por meio de um
diálogo frutífero com os depositários da tradição, aqueles cujo
pensamento está impregnado pelo tempo, pelo mistério e pelo
sonho. A familiaridade com o insólito, com a morte e com o
fantasmagórico configura toda a magia que percorre os escritos
de Mia Couto.
No conto "A sombra
sentada", de Cronicando, Mia Couto (1991, p. 13-14)
descreve uma conversa com o velho Travage, um símbolo da
simbiose entre tradição e modernidade,
"para ouvir o seu conselho sobre os mundos [...]. No pensamento
do velho abundava o tempo. Esse era o gosto de o voltar a ver.
Por esse gosto eu largara os meus afazeres urbanos e me fizera
aos trilhos. Ia seguindo pelos caminhos de terra, desses que
nascem da conversa entre o chão e os pés viajantes. No atalho
arenoso, as minhas pernas eram escolares, gémeas aprendizes da
lonjura".
No referido conto,
tradição e modernidade, ruralidade e urbanidade se mesclam na
figura do velho Travage, que, durante anos, tinha sido guarda da
passagem de nível e “a seu mando paralisavam os comboios.
Levantava a bandeira e os ferros faiscavam travagens. Donde o
seu nome.” Depois da aposentadoria, “o velho regressou à
primeira pedra, num lugar onde nunca se escutou o uivo dos
comboios. Mas o velho, quase surdo, acreditava que, por entre os
demorados silêncios, se sentia o metálico suspiro das máquinas”
(COUTO, 1991, p. 13). O convívio entre
tradição e modernidade surge da recriação literária que produz o
diálogo entre a oralidade e a escrita. Pela palavra e pela
simbiose entre oralidade e escrita se recupera o passado,
substancializado nas tradições e valores que as configuram; mas,
também, a força da palavra contém em si o sonho do futuro, é
prefiguração e reconfiguração.
Em Vozes
Anoitecidas, constituído por doze contos, o autor abre as
portas do passado para dar voz ao silêncio das vozes, esquecidas
numa confluência de tempos e lugares e que constituem
personagens de um mundo proposto pelo narrador, suscetível de
ser habitado e de dar sentido à vida. São
personagens que partilham a autoria do que é narrado, que se
consomem no interior dos sonhos, despertando, “desanoitecendo,”
pela via da recriação na ficção literária. Estas estórias,
afirma Mia Couto,
"desadormeceram em mim sempre a partir de qualquer coisa
acontecida de verdade mas que me foi contada como se tivesse
ocorrido na outra margem do mundo. Na travessia dessa fronteira
de sombra escutei vozes que vazaram o sol. Outras foram asas no
meu voo de escrever. A umas e a outras dedico este desejo de
contar e de inventar" (COUTO, 1987, p.19).
São estórias que se
deram num tempo que nunca chegou, que acontecem no voo da
escrita, onde “os peixes nadam num céu de água” e “os mortos
também têm direito à sua solidão”, ganhando vida e visibilidade
por meio da narrativa e no seu interior e para além das
fronteiras da geografia da vida (COUTO, 2006).
O ato de contar, por
meio da narrativa de ficção, consiste, de acordo com a posição
de Paul Ricoeur (1986, p. 14), “em preservar a amplitude e a
diversidade dos usos da linguagem”. Neste sentido, supera-se a
perspectiva meramente formal e funcional da linguagem, na sua
dimensão lógica, como defendia a filosofia analítica. A
referência ao passado, tendo em vista a sua compreensão, é
tarefa da História o que coloca alguns problemas relativamente à
narrativa ficcional que dispensa a prova material dos
acontecimentos e documentos. A narrativa ficcional, é obra da
imaginação produtora e, por isso, refere-se ao real de um modo
simbólico e metafórico. Todos os sistemas de símbolos contribuem
para a configuração do real. As intrigas, por exemplo, ajudam o
ser humano a configurar a sua experiência temporal, confusa e
informe. A função referencial da intriga consiste, precisamente,
na sua capacidade de configuração da experiência vivida. Neste
sentido, o mundo da ficção, fruto da imaginação produtora, é um
laboratório onde se experimentam mundos possíveis que forçam
mudanças da realidade. O mundo da ficção (fingere) é o
mundo do fingimento e fingir é também agir, fazer, forjar, na
medida em que no mundo do texto, este se projeta como mundo. O
mundo do texto, porque é mundo, entra em colisão com o mundo
real para o refazer. A reconstrução do passado é obra da
imaginação. O historiador configura as intrigas que os
documentos permitem ou interditam, o que lhe possibilita um
trabalho hermenêutico tendo em vista a compreensão do passado.
Por sua vez, a imaginação produtora da ficção não precisa de
provas reais ou documentais, ela trabalha com as dimensões
simbólica e metafórica e, neste sentido, constrói mundos
possíveis que forçam o mundo real a transformar-se. É por meio
desta capacidade produtora da ficção que a experiência humana,
na sua dimensão temporal profunda, permanentemente se refigura
(RICOEUR, 1986). A referência a um tempo atemporal (in illo
tempore) onde se movem as figuras que povoam os contos e
romances de Mia Couto, em cenários fantásticos e
fantasmagóricos, permite enquadrar a narrativa ficcional do
autor no âmbito do realismo mágico (FERREIRA, 2007),
transgressor das visões literais da palavra e do real. A
inovação semântica da narrativa ficcional de Mia Couto
permite-nos olhar para o mundo com olhos de sonho e dissolver a
dicotomia tradicional entre o profano e o sagrado. É nesta
conexão entre estes dois universos que se estabelece, também, a
relação entre o mundo da escrita e o mundo da oralidade. O
universo narrativo de Mia Couto, tendo em conta a construção de
uma epistemologia de cariz não-eurocêntrico, permite-nos ver o
mundo de um modo mais colorido e menos cinzento. Ver o mundo,
afinal, de acordo com as cores e a riqueza da diversidade
cultural, em oposição a uma visão monocromática da epistemologia
tradicional, monocultural e eurocêntrica.
|
 |
|
Entre o sonho e a
morte: a reinvenção do real
Como já se afirmou
anteriormente, a narrativa de ficção de Mia Couto é impregnada
pela presença do sagrado e da relação com o sobrenatural que,
por sua vez, não está separado da realidade profana. Há, na
cultura africana e no seu imaginário, uma espécie de força
energética, um misticismo que liga todos os seres às divindades
ancestrais. A perspectiva hierárquica do mundo situa os deuses
no topo da hierarquia, seguida dos mortos, dos vivos e dos
outros seres viventes. A morte não assume uma dimensão trágica,
como acontece nas sociedades ocidentais, mas é perspectivada
como uma mudança de ciclo, como transformação e como regresso ao
mundo dos espíritos. Os mortos, ao deixarem o mundo dos vivos,
passam a conviver com os ancestrais. Mito, sonho e realidade são
as dimensões que permitem reconstruir a realidade de um país
dilacerado pela destruição provocada pela guerra e pelas suas
implicações na estrutura social e nas relações sociais. A morte
é uma das consequências dessa tragédia, uma fatalidade que gera
angústia e medo e, neste sentido, não pode ser considerada como
algo inevitável. Uma morte que não surge de um modo natural, mas
que desequilibra os ciclos naturais da existência humana. São
crianças, jovens e mulheres que morrem de um modo injustificável
e cuja morte surge à revelia dos ciclos existenciais e cósmicos.
Nas sociedades
africanas, a questão da morte assume significados diversos. Ela
faz parte, com os rituais que lhe estão associados, da própria
vida. Assume, por isso, não apenas uma dimensão de fim de um
ciclo e início de outro, uma dimensão biológica e escatológica,
mas afirma-se como um facto sociocultural, pelas crenças e
representações que gera e que suscita. Todos os rituais
associados à morte têm por finalidade a unificação da família,
por um lado e, por outro, uma espécie de exorcização dos medos e
angústias a ela associados. À morte está associada a crença na
continuidade da vida e da existência, num mundo invisível, onde
moram os deuses e os espíritos dos falecidos. Estes espíritos
interagem, permanentemente, com o mundo dos vivos e determinam o
seu curso existencial. Nesta perspectiva, ela tem um significado
religioso, sagrado.
A morte, como
continuidade da vida, representa o renascimento do ser, a
passagem para uma outra forma de ser. Neste sentido, para além
da dimensão antropológica da morte, ela assume, também, uma
dimensão ontológica.
A associação da morte
à situação de guerra vivida em Moçambique, quer durante o
período colonial quer depois da independência, gera um certo
pessimismo no pensamento de Mia Couto. Para que um mundo nasça,
é necessário que o outro morra. O que acontece é que o antigo
ainda não morreu e o novo tarda a nascer (COUTO, 2005).
A literatura tem essa função criadora e recriadora na
reinvenção do real por meio do resgate de uma identidade
coletiva que se sustenta no regresso às
raízes da cultura de um povo, na redescoberta dos valores
ancestrais, esquecidos num tempo “em que não havia antigamente”
(COUTO, 2000, p. 49).
Terra Sonâmbula
(1992) é o primeiro romance de Mia Couto. Guerra e viagens são
os temas em função dos quais o romance se desenvolve. Guerra,
como pano de fundo e retrato de um país que mergulhou na mais
profunda destruição e esqueceu as suas raízes ancestrais.
Viagens, como fuga, descoberta, reencontro e sonho. Muidinga,
Tuhair e Kindzu são os protagonistas destas viagens. O primeiro
(Muidinga), foge da guerra e busca a sua identidade,
com a ajuda de Tuhair, nos valores esquecidos no tempo. É
uma viagem de conhecimento, mas, sobretudo, de autoconhecimento.
Por sua vez, a viagem de Kindzu é a procura de um sonho, de um
ideal; é fuga de uma educação recebida e dos valores que lhe
foram transmitidos. Busca, afinal, um mundo desconhecido e, por
isso, a sua viagem é uma espécie de viagem de iniciação, de
aprendizagem das suas raízes culturais. Qualquer um dos
personagens pode ser lido como um símbolo de um país que,
perdido dentro de si e em conflito consigo próprio, procura a
sua verdadeira identidade em inúmeras viagens para dentro de si
próprio, numa estrada coberta de múltiplas armadilhas. Um povo
sem memória, não tem história e, muito menos, identidade. Por
isso, são viagens que se realizam nas estradas do sonho,
dimensão que, apesar da morte, mantém as pessoas vivas e
contemporâneas do futuro e da memória. “O que faz andar a
estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a estrada
permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos
fazerem parentes do futuro” (COUTO, 1992, p. 7).
Em Terra Sonâmbula,
o ato de contar passa pela leitura. A leitura dos cadernos de
viagem de Kindzu altera, por completo, a existência de Muidinga
e Tuhair. A leitura é uma viagem dentro do sonho, mas também de
evasão e de entrada noutros mundos e nos seus segredos por
revelar. É o sonho que faz andar a estrada e enquanto ele
persistir, a estrada continuará viva (COUTO, 1992). As estórias
são contadas, não pelo recurso à oralidade, mas por meio da
escrita onde vive a oralidade. Os cadernos, que relatam a viagem
de Kindzu por mar, trazem a estória escrita da voz de Kindzu: “Acendo
a estória, me apago a mim. No fim destes escritos, serei de novo
uma sombra sem voz” (COUTO, 1992, p.15). O mar, símbolo
da reconciliação, regeneração e de paz, é o lugar para onde
convergem todas as viagens. É um local de encontro e de
esperança no renascimento. Não substitui a terra, onde moram os
espíritos e, simultaneamente, espaço de realização de sonhos.
Veja-se como as folhas dos cadernos de Kindzu se transformam em
páginas de terra e as letras em grãos de areia, perante o olhar
“abismaravilhado” de Kindzu.
A morte, para além da
sua simbologia, como mudança de ciclo, transformação, regresso à
terra é, também, nas sociedades africanas bantu, um
acontecimento social. E, como tal, a família deverá reunir-se
para receber os últimos conselhos e revelações dos mistérios por
parte de quem está em trânsito, dado que são os mortos quem
continua a governar os vivos. Em Um rio chamado tempo, uma
casa chamada terra (2002), o avô Mariano promete ao neto,
Marianinho, as últimas revelações dos mistérios da família.
Assim se pronuncia o avô Mariano acerca da necessidade da
presença da família:
"para você conhecer
os dentros de seus parentes. E todos, aqui, são os seus
parentes. Ou pelo menos equiparentes. Seu pai, com suas
amarguras, seu sonho coxeado. Abstinêncio com seus medos, tão
amarrados a seus fantasmas. Ultímio que não sabe de onde vem e
só respeita os grandes. Sua Tia Admirança que é alegre só por
mentira. Dulcineusa com seus delírios, coitada. Mas, lhe peço,
comece por Miserinha. Vá procurar Miserinha. Traga essa mulher
para Nyumba-Kaya. Estas paredes estão amarelecendo de saudade
dessa mulher. Ela deve repertencer-nos. É nossa família. E a
família não é coisa que exista em porções.
Ou é toda ou não é nada" (COUTO, 2002, p.
126).
Todavia, nem sempre
os mortos têm o devido funeral. Em A varanda do Frangipani
(1996), no primeiro capítulo, o sonho do morto, Ermelindo
Mucanga, sem cruz nem mármore, desglorificou-se no falecimento e
acabou um morto desencontrado da sua morte, morrendo longe do
seu lugar. E, por isso, faz parte “daqueles que não são
lembrados” (COUTO, 1996, p.12). Faltou cerimónia e tradição. E
tudo aconteceu porque Ermelindo morreu fora do lugar e deixou o
mundo na véspera da libertação: “meu país nascia, em roupas de
bandeira, e eu descia ao chão, exilado da luz” (COUTO, 1996, p.
12). Por isso mesmo, nunca chegará ao estado de xicuembo, que
são os defuntos definitivos e amados pelos vivos. A sua
transformação em xicuembo significa que será um antepassado-deus
para os seus descendentes e um espírito hostil para aqueles que,
em vida, eram seus inimigos. Interessante salientar que nesta
narrativa o próprio protagonista, que está morto, assume,
simultaneamente, o estatuto de narrador procurando revelar, pela
oralidade, o incómodo e as consequências de uma morte não
anunciada. Ermelindo, como morto, tem um estatuto inferior ao do
avô Mariano de Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra,
referido anteriormente. Todavia, Ermelindo acaba por voltar
à vida por um periodo de seis dias, apesar de, o regresso à vida
não ser muito do seu agrado: pangolim pergunta: “Não lhe apetece
ficar vivo outra vez? – Não. Como está a minha terra não me
apetece” (COUTO, 1996, p. 15), responde Ermelindo. “Ora,
Ermelindo, você vá, o tempo lá está bonito, molhado a boas
chuvinhas” (COUTO, 1996, p. 20). O regresso à vida significará
atingir o estado de xicuembo e, assim, será um defunto
definitivo e amado pelos vivos. Vida e morte não são dois
estados opostos, mas completam-se, uma é o continuum da
outra: A vida tem duas faces, uma visível, percepcionada pelos
sentidos, habitada pelos vivos, e a outra, oculta, obscura,
misteriosa, apenas intuída, pressentida e projetada. É por isso
que o universo narrativo de Mia Couto é povoado de
mortos e de vivos que interagem entre si, nem sempre de
um modo harmonioso. O real e o sobrenatural coabitam de um modo
natural e espontâneo e a morte, como outro ciclo da vida, é,
apenas, o prolongamento, a continuidade da existência. A morte,
como diria Hegel, aplicando uma perspectiva dialética, não é o
reverso da vida, mas uma outra forma de desenvolvimento e
manifestação da vida.
O universo da
fantasia instala a ordem do sonho como o “olho da vida” (COUTO,
1992, p. 17) em oposição a uma realidade dominada pela tragédia.
O território do sonho é, pois, o cenário de fantasia que resgata
a esperança humana e o liberta do aprisionamento de um mundo de
desequilíbrios e destruições. Em estórias abensonhadas
(COUTO, 1994, p. 7), o autor refere:
"Estas estórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis
anos as armas tinham vertido luto no chão de Moçambique. Estes
textos me surgiram entre as margens da mágoa e da esperança. […]
Estas estórias falam desse território onde nos vamos refazendo e
vamos molhando de esperança o rosto da chuva, água abensonhada.
Desse território onde todo homem é igual, assim: fingindo que
está, sonhando que vai, inventando que volta".
A oralidade é o
veículo de revelação dos mistérios ocultos e, assim, se
manifesta, também, uma relação indissociável entre o real e o
sobrenatural, entre o sonho e a realidade. É a partir dela que
se reinventa a esperança. Esta intercepção realiza-se no âmbito
do maravilhoso, “como o campo da fantasia “genuína”, pleno de
mundos secundários que constroem realidades alternativas, em que
sonho e realidade dialogam e interagem naturalmente” (FERREIRA,
2007, p. 146). O sonho, porque permite a libertação das amarras
do quotidiano, é o modo de regresso ao passado e do seu
desvelamento e revelação. Permanentemente, se manifesta o
maravilhoso nos romances e contos de Mia Couto, como, por
exemplo, o acontecimento impossível de um morto que se recusa a
morrer em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
(2002): “enquanto vivo se dizia morto. Agora que falecera, ele
teimava em não morrer completamente” (COUTO, 2002, p. 37). O
maravilhoso, ao transportar o leitor para um mundo-outro,
diferente do mundo real e ao referir-se à realidade de um modo
simbólico, metafórico, funciona como um horizonte de esperança e
de pressão sobre o real vivido, no sentido da sua transformação.
Nestas múltiplas
relações, entre sonho e realidade, vida e morte, natural e
sobrenatural se vão tecendo estórias de vida e de morte,
desafiando o próprio tempo, num espaço sacralizado pela árvore
da vida – o frangipani -, local de memória, de revitalização da
tradição e reduto de resistência dos velhos, esquecidos pelos
homens e por Deus.
"É que aqui, falamos demais. E sabe por quê? Porque estamos sós.
Nem Deus nos faz companhia […]. Aquelas nuvens no céu. São como
estas cataratas nos meus olhos: névoas que impedem Deus de nos
espreitar. Por isso, somos livres de mentir, aqui na fortaleza"
(COUTO, 1996, p. 26).
A mentira é o símbolo
de criação de uma outra ordem, de uma outra lógica e de
afirmação de uma tradição silenciada pelas “verdades”
convencionais. Os velhos são o repositório dessa tradição,
“guardiões de um mundo. De um mundo que está sendo morto. […]
estes velhos estão sendo mortos dentro de nós” (COUTO, 1996, p.
59-60).
Os velhos têm, nas
sociedades tradicionais africanas, um estatuto privilegiado. Na
obra de Mia Couto encontramo-los como protagonistas das suas
estórias e, mais do que isso, como verdadeiros contadores de
estórias transmitindo, por elas, toda a riqueza cultural
esquecida e silenciada. Outrora tão importantes são, agora,
marginalizados e esquecidos “por Deus e pelos homens” (COUTO,
1996, p. 26). O isolamento e esquecimento dos
velhos tem como consequência o esquecimento da tradição e a
destruição daqueles que deveriam continuar a ter essa função
pedagógica de transmissão dos valores, conhecimentos da
tradição, onde, afinal, se encontra uma das dimensões da
identidade cultural de um povo. Desvalorizar os velhos na
sociedade é transformar a memória em esquecimento.
A morte é também
aceitação, algo tomado como uma transformação em algo diferente.
Em Venenos de Deus, remédios do diabo (2008), Bartolomeu
Sozinho, depois de ter feito sete viagens, embarcado no
Infante D. Henrique, até ao fim do império colonial, mastiga
lembranças e vê o mar como a sua outra casa:
"Volta a contar pelos dedos,
demorando-se em cada falange, entretido em cada lembrança.
Suspende a contagem, os dedos deformados, espetados na vertical.
-Minhas mãos já estão
noutra estação do ano. Veja como estão frias….
O médico toca-lhe os dedos. Fica
assim, mão na mão, um tempo. Não é por afecto: o médico
aproveita para lhe contar a pulsação. O velho quase adormece.
Conforme ele mesmo diz: A velhice é assim, faz noite a qualquer
hora" (COUTO, 2008, p. 24).
Num outro passo,
Bartolomeu revela o que ainda o prende à vida:
"- Não é o coração que ainda me
prende. A minha âncora é outra.
- Aposto que é o
sonho.
- É a lembrança. Minha esposa ainda
se lembra de mim. É o esquecimento e não a morte que nos faz
ficar fora da vida” (COUTO, 2008, p. 25).
O esquecimento é uma
morte prematura dos velhos. E o esquecimento da sua memória
condena um povo à subserviência e à dominação, porque é negado o
encontro consigo próprio, com a sua própria história e com os
detentores da memória. A morte é ainda perspectivada como
desumanização da vida, como abandono social, descriminação e
exclusão. Como afirma Ferreira (2007, p. 299), “a morte social
manifesta-se no encarceramento e na institucionalização, na
rejeição ou marginalização social, no abandono”.
A obra de Mia Couto
elege, de facto, a morte como uma das temáticas centrais. Esta
eleição significa que a sua narrativa
ficcional é também uma reflexão sobre a condição humana dos
homens e mulheres moçambicanos. A experiência trágica da guerra
desvelou a dimensão mais maléfica do ser humano, capaz de
atrocidades impensáveis, praticadas contra outros seres humanos
inocentes. As vítimas da história calaram-se para sempre, mas a
literatura insiste em trazê-las de volta, dando voz ao seu
sofrimento e aos seus lamentos.
A recuperação da
memória, pelo recurso aos mitos e estórias significa a procura
por uma identidade perdida pelas circunstâncias da história e
que, face às imposições de uma cultura globalizada, tende a
perder-se no tempo. Daí, também, a valorização dos velhos como
depositários dessa tradição esquecida e silenciada. Nas tramas
do sonho e da morte se tecem esperanças de vida e se entristecem
vidas sem esperança.
|
 |
|
Notas inconclusivas
Maior do que a
angústia da morte é viver e morrer longe do seu lugar, das suas
origens e das tradições. Esta é uma das preocupações de Mia
Couto na sua narrativa ficcional, a da ligação dos seres humanos
aos lugares que permitem a sua fidelidade às tradições
culturais, onde se encontram os traços da sua identidade. A
escrita, na sua heterogeneidade e plurivocidade de sentidos que
há que desocultar, torna-se, em Mia Couto, o veículo de encontro
entre a tradição e a modernidade, dando voz às diversas formas
de leitura do mundo, silenciadas pelos processos de colonização
e neocolonização. É nesse diálogo entre tradição e modernidade
que o povo moçambicano encontrará a sua identidade, parte dela
negada ou traída. A problemática da identidade, algo que se
constrói de um modo dinâmico, só pode ser construída a partir da
conciliação entre o passado e o presente.
A diversidade de
vozes e olhares sobre a multifacetada realidade é, também, uma
estratégia crítica de um escritor que recusa as visões
unidimensionais e monoculturais de dizer o mundo e a vida.
O regresso a um
universo mítico permite a recuperação de um passado, desvelando
e revelando, por meio de estórias, onde protagonista e narrador
se confundem, os mistérios que essa ancestralidade encerra. O
poder de criação e recriação da língua, a transgressão da
norma-padrão colonial, fazem da escrita de Mia Couto um espaço
de descoberta, de fascínio e sedução, invulgares na literatura
contemporânea.
Finalmente, a escrita
a partir das margens permite o resgate de outras epistemologias
que têm como suporte a oralidade que, permanentemente, invade a
sua narrativa ficcional.
|
 |
Referências bibliográficas
COUTO, Mia. A varanda do Frangipani.
Lisboa: Editorial Caminho, 1996.
_____. Contos do nascer da Terra. Lisboa: Editorial Caminho,
1997.
_____. Cronicando. Lisboa: Editorial Caminho, 1991.
_____. E se Obama fosse africano? E outras interinvenções.
Lisboa: Editorial Caminho, 2009.
_____. O outro pé da serra. Lisboa: Editorial Caminho, 2006.
_____. Pensatempos. Lisboa: Editorial Caminho, 2005.
_____. Estórias abensonhadas. Lisboa: Editorial Caminho, 1994
_____. Venenos de Deus, remédios do diabo. Editorial Caminho,
2008.
_____. Vozes anoitecidas. Lisboa: Editorial Caminho, 1987.
_____. Contos do nascer da Terra. Lisboa: Editorial Caminho,
1997.
_____. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. Lisboa:
Editorial Caminho, 2002.
_____. Terra sonâmbula. Lisboa: Editorial Caminho, 1992.
_____. Auto-retratos: O gato e o novelo. Jornal de Letras
(08-10-1997), p.59.
FERREIRA, Ana Maria Teixeira Soares. Traduzindo mundos: os
mortos na narrativa de Mia Couto. Aveiro: Universidade de
Aveiro, 2007.
FONSECA, Maria Nazareth Soares; CURY, Maria Zilda Ferreira. Mia
Couto: espaços ficcionais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
LEITE, Ana Mafalda. Oralidade e escritas nas literaturas
africanas. Lisboa: Edições Colibri, 1998.
QUIJANO, Anibal. "Colonialidade de poder e classificação
social". SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula.
Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições Almedina, 2009, p.
73-117.
REIS, Eliana Lourenço de Lima. Pós-colonialismo, identidade e
mestiçagem cultural. A literatura de Wole Soyinka. Belo
Horizonte: UFMG, 2011.
RICOEUR, Paul. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II.
Paris: Éditions du Seuil, 1986.
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula.
Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições Almedina, 2009. |
 |
|
* Doutor em Filosofia
pela Universidade de Sevilha. Professor e pesquisador no
Programa de pós-graduação em Educação (PPGE), da Universidade
Nove de Julho (UNINOVE), onde integra a linha de pesquisa
Educação Popular e Culturas. Mantém ainda relações acadêmicas
com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias,
Lisboa, na área da Educação, onde foi Professor Associado.
(1) O Sul como
metáfora do sofrimento humano, tal como o traduz SANTOS
(2009).
(2) A
colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos
do padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na
imposição de uma classificação racial/étnica da população do
mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera
em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e
subjetivos, da existência social quotidiana e da escala
societal (QUIJANO, 2009, p. 73). O conceito de
colonialidade, embora engendrado no interior do
colonialismo, é mais profundo e mais duradouro. Manifesta-se
nas relações sociais como relações de poder, no pensamento e
suas representações da realidade e nos comportamentos
humanos.
|
| |
|