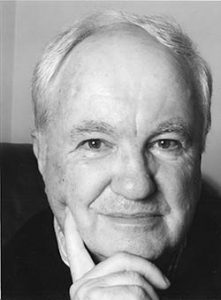
JÚLIO CONRADO
Sobre o conto A Vida e o Sonho, de Maria Judite de Carvalho.
In Tanta Gente Mariana
Ah, viagem os que não existem! Para quem não é nada, como um rio, o correr deve ser vida. Mas aos que pensam e sentem, aos que estão despertos, a horrorosa histeria dos comboios, dos automóveis, dos navios não o deixa dormir nem acordar… A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos, não é o que vemos, senão o que somos.
Bernardo Soares, Livro do Desassossego
A Viagem. Com um tema de tal modo sensível ao imaginário português, a tentação é, desde logo, emigrar para um território evocativo de descobrimentos, fazedores de mundos, fluxos militares, comércio, exílios, tráficos, diáspora, coerente com a vocação centrífuga do nosso particular desígnio: correr mundo. Não cederei, todavia, a esse engodo a que dir-se-ia ser quase impossível resistir. Não abordarei as viagens transcontinentais de Camões, Pêro Vaz de Caminha, Fernão Mendes Pinto ou a História Trágico-Marítima, como me dispensarei de discorrer acerca do calcorrear doméstico de Garrett, Raul Brandão, Torga, Saramago, e tantos outros, malgrado constituírem, sem excepção, legítimos reptos à ânsia de partida, descoberta e conhecimento que nos é intrínseca, e terá estado subjacente à escolha temática* em apreço. Evitarei, por conseguinte, a épica da Viagem e o suas adjacências vitalistas/picarescas para me situar no seu contrário, a anti-viagem ou a não viagem – a viagem em negativo, que aflora nalguns textos da nossa Literatura como uma nostalgia incurável, uma litania da separação ou campo de elocubração psicologística, tão firmes na memória colectiva como o lado solar da Grande Itinerância. (Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso ó mar). Aqui trata-se da Viagem do ponto de vista de quem a imaginou mas não a realizou.
Para tanto – ou tão pouco – escolhi um conto de uma escritora portuguesa injustamente esquecida mas finalmente em tempo de relançamento da sua obra, Maria Judite de Carvalho, com a dupla finalidade de respeitar a temática convencionada e relembrar um nome e uma obra importantes, além do pormenor não despiciendo de essa notável peça literária ter alguma coisa a ver com Moçambique. Devo dizer que hesitei entre esta opção e a célebre viagem a Cascais do Bernardo Soares de O Livro do Desassossego (Devaneio entre Cascais e Lisboa. Fui pagar a Cascais uma contribuição do patrão Vasques, de uma casa que tem no Estoril. Gozei antecipadamente o prazer de ir, uma hora para lá, uma hora para cá, vendo os aspectos sempre vários do grande rio e da sua foz atlântica. Na verdade, ao ir, perdi-me em meditações abstractas, vendo sem ver as paisagens aquáticas que me alegrava ir ver, e ao voltar perdi-me na fixação destas sensações.) ou a encantadora viagem no Sud-Express entre Lisboa e Paris na qual Aquilino Ribeiro descreve, em Os Olhos Deslumbrados, conto de Filhas da Babilónia, um romance platónico do narrador-protagonista com uma passageira acompanhada pelo pai, romance que deu em nada justamente pela apertada vigilância progenitora sobre o rebento bem-amado. Qualquer das três hipóteses oferecia outros tantos “retratos” de viagens falhadas, mas a história de Maria Judite de Carvalho, pela radicalidade da sua mensagem e pela ironia que dela transparece, além, naturalmente, da conexão com a Moçambique colonial e mítica, acabou por me decidir por A Vida e o Sonho.
No início da história há como que uma definição do estatuto social do protagonista que coloca este sob a alçada de um destino provável: “Podia ter sido caixeiro-viajante, maquinista de comboios ou marinheiro.” Qualquer das mencionadas profissões o salvaria do ramerrão imobilista próprio de um emprego numa casa bancária, aquele que lhe calhou em sorte, mas não o resgataria à mediania remediada, cujo enfado atinge por igual o naipe social caracterizado. Depois, mais em pormenor: tinham-lhe dado “uma farda cinzenta e um lugar de futuro”, associando o narrador omnisciente, na mesma frase, o futuro ao cinzento, ou seja, consubstanciando aí o cinzentismo previsível de uma vida consumida nos procedimentos peculiares da instituição empregadora. Aquela a que hoje chamaríamos a classe média-baixa, na Lisboa dos anos cinquenta não era propriamente encorajada a alimentar grandes sonhos de viagens quanto mais viagens de sonho. Havia, claro, os extractos da população que “viajavam por obrigação”: os militares expedicionários, os emigrantes económicos, os que procuravam o exílio e os que respondiam pela administração colonial. A viagem, por puro prazer, era naturalmente prerrogativa dos ricos e dos poderosos.
À precisão cirúrgica da delimitação do extracto socio-económico a que pertence a personagem principal acresce um primeiro sinal de crise pela exploração de planos em conflito: a “viagem” do caixeiro-viajante, do maquinista de comboios ou do marinheiro passa por oposto ao sedentarismo burocrático do bancário; o par antitético movimento/imobilidade corresponde a uma fractura estrutural em que o segundo termo implica uma noção de rotina (Depois os anos tinham passado… cheios de dias longos, sem interesse) e mais tarde uma representação de “viagem” interiorizada não como acção mas como mito. À medida que o groom (uma farda cinzenta) que o pai conseguira meter na casa bancária, aos treze anos, “à custa de muitos pedidos”, progredia (lentamente) na carreira, enleando-se “na engrenagem de que nunca mais saberia libertar-se”, e não ia além de leituras de Emilio Salgari ou de consultas a um velho atlas como devaneio intelectual, formava-se aquele que viria a ser um homem “metódico, com sonhos impossíveis mas nenhumas ambições” (aqui, a aproximação a Um Homem sem Qualidades, de Robert Musil, é inevitável, pese embora o facto de o nosso bancário não ser totalmente desprovido de competência – era, no mínimo, “metódico”, qualidade muito apreciada no meio profissional).
Já casado e reconhecidos os seus méritos no serviço (ainda que os novos paquetes** o não respeitassem) passou a cultivar o vício privado de, nas tardes de domingo, ir até ao cais observar os navios de partida ou ao aeroporto ver os aviões levantarem voo, iludindo a mulher, a quem asseverava passar o tempo no futebol, no pressuposto de que ela jamais saberia compreendê-lo, como o não entendera o colega Costa, a quem num momento de fragilidade psicológica descuidadamente confidenciara a extravagante obsessão. É esse colega que um dia seguirá para Moçambique, onde irá ocupar o lugar que lhe fora oferecido a ele, Adérito, e que recusara, perdendo assim a oportunidade de cumprir o sonho de fazer uma grande viagem. Ficou-se pelo cais a assistir melancolicamente ao início da viagem do Costa “num bonito paquete” para depois dar ainda um “salto ao aeroporto a ver sair os aviões”.
Antes de prosseguir, não resisto a citar-me, por vir a propósito mas também por não diferir substancialmente do que escrevi aquilo que, no mesmo sentido, aqui pudesse aduzir em abono das qualidades de ficcionista da autora. Num texto intitulado Maria Judite de Carvalho, a Obra e a Crítica*** escrevi:
A exactidão, o governo, a mestria, consubstanciam um uníssono louvor da crítica a alguma coisa que não é uso encontrar na produção corrente: o não envolvimento emocional do narrador em histórias que apelam fortemente para esse envolvimento, o que lhe permite organizar pequenas cerimónias discursivas nas quais as palavras se poupam ou se desbaratam; o tempo se fragmenta ou se unifica; o sentido do ridículo recobre as acções de mulheres que se chamam Alma, Flores ou Mercês; a metáfora da juventude ou do poder tem por suportes nomes solares (Vasco, Claude); as águas estão estagnadas como as existências que simbolicamente com elas se relacionam ou são tão bravias que matam quem displicentemente lhes negligencie a força. E assim por diante, no incessante cumprimento de uma tarefa de construção e desconstrução técnica, que todavia não mexe com as temáticas, sempre depressivas, com o estilo, sempre contido mas coloquial, e com um estar acima dos outros que é sempre o saber contar-lhes as dores sem as ter – ou então tê-las mas fingir tão completamente tratar-se de dores alheias que daí resulta um categórico efeito de soberania sobre os tiques, os traumas, as decepções não só de uma burguesia em crise como igualmente sobre o destino daqueles que dela dependem ou à volta de cujo eixo orbitam: as dactilógrafas, as caixeiras, as modistas, os amanuenses, as criadas de servir, mais essa massa de gente remediada, entalada entre o patronato e o proletariado, que vegeta “fora da História” sem aprender a revoltar-se, entregue a uma perpétua confrontação magoada, que sempre lhe é desfavorável, com o mundo.
Adaptando então estas palavras ao que aqui importa, e tratando-se Tanta Gente Mariana de uma primeira obra, não pode deixar de surpreender a coerência do percurso literário da autora – uma linha de rumo definida logo no livro inaugural e levada até ao fim, como um projecto racionalmente concebido e friamente executado. A arte com que é aproveitada a miséria envergonhada como filão literário, assente em grande mestria formal, numa superior capacidade de caracterização das personagens dos pontos de vista social e psicológico, e num hábil culto da mediação que arrasta consigo, por vezes de modo cruel, uma carga irónica que marca distâncias entre a comiseração e a insolidariedade no combinado de funções responsáveis pela dinâmica da intriga. No caso vertente, há duas personagens felizes, de que quase não reza a história: O Costa, que “vemos” partir num bonito paquete para Lourenço Marques, e o director bancário, cuja prosperidade é mensurável pela quantidade de “brilhantes” que traz nos dedos. Do Costa sabemos apenas que escarnece dos sonhos do colega, do director bancário ainda sabemos menos. São obviamente personagens que não interessam a Maria Judite de Carvalho – demasiado felizes para a seduzirem embora as não enjeite como adereços de contraste.
Ao invés, a mulher de Adérito não é feliz: onde ela seria feliz era em África, informa a própria.
Adérito, por seu turno, é um homem “sem pensamentos”, informa o narrador, cuja cultura literária, da adolescência para a idade madura, evoluiu apenas de Salgari até Júlio Verne e Daniel Defoe.
Mas é o nosso bancário “sem pensamentos” que considera a mulher “oca”, talvez por não ser capaz de sonhar viagens fictícias e a viagem constituir para ela uma aspiração com conta, peso e medida. Uma coisa concreta.
Apesar do comedimento na elaboração da personagem feminina e descontando algumas rotinas cúmplices (a ida ao cinema, ao sábado, a missa dominical), parece ponto assente que este casal, embora cada um dos seus membros tolere o outro, não é feliz.
É neste preciso contexto que a viagem surge como um extra de luxo na apagada e vil tristeza das vidinhas conformadas com a sua sorte. Em meia dúzia de sínteses admiráveis é criada a noção de uma ambiência constrangedora. Para as pessoas rendidas à mediocridade e ao cinzentismo de um dia-a-dia sem sobressaltos, a viagem e tudo o que lhe está associado – o gosto pelo desconhecido, o espírito de aventura, a descoberta dos grandes espaços, o contacto com outros povos – irrompe como uma possibilidade estranha com a qual é complicadol lidar (sobretudo quando já se tem dela uma imagem quimérica difícil de erradicar), prenda do destino de que não se julgam merecedores e tomam como tentação do demónio para lhes atrapalhar as bem-amadas rotinas. Para os outros, os de pensamento positivo avessos a torturantes preocupações existenciais, dispostos a enfrentar desafios de onde quer que eles surjam, a oportunidade da viagem corresponde a saltos qualitativos nas suas condições de existência e a hesitação não faz parte dos lances a cumprir para o lograrem. Ora, a A. separa rapidamente o trigo do joio, porque apenas lhe interessa operar com o joio. Posta a viagem como hipótese de felicidade só ao alcance dos que são capazes de um golpe de asa, e resolvida esta questão num abrir e fechar de olhos com a partida do Costa para Lourenço Marques, importa observar como vão os conformistas conformar-se com a grande oportunidade perdida, como pune a A. a ausência de ambição e de pragmatismo de quem tem da viagem uma noção à Júlio Verne, um conceito de aventura à Salgari ou um apego à solidão à Robinson Crusoe.
Nas alusões a Àfrica, há a sublinhar as que são atribuídas à mulher de Adérito. Numa noite agreste, no (des)conforto do lar, porque era muito friorenta, deixou escapar o desabafo: “Sabes onde eu me sentia feliz? Na África.” Aparentemente tratava-se de contrapor ao frio lisboeta o calor africano, mas a ambiguidade da expressão feliz abre caminho a outras correntes de sentido ou não soubéssemos do que, neste particular, é Maria Judite de Carvalho capaz. Umas linhas à frente, a explicação brota do próprio marido como álibi para ocultar à mulher o convite que acabava de recusar: “Sempre sonhara ser uma senhora, coitada. Uma senhora como ela era capaz de ambicionar. Com muitos chapéus, muitos vestidos e muitos bolos para oferecer às visitas. Mulher dum gerente numa cidade colonial… Nunca lhe perdoaria, claro.” Onde ela se sentiria feliz seria em África mas porque a África lhe proporcionaria a ascensão social que a frieza da capital metropolitana lhe proibia e que um companheiro conformista, amador de “sonhos impossíveis”, contrariara por via da sua passividade agressiva.
Ao chamar a atenção para este conto de Maria Judite de Carvalho presto homenagem à autora, com quem pouco privei em vida – vimo-nos umas três vezes – mas que muito admiro pela alta qualidade da sua escrita e pela invulgar capacidade de criar tipos, identificar situações e denunciar crises de personalidade no seu cerne que repercutem, naturalmente, nas crises de identidade do colectivo na medida em que condicionam os padrões de comportamento da sociedade. Mas pretendo acima de tudo sublinhar os retratos magníficos que a autora, neste conto, nos proporciona do cinzentismo da vida lisboeta em finais de cinquenta, da conformação de um extracto social maioritário a rituais citadinos como os de Adérito (aos domingos vestir o melhor fato, pôr a gravata do dia dos anos, ir com a mulher à missa a S. Domingos e aos sábados ao cinema do bairro), da noção generalizada que as pessoas tinham do eldorado das colónias, do papel da mulher na vida do casal, praticamente invisível, e da ideia de introduzir a metáfora da Viagem como elemento central à angústia dos que ficam e à dinâmica de mudança dos que resolvem arriscar.
*Da comunicação apresentada no Simpósio subordinado ao tema A Viagem, organizado em 2006 na Escola Portuguesa de Moçambique.
** paquete: miúdo que fazia os recados no escritório
***Ao sabor da escrita, 2001

SÉTIMO ENCONTRO TRIPLOV NA QUINTA DO FRADE
Casa das Monjas Dominicanas . Lumiar . Lisboa
17 de Novembro de 2018

